
Em diferentes contextos, com propostas distintas e visões diversas sobre o papel do Estado, os últimos quatro governadores com mandatos concluídos no Rio Grande do Sul – Germano Rigotto (MDB), Yeda Crusius (PSDB), Tarso Genro (PT) e José Ivo Sartori – finalizaram suas gestões com algo em comum: contas no vermelho, despesas crescentes e reduzida capacidade de investimentos. Crônicos na história das finanças do Rio Grande do Sul, os problemas persistem e desafiam o novo inquilino do Palácio Piratini, Eduardo Leite (PSDB).
Em setembro de 2018, reportagem de Zero Hora mostrou a evolução da contabilidade estadual desde 2003, contemplando as administrações de Germano Rigotto (MDB), Yeda Crusius (PSDB) e Tarso Genro (PT). Sartori havia ficado de fora, porque o mandato ainda estava em curso. Agora, a consolidação dos dados da última gestão, publicada no fim de fevereiro no Diário Oficial do Estado, ajuda a traduzir as agruras do período e os desafios de Leite (PSDB), que herdou cofres raspados e uma série de compromissos em atraso, muitos ainda pendentes. A seguir, relembre como cada ex-governador administrou o caixa, desde 2003.
Veja também:

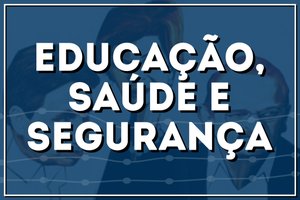
Rigotto e a briga contra a crise

Há 16 anos, Germano Rigotto (MDB) assumiu o governo do Estado anunciando cortes e alertando, em cadeia de rádio e TV, para a "maior crise da história recente do setor público", marcada por cofres raspados, compromissos pendentes e despesas cada vez mais rígidas.
— Esse quadro nos preocupa, mas não nos desencoraja — disse o então governador, no pronunciamento oficial.
O cenário mostrou-se pior do que o projetado. Com a economia abalada por estiagens e safras frustradas, a gestão acabaria atolada em dificuldades do início ao fim. Em busca de alternativas, Rigotto foi o primeiro a usar os depósitos judiciais (verbas de pessoas e empresas em litígio na Justiça) e a pagar o 13º dos servidores via empréstimo do Banrisul. Pressionou pela renegociação da dívida com a União e pelos ressarcimentos da Lei Kandir (que isenta de ICMS produtos destinados à exportação), sem atingir os resultados esperados.
Em fevereiro de 2004, Rigotto atrasou a folha de pagamento e, em dezembro, apelou para aumento de ICMS. No ano seguinte, o Estado amargou queda de 2,7% no PIB. Embora o governo tenha conseguido acumular superávit primário (espécie de poupança para pagar os juros da dívida), sucumbiu às circunstâncias.
— A gente sempre imagina que pode resolver tudo, mas quando senta na cadeira não é bem assim. Os fatores legais e conjunturais pesam. Já nos primeiros dias de gestão, as contas foram bloqueadas porque havia atraso na dívida. Eu era como aquele tesoureiro que precisa administrar o caixa e não tem dinheiro. Mesmo assim, conseguimos dar continuidade ao ajuste que vinha sendo feito desde o início do Plano Real — diz Paulo Michelucci, secretário da Fazenda à época.
Yeda e a política do déficit zero

Em 2007, Yeda Crusius (PSDB) sucedeu Germano Rigotto (MDB) com o firme propósito de atingir o déficit zero e reequilibrar as contas. O fracasso na tentativa de prorrogar o aumento do ICMS dificultou, mas não impediu o intento.
No primeiro ano de gestão, em meio a grandes embates políticos e a duras críticas do funcionalismo, a folha passou a ser parcelada, o pagamento de fornecedores atrasou por 13 meses, os depósitos judiciais continuaram sendo sacados e o 13º salário voltou a ser pago com empréstimo.
Para debelar a crise, o governo ampliou cortes, congelou contratações, segurou reajustes enquanto pôde, proibiu gastos ordinários por cem dias. Abriu o capital do Banrisul e, ajudado pelo bom momento da economia, com o PIB gaúcho crescendo 6,1%, elevou receitas. Resultado: fechou o ano no azul.
— Desde o início, partimos da premissa de que a despesa corrente tinha de caber na receita corrente, sem subterfúgios. Foi o que fizemos — lembra Aod Cunha, titular da Fazenda até janeiro de 2009.
A folha voltou a ser paga em dia, assim como o 13º salário, e Yeda assinou contrato com o Banco Mundial para reestruturar parte da dívida. Em 2008 e 2009, o equilíbrio se manteve, mas, no ano seguinte, a situação mudou outra vez. Embora o governo tenha deixado dinheiro no caixa único e registrado superávit primário ao final dos quatro anos, em 2010 – ano eleitoral marcado por fortes pressões – as despesas executadas voltaram a superar as receitas realizadas, com resultado orçamentário negativo. A política do déficit zero acabou ficando pelo caminho.
— O grande problema foi não termos conseguido apoio para aprovar a lei de responsabilidade fiscal estadual em 2008. Para manter o ajuste, a sociedade precisa estar convencida disso. Infelizmente, não enxergou esse valor — conclui Aod.
Tarso e a meta do Estado forte

Em 2011, Tarso Genro (PT) substituiu Yeda Crusius (PSDB) com a meta de recuperar as funções do Estado – que, na avaliação dele, haviam se deteriorado sob o jugo do rigor fiscal. Isso incluiria recompor os salários defasados dos servidores.
— Era preciso retomar as estruturas públicas e potencializar o funcionalismo, que estava muito desmotivado — diz Odir Tonollier, então secretário da Fazenda.
Ficou decidido que não se falaria em crise. A equipe buscaria saídas para ampliar receitas (sem elevar ICMS), para fazer o Rio Grande crescer no ritmo do Brasil e para revisar o contrato da dívida.
Ao longo do mandato, Tarso encaminhou a renegociação do passivo (concluída em 2017, por Sartori), usou o que restava da margem de endividamento para novos financiamentos e conseguiu, de fato, elevar as receitas. Só que as despesas cresceram mais, em praticamente todas as áreas (inclusive saúde, educação e segurança), com uma série de reajustes salariais, parte deles escalonada até 2018.
De 2011 a 2013, registrou superávit primário, mas gastou mais do que arrecadou nos quatro anos. Para não parcelar a folha, sacou depósitos judiciais até o limite e deixou contas em atraso.
Tonollier defende o governo e atribui o desequilíbrio financeiro a imprevistos, em especial a explosão de precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs), decorrente de reajustes salariais concedidos e não pagos na gestão de Antônio Britto (então MDB, de 1995 a 1998). Isso se refletiu em sequestros judiciais de valores, sobre os quais não havia controle.
— Não fosse isso, a situação seria diferente. O nosso déficit foi igual ao valor que tivemos de desembolsar por causa do passivo das leis Britto — afirma.
Sartori e a recessão histórica

Sob os efeitos da mais grave recessão da história recente do país, o governo de José Ivo Sartori (MDB) chegou ao fim com R$ 2,74 bilhões de déficit orçamentário (despesas acima das receitas) em 2018. O resultado foi o segundo pior dos últimos 16 anos, atrás apenas do rombo de 2015, também na gestão do ex-prefeito de Caxias do Sul, que assumiu cortando diárias, horas extras, passagens, nomeações.
Ao longo de sua administração, Sartori adotou uma política de austeridade, criou a previdência complementar, elevou a alíquota de contribuição do funcionalismo, sancionou a lei de responsabilidade fiscal estadual, concluiu a renegociação da dívida, iniciada por Tarso, extinguiu órgãos. Nada disso foi suficiente para aplacar o agravamento da crise.
Os gastos seguiram crescendo mais do que a arrecadação. Reajustes salariais aprovados por Tarso para valorizar a área da segurança pública, com reflexos até 2018, exigiram malabarismos fiscais.
Sob protestos de servidores e críticas da oposição, o primeiro parcelamento da folha de pagamento do Executivo foi anunciado em meados de 2015, em meio a sucessivos bloqueios nas contas públicas.

— Foi muito difícil. No início, as pessoas não acreditavam que o bicho era tão feio, mas faltava dinheiro para tudo. Imagina dizer que não daria para pagar os salários de 350 mil pessoas? Foi desgastante, brutal — recorda o então secretário da Fazenda, Giovani Feltes, reeleito deputado federal pelo MDB.
Em 2016, o tarifaço no ICMS e a adoção de medidas extraordinárias (como a venda da folha ao Banrisul) colaboraram para reduzir o abismo contábil. O déficit caiu e a gestão registrou superávit primário (espécie de poupança para pagar juros da dívida), mas a agonia continuou: os contracheques foram pagos em dia apenas no mês de janeiro. Depois disso, nunca mais.

No ano seguinte, o Piratini chegou a anunciar a venda de ações do Banrisul, mas acabou recuando para não ter prejuízo frente ao mau humor do mercado – a operação só seria efetivada em 2018, com volume menor de papéis. Sartori, então, passaria a apostar tudo no regime de recuperação fiscal, que prometia fôlego na dívida e novos financiamentos.
Enquanto negociava com os técnicos federais, o governo decidiu recorrer à Justiça para parar de pagar a conta bilionária com a União. A liminar favorável no Supremo Tribunal Federal – que segue valendo – foi comemorada nos salões do Piratini, mas azedou as relações com a Secretaria do Tesouro Nacional, que já iam mal.
Em reuniões cada vez mais duras em Brasília, o governo viu ruir, em setembro de 2018, a chance de fechar o pré-acordo para aderir ao programa de ajuste federal. Sem meias palavras, o então ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, exigiu a venda do Banrisul para concretizar o negócio. Em plena campanha eleitoral, Sartori apontava o plano de recuperação como única saída para a crise, mas o ultimato sepultou qualquer pretensão.

— Foi um momento bastante tenso. O governador já tinha deixado claro que não venderia o banco. Isso estava fora de cogitação — relembra Luiz Antônio Bins, sucessor de Feltes na Fazenda.
Em dezembro passado, prestes a entregar o cargo, Sartori autorizou Bins a adotar ações emergenciais para reforçar o caixa e atenuar o rombo – incluindo a antecipação de impostos que só entrariam em janeiro, já na administração de Leite. Como resultado, a receita cresceu. Ainda assim, Leite tomou posse com parte da folha de dezembro em aberto, o 13º parcelado e um passivo próximo de R$ 1 bilhão só na Saúde.
O desfecho teria sido diferente, argumentam Feltes e Bins, se a conjuntura econômica tivesse ajudado. Eles também fazem a ressalva de que o cálculo do déficit orçamentário inclui valores não pagos da dívida com a União (os repasses estão suspensos desde julho de 2017 devido à liminar obtida na Justiça, mas continuam sendo empenhados na contabilidade).
— Poderíamos ter chegado ao equilíbrio no fim de 2016 ou início de 2017, mas enfrentamos a maior crise da história republicana do país, que nos tirou R$ 11 bilhões em ICMS. Também arcamos com os reajustes da Segurança, cujo impacto chegou a R$ 8 bilhões. Mesmo assim, o Estado não parou e o resultado foi melhor do que havíamos projetado no início do governo, se nada tivesse sido feito — diz Bins.






