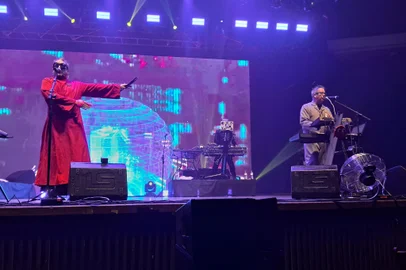Estrela do momento na pele da protagonista de Barbie (2023), um sucesso de crítica que se encaminha para arrecadar US$ 1 bilhão nas bilheterias, Margot Robbie tem a habilidade de transitar da comédia ao drama, não raro no mesmo papel, como demonstrou em Eu, Tonya (2017), filme disponível na Netflix pelo qual a australiana de 33 anos concorreu ao Oscar de melhor atriz.
Foi sua primeira indicação ao troféu da Academia de Hollywood. Depois, ela competiu na categoria de coadjuvante por O Escândalo (2019, em cartaz no canal Telecine do Amazon Prime Video e do Globoplay), interpretando uma jovem produtora assediada por um chefão do canal Fox News. Robbie merecia ter disputado de novo a estatueta dourada de melhor atriz por Babilônia (2022, no Paramount+ e no Telecine), que pelo menos valeu sua presença nas listas do Globo de Ouro, do SAG Awards (do Sindicato dos Atores dos EUA) e do Critics' Choice. Seu nome também foi lembrado nas principais premiações, como o Bafta, da Academia Britânica, pelos papéis em Duas Rainhas (2018, Lionsgate+) e Era uma Vez em... Hollywood (2019, Lionsgate+). E seu currículo inclui a Arlequina de Arlequina e as Aves de Rapina (2020) e das aventuras do Esquadrão Suicida (2016 e 2021), três títulos disponíveis na HBO Max.
Também australiano, o diretor de Eu, Tonya, Craig Gillespie, vem se especializando em reconstituir histórias rumorosas e reabilitar vilãs — ou pelo menos mulheres vistas com maus olhos. Depois do filme em que Margot Robbie interpretou a patinadora Tonya Harding, protagonista de um dos maiores escândalos do esporte olímpico, ele fez Cruella (2021), no qual a personagem da Disney que almejava matar 99 filhotes de dálmatas só para produzir um casaco de pele se torna anti-heroína, e assinou três episódios de Pam & Tommy (2022), minissérie sobre o célebre vazamento de um vídeo de sexo estrelado pelo roqueiro Tommy Lee e pela atriz e modelo Pamela Anderson — que, em um ambiente e uma época mais machista e moralista, passou de queridinha de Hollywood a pária e alvo do deboche.

Em Eu, Tonya, Gillespie faz uma versão assumidamente descomprometida com o que se poderia chamar de verdade — e isso torna ainda mais fascinante o filme baseado no caso Tonya Harding-Nancy Kerrigan.
Como foi um caso bastante rumoroso, com plena cobertura da mídia e com desdobramentos na cultura pop — Tonya virou personagem de quadros em programas de humor na TV e de músicas dos rappers Lil' Kim e Lil Wayne, por exemplo —, um pouco de spoiler será permitido neste texto. Até porque o filme dialoga melhor com o espectador familiarizado com o episódio ocorrido em janeiro de 1994.

Estrela da equipe que os Estados Unidos levaria ao Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, na Noruega, a patinadora Nancy Kerrigan, 24 anos, foi encurralada no corredor de um ginásio por um homem, que desferiu em sua perna um golpe com um cassetete retrátil. A intenção era quebrar o joelho da atleta. Nancy foi filmada caída no chão, perguntando repetidamente "por quê?" aos que a socorriam.
Não demorou para que a polícia descobrisse o envolvimento do marido de Tonya Harding, rival de Nancy no time de patinação. A dúvida era saber o tamanho da participação de Tonya, 23 anos, na agressão.
Dúvidas, especulações e desmentidos são a matéria-prima do roteiro escrito por Steven Rogers e para a edição assinada por Tatiana S. Riegel, indicada ao Oscar. Um letreiro no início do filme avisa: "Baseado em entrevistas sem ironia, totalmente contraditórias e totalmente verdadeiras". A partir daí, Craig Gillespie apresenta um falso documentário, em que alguns dos principais personagens do caso dão seus depoimentos, cada um com sua versão.

A caracterização do elenco é fantástica, como mostrarão as cenas dos créditos com as pessoas reais. Além de Tonya, vivida com gana e nuances por Margot Robbie, temos Jeff Gillooly, seu marido (interpretado por Sebastian Stan, o Soldado Invernal da Marvel); LaVona, a mãe da patinadora (Allison Janney, premiada com o Oscar de melhor atriz coadjuvante); Diane Rawlinson, treinadora (Julianne Nicholson, da minissérie Mare of Easttown); o repórter Martin Maddox (Bobby Canavale); e Shawn, amigo de Jeff e suposto segurança da atleta (o singular Paul Walter Hauser, que depois faria um filme com alguma similaridade: O Caso Richard Jewell, de Clint Eastwood). Encarnada por Caitlin Carver, Nancy Kerrigan quase não aparece — afinal, como diz o título, esse é o filme de Tonya Harding.
Os depoimentos são intercalados por longos flashbacks, em que, por vezes, os personagens quebram a quarta parede, falando diretamente ao espectador. Embaladas por uma trilha sonora cheia de joias escolhidas a dedo (Devil Woman, de Cliff Richard, Romeo and Juliet, do Dire Straits, Goodbye Stranger, do Supertramp, Barracuda, do Heart, Gone, Daddy Gone, do Violent Femmes, Free your Mind, do En Vogue), com letras que comentam ou acentuam o que estamos vendo, essas cenas nos levam a desenvolver empatia por Tonya. Ela tem de lidar com uma mãe fria, dominadora e não raro agressiva, um marido violento e a pressão em um esporte — e em uma sociedade — em que a embalagem pode ser mais valorizada do que o conteúdo (e a patinadora foi a primeira estadunidense a conseguir fazer, durante uma competição, o difícil triplo axel, um salto com três giros).
Não quer dizer que o filme faça de Tonya Harding uma heroína, mas, pela voz de sua protagonista, joga na nossa cara que "Não existe isso de verdade. Cada um tem a sua própria verdade".