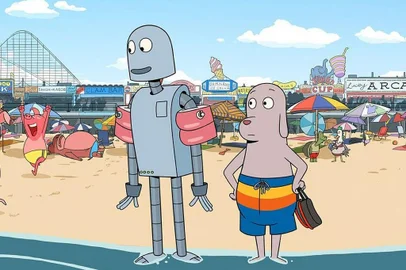Till: A Busca por Justiça (Till, 2022), que estreia nesta quinta-feira (9) no Cinemark Barra, no Espaço Bourbon Country, no GNC Iguatemi e no GNC Moinhos, completa uma trilogia de filmes sobre racismo, escravidão, exclusão e violência contra a população negra que foram solenemente ignorados no Oscar. Assim como aconteceu com Não! Não Olhe!, de Jordan Peele, e A Mulher Rei, de Gina Prince-Bythewood, o longa-metragem dirigido pela nigeriana-estadunidense Chinoye Chukwu não recebeu nenhuma indicação ao prêmio da Academia de Hollywood, a ser entregue em 12 de março. Mas talvez seja o mais injustiçado entre os três, a começar pela lamentável e até inexplicável ausência de Danielle Deadwyler na lista de concorrentes a melhor atriz.
Vista anteriormente no faroeste Vingança e Castigo (2021) e na minissérie Station Eleven (2022), Deadwyler, 39 anos, tinha credenciais para sonhar com a estatueta dourada. Por Till, já havia vencido o prêmio Gotham (destinado a produções independentes, com teto de US$ 35 milhões no orçamento) e recebido da National Board of Review (uma organização de críticos criada em 1909, em Nova York) o troféu de breakthrough performance — revelação, em uma tradução inexata. Ela também competiu no Critics' Choice (que congrega a imprensa de rádio, TV e internet dos Estados Unidos e do Canadá) e disputa o Bafta (da Academia Britânica) e o SAG Awards (do Sindicato dos Atores dos EUA).
Mas Deadwyler acabou ficando fora da briga pelo Oscar. Talvez por causa do fator Andrea Riseborough, que concorre por To Leslie graças a uma polêmica campanha de marketing digital, talvez pelo velho racismo estrutural de Hollywood — não deve ser por acaso que, nas 94 edições anteriores, apenas uma vez uma artista negra foi premiada como melhor atriz (Halle Berry, em 2002, por A Última Ceia); e que, entre as 105 indicadas de 2003 para cá, somente sete foram negras: Gabourey Sidibe (Preciosa, em 2010), Viola Davis (Histórias Cruzadas, 2012), Quevenzhané Wallis (Indomável Sonhadora, 2013), Ruth Negga (Loving, 2017), Cynthia Erivo (Harriet, 2020), Andra Day (Estados Unidos vs Billie Holiday, 2021) e de novo Viola Davis (A Voz Suprema do Blues, 2021). Às mulheres negras, parece só haver lugar de coadjuvante: no total, oito já ganharam a categoria.

Em Till (que traz no elenco, em pequena participação, uma dessas oscarizadas, Whoopi Goldberg), Deadwyler interpreta uma personagem histórica: Mamie Till-Mobley (1921-2003), que se tornou uma ativista dos direitos civis para os afro-americanos após a morte por linchamento de seu único filho, Emmett, 14 anos. O filme foi dirigido e coescrito por Chikwu, 37 anos, que traz no currículo o semiautobiográfico alaskaLand (2012) e Clemência (2019), um drama ambientado no corredor da morte e estrelado por dois atores negros: Alfre Woodard (no papel da diretora da penitenciária) e Aldis Hodge (o próximo prisioneiro a ser executado).
A trama de Till começa na Chicago de agosto de 1955. Viúva de um soldado morto na Segunda Guerra Mundial e namorada do barbeiro Gene (Sean Patrick Thomas), funcionária de um escritório da Força Aérea e dona de um bom carro e de uma boa casa, Mamie — então ainda usando o sobrenome Till-Bradley — está aflita porque Emmett (Jalyn Hall) vai passar as férias com os primos, no interior do Mississippi. É como se a viagem de trem fosse levar o garoto para outro mundo.
E é exatamente isso. Embora depare com racistas em Chicago, Mamie sabe que nos Estados do sul, como o Mississippi, ser negro é um risco. No mínimo, será desprezado e desrespeitado pelos brancos. Por um lado, a mãe não quer que Emmett "se veja do jeito que somos vistos por lá". Por outro, preocupa-se que o temperamento alegre e expansivo do filho possa lhe trazer problemas.
— Tome um cuidado extra com os brancos — ela orienta. — Seja pequeno lá.

Emmett e o espectador vão se aclimatando já na viagem de trem: no meio do percurso, os passageiros negros devem abandonar os assentos nos quais embarcaram e se dirigir para um vagão de trás. Entrementes, notícias de rádio e TV fornecem o contexto histórico. No mesmo ano de 1955, no mesmo Mississippi, foram assassinados George Washington Lee e Lamar Smith, que trabalhavam para registrar cidadãos negros como eleitores. Na ambientação, também merecem destaque o design de produção e os figurinos — estes, assinados por Marci Rodgers, de Infiltrado na Klan (2018), Identidade (2021) e Nem um Passo em Falso (2021).
Nesse lugar, qualquer fagulha pode acender um incêndio. No caso de Emmett, foi um assobio.
A partir daí, Till se torna, simultaneamente, um show de horrores e um espetáculo artístico. A revolta e a dor compartilham o espaço com a bela atuação de Danielle Deadwyler, que é sublinhada pela música composta pelo polonês Abel Korzeniowski (do filme Animais Noturnos e da série Penny Dreadful), ora grave, ora emotiva.
Na pele de Mamie, a atriz experiencia todos os estágios do luto de uma mãe que sabe o quanto seu filho sofreu (a cena no necrotério é fortíssima) — um luto que vai transformar em luta. Inicialmente, somente na esfera pessoal, rechaçando a tentativa de advogados e políticos de aproveitar a oportunidade para um pleito coletivo. Depois, ao deparar com "o ódio que corre como vírus no sangue dos brancos do Mississippi", com a hipocrisia e com a impunidade, mas também com a solidariedade e com o apoio da comunidade negra, a protagonista entende: a batalha de um é a batalha de todos. Só a união pode proteger a minoria (negros representam cerca de 30% da população estadunidense) em um país onde, como mostram os letreiros no final de Till, apenas em 2022 — 67 anos após a morte de Emmett e mais de um século depois das primeiras tentativas — foi promulgada a lei que torna o linchamento um crime de ódio em âmbito federal.
Assim disse o presidente Joe Biden em 29 de março do ano passado, ao assinar o Emmett Till Antilynching Act: "O linchamento é uma prática de puro terror, para impor a mentira de que nem todos pertencem à América, nem todos são criados iguais. A lei não é apenas sobre o passado. É sobre o presente e nosso futuro também. Das balas nas costas de Ahmaud Arbery (homem negro morto por três sujeitos brancos em 2020) a inúmeros outros atos de violência, inúmeras vítimas conhecidas e desconhecidas. O ódio racial não é um problema antigo, é um problema persistente. O ódio nunca vai embora. Ele apenas se esconde. Dando apenas um pouco de oxigênio, ele volta rugindo, gritando. O que o impede somos nós, todos nós temos que pará-lo".