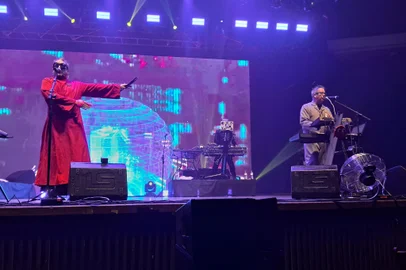Lançado na quinta-feira (11) pela Netflix, 7 Prisioneiros (2021) logo se tornou um dos filmes mais assistidos no streaming e tema de uma enorme polarização em um grupo do Facebook que reúne cerca de 550 mil usuários brasileiros da plataforma. Muitos aplaudem o longa sobre trabalho escravo e tráfico humano dirigido com maturidade pelo jovem Alexandre Moratto, 33 anos, e ancorado pelas ótimas interpretações de Christian Malheiros, 22, e Rodrigo Santoro, 46.
Esses participantes fazem coro aos elogios de publicações dos Estados Unidos: "Em vez de ser um simples exame de um problema social, escava a violência enraizada e generalizada que afeta todos que vivem sob hierarquias de poder", escreveu a crítica Isabelia Herrera no The New York Times. "O conciso foguete de Moratto é direto em seus golpes de esmagamento da alma e uma peça essencial do cinema social-realista de nossos tempos", disse Carlos Aguilar no The Wrap. "A sobrevivência é mais fácil de dizer do que fazer, e 7 Prisioneiros é um thriller que nos maravilha com a fragilidade humana", pontuou Roxana Hadadi no RogerEbert.com.
Outros tantos integrantes do grupo estão manifestando uma ojeriza que é — perfeitamente ou infelizmente — explicável. Pincei sete comentários eloquentes que merecem uma réplica e que denotam os principais motivos para o descontentamento: preconceito, desprezo, fuga da realidade, incapacidade de lidar com a frustração e visão do cinema não como obra de arte, mas como produto de consumo.
"Brasil só faz filme para ganhar aplauso de crítica metida a intelectual, por isso a maioria é fracasso de público."
Não, atualmente o Brasil faz filme de todos os tipos, inclusive para serem sucesso de público, como evidenciam as comédias Minha Mãe É uma Peça 3 (2019), com 11,6 milhões de espectadores, e Minha Vida em Marte (2018), com 5,3 milhões. Na verdade, a indústria cinematográfica nacional apenas espelha a de outros grandes países, com diversificação de gêneros e expectativas diferenciadas. E mesmo obras com forte teor político têm retorno nas bilheterias: Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora É Outro (2010) vendeu 11,1 milhões de ingressos, Bacurau (2019) ficou mais de 10 semanas em cartaz, e Marighella (2019), que estreou em 4 de novembro, já é a produção brasileira mais assistida desde o início da pandemia.
"Desde quando filme brasileiro é bom!?"
Desde Limite (1931), de Mário Peixoto, talvez? Ou quem sabe desde O Pagador de Promessas (1962), de Anselmo Duarte, que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes? Vão dizer que o diretor era argentino de nascença, que tinha coprodução estadunidense e que o elenco contava com um ator de Hollywood (William Hurt) e um porto-riquenho (Raúl Julia), mas O Beijo da Mulher-Aranha (1985), de Héctor Babenco, é um filme brasileiro que disputou a principal categoria do Oscar. Falando em Oscar, que tal Central do Brasil (1998), que valeu a Fernanda Montenegro a primeira indicação latino-americana à estatueta de melhor atriz e a única para uma interpretação em português? E como esquecer de Cidade de Deus (2002), que concorreu aos prêmios de melhor direção (Fernando Meirelles), roteiro adaptado, fotografia e montagem?
A propósito: 7 Prisioneiros ganhou no Festival de Veneza, em setembro, a categoria de longa estrangeiro da mostra paralela Sorriso Diverso, dedicada a obras com temática social que valorizem a diversidade.

"Estou pensando como um ator talentoso Rodrigo Santoro se sujeita a fazer essa porcaria."
Embora tenha seguido uma carreira hollywoodiana, Santoro traz no currículo alguns filmes que lidam com temas duros do Brasil, como 7 Prisioneiros, ou que têm personagens controversos, como o que interpreta no longa de Moratto. Um exemplo é Carandiru (2003), que reencena o massacre ocorrido em 1992 na então maior penitenciária da América Latina, quando policiais militares de São Paulo mataram 111 detentos (o ator encarnou a travesti Lady Di). Outro é Abril Despedaçado (2001), que, apesar de ser baseado em um romance albanês, faz um retrato dos crônicos problemas nordestinos: seca, fome, latifúndios, desesperança etc. Em Bicho de Sete Cabeças (2000), que é baseado em relato autobiográfico de Austregésilo Carrano Bueno, os abusos cometidos contra dependentes químicos internados em hospitais psiquiátricos são o alvo. E vale citar a cinebiografia Heleno (2011), sobre o boêmio e destemperado craque do Botafogo Heleno de Freitas (1920-1959), morto em decorrência da sífilis.
Além do tema, a parceria deve ter contado pontos para o embarque de Santoro no projeto. 7 Prisioneiros é o segundo longa-metragem de Moratto, um brasileiro criado nos Estados Unidos. Com o primeiro, Sócrates (2018), sobre um adolescente que precisa tentar sobreviver sozinho em São Paulo, enfrentando o luto, a miséria, a violência e o preconceito racial e sexual, ele ganhou o troféu Someone to Watch (alguém para ser observado) no Independent Spirit Awards, a premiação estadunidense voltada a produções independentes.
No novo filme, o diretor retoma a colaboração com a roteirista Thayná Mantesso, com o diretor de fotografia João Gabriel de Queiroz e com o ator Christian Malheiros, que faz o protagonista. Na produção, Moratto tem ao lado dois nomes que emprestam prestígio: Fernando Meirelles, cineasta de Cidade de Deus (2002) e de Dois Papas (2019), e Ramin Bahrani, indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado por O Tigre Branco (2021), um parente de 7 Prisioneiros — também aborda a precarização do trabalho e o processo desumanizante imposto pela lógica capitalista. Ambos os filmes dizem: subir na vida, nem que seja um mísero degrauzinho, requer pisar nos ombros de alguém.

"Comecei a assistir e desisti. Impressionante como nosso cinema só tem pobreza, criminalidade, desgraça, droga e sofrimento. Somos mais do que isso!" / "Sofrimento já basta o que a vida nos oferece, gratuitamente."
7 Prisioneiros retrata uma realidade brasileira (e não só brasileira, como visto, por exemplo, no filme argentino O Patrão: Radiografia de um Crime e no documentário estadunidense The True Cost). Em 2019, 1.054 pessoas foram resgatadas de situações análogas a trabalho escravo, resultado da fiscalização de 267 estabelecimentos pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Em 2020, 266 ações salvaram 942 trabalhadores. Segundo análise de dados registrados entre 2016 e 2018, 82% das vítimas são pretos e pardos.
Na ficção, são pretos ou pardos três dos quatro jovens recrutados na região de Catanduva, no interior de São Paulo, para trabalhar em um ferro-velho da capital paulista. Mateus (Christian Malheiros), o personagem principal, estudou até o oitavo ano e logo passa a questionar o patrão, Luca (Rodrigo Santoro), sobre direitos trabalhistas — e Luca logo revela o inferno em que a turma se meteu. Samuel (Bruno Rocha), que sonha em casar com a namorada, acha que o melhor é baixar a cabeça e fazer o serviço, confiando que ao final serão pagos. Isaque (Lucas Oranmian) em breve vai se revoltar. Completa o quarteto o analfabeto Ezequiel (Vitor Julian).

Enquanto acompanha a dinâmica e a transformação das relações no ferro-velho — um cenário que exala autenticidade e degradação, assinado por William Valduga, formado em Realização Audiovisual pela Unisinos e responsável pelo design de produção de Aos Olhos de Ernesto (2019) —, Alexandre Moratto também demonstra como um lugar desses não é isolado: está inserido em uma cadeia econômica. A chamada escravidão moderna só prospera porque há anuência, incentivo, corrupção ou, no mínimo, hipocrisia. Envolve o empresariado, políticos, agentes públicos e, claro, o consumidor.
A certa altura, dentro de um carro que se desloca pelas ruas de São Paulo, Mateus pergunta a Luca sobre um grupo de estrangeiros forçados a trabalhar: como eles chegaram aqui?
— Avião, ônibus, navio. Igual a tudo que a gente compra — responde o patrão.
— Tem muitos?
— Suficiente para manter a cidade em pé — devolve Luca, logo em seguida apontando para o céu: — Aquele fio de cobre veio lá do ferro-velho. Aí! Olha o teu trabalho aí na cidade.
É possível que uma parcela dos espectadores, por culpa, vergonha ou algo pior, não goste de ser confrontada com esse espelho.
"Muito ruim, péssimo, horrível o final." / "Eu só queria entender por que filme brasileiro tem final sem pé nem cabeça."
Sem dar spoilers, pode-se dizer que há duas queixas quanto ao desfecho de 7 Prisioneiros. A primeira, como apontou um integrante do próprio grupo de usuários da Netflix, está ligada à noção de cinema como puro entretenimento — "A realidade está gritando no filme, mas as pessoas insistem em querer um roteiro romantizado", ele escreveu. Redenção, vingança e justiça são conceitos que talvez tenham sido difundidos demais pela fábrica de ilusões de Hollywood. Moratto, por sua vez, enfatiza como os oprimidos podem ser contaminados pelo sistema de opressão.
A outra queixa parece estar ligada à última cena, que deixa em suspenso o destino dos personagens.
Finais em aberto não são exclusividade do cinema brasileiro, nem as reclamações são exclusivas do público brasileiro. A história em quadrinhos A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da sueca Liv Strömquist, foca em nos relacionamentos amorosos contemporâneos, mas também ajuda a entender o comportamento dos espectadores de filmes.
Na obra lançada neste ano pela Quadrinhos na Cia., com tradução de Kristin Lee Garrubo, a autora discorre sobre por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Dosando leveza e profundidade, citando filósofos como o esloveno Slavoj Zizek e o sul-coreano Byung-Chul Han e astros como Beyoncé e Leonardo DiCaprio, Strömquist mostra como a sensação do fall in love (literalmente, cair no amor) vem sendo substituída por uma visão consumista. A racionalidade subjuga o romantismo, escolhemos uma pessoa como se fosse uma mercadoria: queremos que ela venha sem defeitos. Rejeitamos surpresas e incertezas.
Segundo Strömquist e os autores referenciados em A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, o narcisismo extremo da sociedade capitalista e da era das redes sociais provocou o desaparecimento do outro. Não buscamos o outro propriamente dito, mas "espelhos que confirmam o sujeito narcisista em seu ego". Ou seja, evitamos o diferente e assistimos a mais do mesmo; nos aboletamos em uma zona de conforto em vez de nos permitirmos mergulhar no desconhecido para encontrar aquilo que o pensador francês Roland Barthes definiu como "inclassificável, de uma originalidade sempre imprevista" — lembrem o que todos dizem quando estão apaixonados, como aponta a autora sueca: "Ele é único!" "Não há ninguém como ela!" "Você é a única pessoa do mundo para mim!".
No âmbito cinematográfico, isso tudo se reflete na quantidade de sites e canais no YouTube que se dedicam a explicar o final de um filme. Geralmente, ocorre com títulos de suspense, terror ou ficção científica, mas também vale para romances cerebrais, como Estou Pensando em Acabar com Tudo — e já há matérias do tipo para um drama de crítica social como 7 Prisioneiros. Se existe oferta, é porque existe demanda: uma parcela considerável do público age como se estivesse comprando um sofá, e não apreciando uma obra de arte. Não tolera a multiplicidade de interpretações — que, no terreno dos relacionamentos, equivale à força estranha e misteriosa do amor, capaz de nos tirar o chão (olha o "fall in love" aí). Não aceita supostas imperfeições — que, no seu somatório, conferem características únicas a um filme.