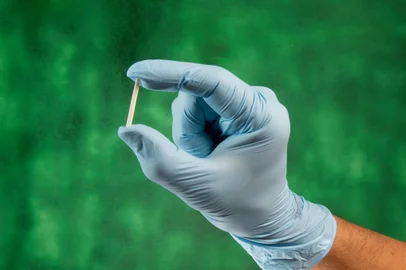A última vez em que se viram foi no mesmo local onde se conheceram. Técnicos em enfermagem do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, Tania Mara Silva, 52 anos, e Abel da Cruz Neto, 61, despediram-se na entrada da Emergência, em 23 de abril do ano passado. Depois de duas semanas em casa com sintomas gripais, ele precisou ser internado.
– Amor, acredita que vai dar certo. Eu luto daqui e você luta daí – pediu Abel ao ser levado para o interior do prédio em uma cadeira de rodas.
Seguiram-se semanas de angústia para Tania, também com diagnóstico positivo para a covid-19, à espera dos telefonemas diários da equipe que assistia o marido. Os informes pouco variavam: o quadro, grave, persistia. Com sério comprometimento respiratório, Abel, sedado, dependia de um ventilador mecânico no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).
– Nunca pensei que ele não fosse sair. Mas aí os dias foram passando... E ele não melhorava – recorda Tania.
Não foi o primeiro casamento nem de um, nem de outro, ambos já com filhos. Juntos havia 15 anos, residiam em Alvorada. Compartilhavam o gosto por ouvir samba e pagode, dançar, viajar, tomar chimarrão no Brique da Redenção aos domingos.
– Vivíamos a vida como se fosse o último dia. Vivíamos mesmo. Vivemos tudo o que pudemos. Fomos muito felizes. Foi o amor mais lindo que vivi. Meu preto, meu rei. Sabe a outra metade da laranja?
Abel morreu em 5 de junho de 2020. Foi o segundo profissional de saúde vitimado pela doença no Rio Grande do Sul. “O sentido pesar do Grupo Hospitalar Conceição à família enlutada, aos amigos e aos colegas pela lamentável perda”, divulgou a diretoria em nota, consternada com a morte do colaborador que somava mais de três décadas de serviços prestados à instituição. No velório de duas horas, Tania, em choque diante do cadáver desfigurado, passou mal e precisou ser acudida.
– Não entendi: por que ele? Por quê? – questionava-se, revoltada.

A viúva teve de encarar a volta ao trabalho, no centro de materiais – onde lava e esteriliza instrumentos e bandejas – e à rotina sem o companheiro, que a conduzia de carro para o trabalho. Enfrentou crises de hipertensão e ansiedade. Bastava uma palavra aleatória para que se afundasse em lembranças e começasse a chorar. Amparou-se nos filhos para se reerguer.
Em março último, no auge da pandemia no Estado, a mãe de Tania, Malse Mari Silva, 71 anos, depois de meses sem compreender direito o porquê do afastamento da filha e da transformação das visitas em videochamadas, não resistiu a complicações da infecção por coronavírus. A técnica, primeiramente, inconformou-se por ser empurrada para o drama da mesma doença outra vez, mas logo tentou encontrar sentido no contexto da pandemia:
– Se Deus está me dando esse fardo, é porque posso carregar. Estamos vivendo uma guerra.
Deus precisa de pessoas boas, assim como meu marido e minha mãe. Então, eles estão lá, ajudando a combater, a nos fortalecer contra esse bicho que está nos corroendo.
O colapso do sistema de saúde também levou ao limite – e ao desmoronamento – a estrutura emocional de profissionais da área, muitos já somando um ano sob o peso dos altos indicadores de contaminações, internações e óbitos, que também pressionam os setores de atendimento não covid. Os números dispararam para patamares tão absurdos que atingiram esses trabalhadores de outras formas, para além da tensão e da sobrecarga das jornadas extenuantes: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, higienizadores passaram a contabilizar perdas na esfera pessoal, a exemplo de Tania.
Como na população em geral, também ocorreram, nesse grupo, mortes ou grave adoecimento de familiares, contágio pelo vírus e necessidade de isolamento, a dúvida e a culpa em relação à possível transmissão do vírus para parentes, o horror de múltiplas perdas em um mesmo núcleo, diagnósticos positivos simultâneos, pais e filhos ou maridos e esposas internados na mesma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Como encarar o luto dentro de casa e, na hora do expediente, testemunhar a agonia e a morte de tantos pacientes pelo mesmo motivo?
No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), o Serviço de Medicina Ocupacional registrou, em março de 2021, o maior número de dias de afastamento de colaboradores por motivo de saúde mental em um ano (trata-se do número de atestados individuais multiplicado pela quantidade de dias solicitados para ficar longe do trabalho): 144. Considerando-se os atestados emitidos fora da instituição, somam-se mais 355 dias, recorde desde, pelo menos, julho de 2020, outro período crítico da pandemia no Rio Grande do Sul.
Se Deus está me dando esse fardo, é porque posso carregar. Estamos vivendo uma guerra.
TANIA MARA SILVA
Técnica em enfermagem
Fábio Dantas, médico do trabalho e chefe do Serviço de Medicina Ocupacional do HCPA, acrescenta que março último teve o maior registro de casos de suspeita de covid-19 e também de demandas do trato emocional entre os colaboradores da instituição.
– Profissionais fazendo horas extras, muitos trabalhando em dois ou três hospitais. Além de se sentirem cansados e sobrecarregados, vários perderam entes queridos ou precisaram cuidar de familiares doentes. Em meio a um aumento no número e na gravidade de pacientes críticos, houve muitos afastamentos de colegas com covid-19, gerando ainda mais sobrecarga – enumera Dantas. – Foi o período mais crítico que enfrentamos – define.
Nessa época, a médica intensivista Josi Vidart, 41 anos, decidiu pedir redução de carga horária no HCPA. Atuante em UTIs desde 2008, Josi sempre se sentiu satisfeita com a profissão. Mas, chegada a pandemia, experimentou uma sensação sem precedentes: o temor pela própria integridade física.

Risco de contaminação, medo de transmitir o vírus aos pais, companheiros de equipe adoecendo e morrendo representaram os fatores mais pesados no início da crise sanitária. Teve de lidar com a rejeição manifestada por colegas, que não queriam dividir a sala de descanso com quem estava direto no front dos infectados. Os turnos se tornaram mais longos, evidenciando a falta de profissionais treinados para atuar na medicina intensiva com o ineditismo da covid-19, e o quadro geral dos pacientes também piorou – passaram a ser admitidos doentes em estado mais grave.
Rarearam os contatos com a família, os momentos de lazer, as horas de sono reparador. Habituada a cumprir plantões diurnos e noturnos, a médica nunca havia tido dificuldade para conciliar o sono. A partir de certo ponto, percebeu que o período de descanso não era reparador. Passou a trabalhar 50% a mais em número de horas – e eram horas muito mais intensas. Sem o tempo necessário para pensar sobre casos individuais e discuti-los, Josi entrou em um redemoinho de urgências, sempre “apagando incêndios”, e se deu conta da enormidade do impacto da tragédia, arrasadora em inúmeros aspectos.
– Os profissionais são vistos como heróis. O herói é aquele que tolera o que pessoas normais não toleram. É uma carga fortíssima. Quando as pessoas tentam estimular, dizem: “Espero que você tenha coragem e resiliência”. O que me falta são condições adequadas de trabalho, ter garantia de que meu paciente vai ter um atendimento digno, de que ele está seguro naquele ambiente, com todo o suporte necessário. Com uma equipe sobrecarregada e cansada, aumenta a chance de não conseguir oferecer o adequado. E há coisas muito maiores, que sou incapaz de resolver. Gostaria que as pessoas não precisassem decidir se serão expostas ao vírus ou se passarão fome, e isso surge na conversa com as famílias. São coisas de políticas públicas, que não são da minha competência, e quem acaba tendo que viver com a dor somos nós. Ligo para uma família e falo: “Vocês precisam ficar isolados”. Me dizem: “Moro com mais seis pessoas em um cômodo, não tenho como me isolar. Tenho que sair pra trabalhar e conseguir comida”. Me vi em situações assim – desabafa Josi.
É uma carga fortíssima. O que me falta são condições adequadas de trabalho, ter garantia de que meu paciente vai ter um atendimento digno, com todo o suporte necessário. Com uma equipe sobrecarregada e cansada, aumenta a chance de não conseguir oferecer o adequado. E há coisas que sou incapaz de resolver. Gostaria que as pessoas não precisassem decidir se serão expostas ao vírus ou se passarão fome.
JOSI VIDART
Médica intensivista
A médica buscou ajuda dentro da instituição. A terapia, que já frequentava antes de tudo começar, foi mantida, mas a sensação de forte desgaste permaneceu. Após a defesa do doutorado, no final do segundo semestre, sobrepuseram-se o drama da falta de oxigênio no Amazonas, a carência generalizada de medicações utilizadas em UTIs e, culminando, a hecatombe detonada a partir do final de fevereiro. Josi ainda tentou levar adiante, mas o diagnóstico de burnout era evidente. As 150 horas mensais de trabalho saltaram para até 190, incluindo atividades de ensino e pesquisa. Desde maio, são 120 horas ao mês, dedicadas exclusivamente à assistência – com expectativa de extrapolar para até 150.
– Senti culpa, me debati com isso por meses. Parece que você está abandonando seus colegas. Não deixa de ser um privilégio que nem todo mundo tem. “Ah, você tem que ver a importância do seu trabalho.” Reconheço, tenho propósito, sou grata pela possibilidade de ajudar as pessoas, mas não se pode esperar que eu seja resiliente por mais de um ano. Se os profissionais de saúde não tivessem que lidar com limitação de recursos, ausência de planejamento e falha de gestão, provavelmente eu não estaria optando por reduzir minha carga horária. Sempre gostei muito do que fiz, mas achei que precisaria ter mais foco na minha saúde. Se continuasse me pressionando, chegaria ao ponto de não conseguir mais fazer o que faço. Tive que tomar essa decisão porque sei que atitudes coletivas não vão acontecer a curto prazo. Mesmo depois da vacinação e do vírus controlado, ainda teremos consequências da pandemia: sequelas, doentes crônicos que não receberam atendimento ao longo desse tempo que chegarão em estado mais grave para a gente cuidar, empobrecimento da população e insegurança alimentar, que também vão gerar sobrecarga no sistema de saúde – fala a médica.
Muitos profissionais recorrem a férias ou atestados justificando ausências de poucos dias para não extrapolar o período de duas semanas previsto na legislação, o que os deixaria dependentes do benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foi o caso de uma auxiliar de higienização de um dos maiores hospitais da Capital, que perdeu quatro familiares, entre eles o pai e a avó, entre cerca de 20 parentes, dela e do marido, que testaram positivo para a covid-19 a partir de janeiro. Ela escapou da infecção e, em seguida, foi vacinada, por se enquadrar na categoria dos trabalhadores da saúde. A funcionária recebeu atendimento psiquiátrico e prescrição de medicamentos. Relata frequentes “crises de nervos”. Tentou se suicidar três vezes.
– Tento ser forte, mas isso me abalou muito psicologicamente – justifica ela (que tem aqui sua identidade preservada).
Mesmo vendo pacientes com covid-19 desde o ano passado, a mulher custou a acreditar no perigo do sars-cov-2 – quando entendeu a dimensão do que ocorria, já estava enlutada pelas mortes tão próximas.
– Eu pensava que não era verdade, não acreditava. Achava que eram fake news, que a mídia aumentava muito o número de casos. Comecei a duvidar de que tinha tanta morte. Achei que os pacientes morriam pelas comorbidades. Só que quando aconteceu com a minha família... Meu Deus, era verdade. Era tudo isso mesmo – relembra.
Numa área que recebe pacientes saídos do CTI covid-19, muitos extremamente debilitados depois de longos períodos de internação e de uso de ventilação mecânica, o trabalho da higienizadora consiste em entrar nos quartos, retirar o lixo, limpar o banheiro, passar pano no chão. Ela gosta de puxar conversa com os mais despertos e receptivos. Oferece livros sobre religião e palavras-cruzadas.
– Você teve a segunda chance que os meus familiares não tiveram – revela.