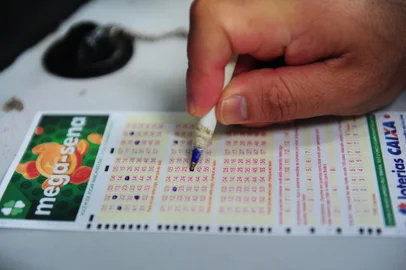Por Edson Souza e Robson Pereira
Psicanalistas, membros da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA)
A Utopia, de Tomas Morus, publicada em 1516, inscreveu no vocabulário da humanidade uma palavra que ao mesmo tempo significa não/lugar (u-topos) e lugar de completa felicidade. Nasceu como um novo gênero literário. Seu relato ficcional abriu caminho para o vírus do sonho, instigou a revolta contra uma realidade que se apresenta como única possível e convocou o desejo na construção de outras lógicas de vida. Morus escreve: "Não renunciamos a salvar o navio na tempestade só porque não saberíamos impedir o vento de soprar".
Os jovens de 1968, dos EUA ao Japão, do México à Tchecoslováquia, do Brasil à França, não sabiam exatamente como parar a ventania da violência de Estado e do autoritarismo que impregnava a vida em todas as suas instâncias, mas queriam salvar o navio da tempestade da discriminação racial, da desigualdade, das ditaduras sangrentas e das guerras insanas como a do Vietnã. O espirito de revolta seguia a indicação de Emil Cioran, em seu ensaio Historia e Utopia, "uma sociedade sem utopias está condenada à esclerose e à ruína". As estratégias de luta eram criadas em ato, sem as diretrizes de partidos políticos e sem reuniões prévias.
Mais sobre os 50 anos de Maio de 1968:
O legado do mês que mudou a história
Na política: 1968 não foi apenas o Maio Francês
Em Paris, a Escola de Belas Artes era uma verdadeira usina de guerra, mas cujo armamento produzido eram cartazes, poemas, slogans que se disseminaram pelos muros de Paris e que até hoje guardamos como pequenas chamas de esperança. "Seja realista, demande o impossível", "Faça amor e recomece", "A poesia está na rua", "A barricada fecha a rua mas abre a via", "É proibido proibir". Essa relação entre arte e política na Escola de Belas Artes de Paris dura até hoje. É no anfiteatro da instituição que ocorrem as reuniões semanais do grupo ativista Act Up que, no início dos anos 1990, lançou uma grande mobilização para que a sociedade francesa reconhecesse a importância da prevenção do tratamento da aids.
Em maio de 1968, a polícia se preocupava não só em conter os manifestantes, mas também arrancar os cartazes das paredes, pois sabiam que essas imagens eram uma arma potente. A fúria capitalista entrava em cena ainda com "colecionadores" recolhendo os cartazes para negociar o "futuro". O ateliê da escola chegou a rejeitar US$ 70 mil oferecidos por duas grandes editoras interessadas em adquirir o material para fazer uma publicação. Jean Claude Leveque, um dos estudantes de arte, reagiu, na época: "A revolução não está à venda".
Pela primeira vez, os jovens desafiaram as práticas pedagógicas do autoritário sistema de ensino francês, denunciando também o quanto isso implicava um engessamento da vida. Esses movimentos surgiam de forma sistemática desde o início dos anos 1960, com a luta pelos direitos civis e contra a discriminação racial e sexual em vários países. A II Guerra continuava viva, sobretudo no silêncio de grande parte da sociedade francesa em relação à ocupação nazista.
Cena emblemática desse novo cenário de embate foi o breve diálogo entre François Missoffe, ministro da Juventude, e Daniel Cohn-Bendit, na Universidade de Nanterre. Cohn-Bendit o interpela: "Sr. Ministro, nas 300 páginas do informe sobre a juventude, não há uma só palavra sobre as questões sexuais". O ministro responde: "Não é de admirar, com um rosto como o seu, que tenha esses problemas: sugiro que dê um mergulho no lago". A reação de Cohn-Bendit: "Aí está uma resposta digna do ministro da Juventude de Hitler". O tom dessa conversa ativou a chama do movimento gestado em Nanterre, e o mergulho no lago pegou fogo.
Assim, quando as meninas da mesma universidade, em fevereiro de 1968, invadiram o dormitório masculino reivindicando igualdade de gênero e a possibilidade de dormir acompanhadas, a cultura nunca mais foi a mesma. Com a juventude tornando-se protagonista no primeiro movimento global antes do advento da internet, ficou evidente a modificação na maneira de fazer política, na qual a arte foi definitivamente incluída. Desde os cartazes e grafites até a participação ativa dos artistas nas manifestações.
Como vimos, cultura e política sempre estiveram próximas, mas a partir de 1968 elas se enlaçaram definitivamente. No Brasil isso aconteceu de maneira singular, porque vivíamos uma ditadura, então os movimentos eram de resistência e protesto. Evento emblemático: a Marcha dos 100 mil, no Rio, logo após a morte do estudante Edson Luís. Convocada inicialmente por universitários e secundaristas, contou com uma linha de frente de artistas – músicos, escritores, assim como intelectuais. Mesmo que, no final daquele ano, houvesse um acirramento da repressão com o AI-5.
Porém, abriu-se a fresta. A semente estava lançada: exigência de pensar a política de outra maneira, incluindo a cultura em ampla escala. Porque é a cultura em sua diversidade que se encarrega de veicular o inassimilável, o resto impossível de incluir; seja o que fazemos com o lixo que produzimos, seja a forma como enterramos os nossos mortos.
E, 50 anos depois, com todas as controvérsias, as preocupações com o ecossistema e a biodiversidade, assim como as questões sexuais e de gênero e o combate ao racismo. Algumas perguntas insistem: o que fazemos com nossos restos? Como o que não se apaga se transforma, alguns até retornam. O protagonismo da juventude e sua exigência do novo nasceu ali. Diminuiu nas décadas seguintes, mas renovou as energias em diversos momentos. Só para citar alguns: 2013, quando os protestos contra o aumento das passagens dos ônibus tomaram outras dimensões; 2017, com as ocupações das escolas e universidades; 2018, quando os estudantes norte-americanos vão às ruas para protestar contra o uso e abuso das armas de fogo.
Mais sobre os 50 anos de Maio de 1968:
O legado do mês que mudou a história
Na política: 1968 não foi apenas o Maio Francês
Em todos esses eventos, articulações com as artes são indissociáveis, permitindo afirmar que, desconsiderar a cultura ou acentuar formas de censura, é exterior à democracia, ao seu exercício cotidiano que implica discutir/conviver com as diferenças.
Hoje, não se pode mais pensar política sem arte e literatura. A política tem de ser criativa, inventar algo novo. Mesmo que, na atualidade, a frustração seja grande. Georges Didi-Huberman, historiador e curador da exposição Levantes, nos dá um precioso exemplo tomado da mitologia grega. Os titãs Atlas e Prometeu foram derrotados e castigados pelos deuses. Entretanto, fizeram a transmissão do saber e do fogo aos homens. Puderam sustentar um desejo de que a humanidade enfrentasse o peso da opressão nos tempos sombrios.
As sociedades são avaliadas em sua capacidade de produzir arte nas mais diversas formas de expressão. É uma forma de resistência à barbárie e à posição medíocre que somente vê a política como um negócio. Fernanda Torres afirmava outro dia, aqui mesmo no caderno DOC de ZH (de 21 e 22 de abril): "Um país que odeia sua cultura é um país que se odeia". Afirmação deve ser complementada com o reconhecimento de que ódio e paixão podem ser duas faces da mesma moeda e que a cultura é dinâmica, fragmentária e articuladora de restos que a sociedade não consegue incluir. Dando voz e visibilidade ao que de outra maneira cairia no esquecimento.