
Repórter da Folha de S.Paulo, Patrícia Campos Mello, 45 anos, ocupa o terceiro lugar no ranking mundial da One Free Press Coalition dos “10 casos mais urgentes de jornalistas sob ataque”. À frente dela, estão apenas Chen Qiushi, chinês que desapareceu ao mostrar ao mundo a então incipiente epidemia de coronavírus em Wuhan, e Daler Sharifov, perseguido ao abordar religião e política no Tajiquistão. Patrícia vem sendo alvo de ameaças, inclusive de morte, há menos de dois anos, quando começou a assinar reportagens sobre desinformação no Brasil – e revelou esquemas de disparos massivos de fake news difamatórias por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Sua saga é contada em detalhes no recém-lançado livro Máquina de Ódio – Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital” (Cia. das Letras) e relembrada, em alguns de seus episódios mais duros e reveladores, na entrevista a seguir.
O início do livro, com o relato do momento em que seu filho de sete anos flagrou, no YouTube, um vídeo difamatório de oito minutos contra você intitulado “Vagabunda sem vergonha”, é perturbador. Como você tem encarado as ameaças e o fato de elas atingirem sua família?
Esse episódio foi em fevereiro de 2019. O pior de tudo é ver que o que veio depois foi bem mais grave. Na verdade, tudo começou ainda na eleição, em outubro de 2018, quando assinei uma reportagem sobre o disparo em massa de mensagens por WhatsApp contra Fernando Haddad, então candidato disputando o segundo turno contra Jair Bolsonaro. Ali houve uma reação muito agressiva e pessoal direcionada a mim. E, a partir de então, a cada nova matéria, a história se repetia. O episódio de fevereiro de 2019 foi marcante porque envolveu meu filho, que como todas as crianças da idade dele queria criar um canal de YouTube, o que eu autorizei que ele fizesse de modo privado usando meu nome. Foi logando-se com meu usuário que ele deparou com esse vídeo, postado pelo deputado Alexandre Frota. Aí veio até mim dizendo: “Mamãe, tem um cara te xingando aqui, quer ver?”. Eu não tinha visto ainda, então respondi “sim, claro”. Ele deu play e veio aquilo tudo, “vagabunda”, “sem-vergonha”, com a minha foto. Tive de explicar para o meu filho que algumas pessoas não gostaram de uma matéria que a mamãe fez e reagiram desse jeito, infelizmente. Ele entendeu, mas ficou chocado particularmente com o adjetivo “sem-vergonha”. E me perguntava por quê. Eu não sabia explicar. Na hora, desnorteada, não consegui pensar em nada menos infantil do que me defender dizendo que eu tenho muito mais vergonha do que um cara que fazia filmes pelado. Para ele foi ok, respondeu “é, você nunca fez filme pelada”. Resolvemos assim. Mas, dali por diante, tive de cuidar mais. Se ele, com a idade que tem, visse outras peças que circularam depois sobre mim, e que circulam hoje em dia, nem com 15 anos de análise conseguiria se recuperar.
Como você faz? Controla a internet do seu filho?
Tive de buscar ajuda. Teve gente que me aconselhou a mostrar logo tudo para ele, explicando “tem gente que fez isso com a foto da mamãe”. Mas eu pensei assim: “Se eu avisar que tem coisa pior do que aquilo que ele já viu, ele vai procurar. E vai achar. Vai ser pior”. Então eu acordo todos os dias da minha vida rezando para meu filho não ver esse tipo de coisa na internet.
Invadiram seus perfis em redes sociais, gritaram com você, lhe agrediram na rua. Como faz para manter a serenidade e exercer seu trabalho?
Depois das primeiras reações, editores da Folha me perguntaram se eu queria seguir fazendo política, se não queria me proteger em outro setor. Respondi que queria continuar porque esse é e sempre foi o meu trabalho. Uma coisa que sempre fiz na minha vida foi cobrir viagens presidenciais ao Exterior. E quis continuar fazendo, tanto que, logo em seguida, em março de 2019, Bolsonaro foi aos EUA, e lá estava eu, fazendo o meu trabalho que era acompanhar essa visita. Segui dessa forma, de um jeito meio esquizofrênico: tentando separar os ataques pessoais contra mim do trabalho que eu precisava fazer para o jornal. Foi assim até janeiro de 2020, quando ocorreu o episódio horrível do Hans (Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário da Yacows, agência que fez disparos em massa na campanha presidencial pró-Bolsonaro, disse na CPMI das Fake News no Congresso que Patrícia teria oferecido sexo em troca de informações). Ali, mesmo que eu tivesse todas as interações com ele gravadas, todas as conversas de WhatsApp registradas, e que eu o tenha desmentido publicando tudo isso logo em seguida a esse falso testemunho, Eduardo Bolsonaro fez vídeo ecoando a mentira, e ela ganhou força nas redes sociais. Foi uma campanha violenta demais.
Você transcreve no livro algumas mensagens recebidas naquele momento, foi uma campanha misógina muito virulenta. O próprio presidente da República disse que você “queria dar o furo”.
Ele falou isso uma semana depois do meu desmentido. Ali a situação ficou insustentável para mim. Porque já vinha de alguns meses, foi uma escalada de violências... Assim. As pessoas mais guerreiras do jornalismo, hoje em dia, são os setoristas do Palácio do Planalto. Embora não haja mais o cercadinho onde ficavam os repórteres – o que ficou inviável por questões de segurança –, os jornalistas ainda lidam com um ambiente hostil, muito mais hostil do que em outros governos. No meu caso, as ofensas eram muito pessoais. E ali chegou ao limite. Depois, tentando contemporizar, bolsonaristas começaram a dizer algo do tipo: “Esse pessoal não entende piada”. Fico pensando: as pessoas perderam a noção do que esse tipo de coisa gera. Eu tinha decidido só apresentar as provas de que o Hans mentiu, não entrar mais no assunto, não bater boca nas redes sociais. Mas quando começou essa narrativa da falta de senso de humor... Puxa, piada? Piada porque não é com a mãe ou com a filha de quem me mandou aquelas mensagens. Então resolvi fazer um texto. E, após muita conversa, resolvi processar (o presidente). Meu trabalho ficou inviabilizado. Como, dali em diante, eu cobriria uma viagem de quem que afirmou aquilo sobre mim?
Se meu filho visse as peças que circulam sobre mim, nem com 15 anos de análise conseguiria se recuperar. acordo todos os dias rezando para ele não ver esse tipo de coisa na internet.
Você conta no livro que a jornalista Talita Fernandes pediu para ser afastada da cobertura do Planalto porque não aguentava mais os ataques (o presidente a chamou de “idiota” e a mandou calar a boca em uma coletiva). Seu depoimento ecoa o de outras colegas?
Sem dúvida. O que acontece comigo se repete com muitas jornalistas mulheres. Muitas mesmo. O que a Talita já ouviu... Isso vai minando a profissional, fica muito difícil. Os leitores podem até ver memes com a Miriam Leitão, com a Vera Magalhães, mas não sabem o que ouvimos e vemos além disso. Uma coisa é uma pessoa dizer que uma reportagem é ruim, distorce algo, é mal apurada, enfim. É do jogo. Outra é te chamar de gorda, velha, feia, puta, ameaçar seu filho. Isso não é crítica. As pessoas precisam se dar conta disso. E obviamente isso é uma tática de intimidação, porque a cada vez que a gente vai fazer uma matéria investigativa acaba pensando: “E agora, o que vou ouvir? Como serão as agressões?. A gente não deixa de trabalhar, mas a ideia por trás disso é que nos autocensuremos.
A estratégia dos ataques seria provocar a autocensura?
Acho que sim. Veja, por exemplo, esse massacre recente contra o youtuber Felipe Neto: as mensagens (falando em pedofilia) viralizaram logo após ele gravar um vídeo para o New York Times no qual critica o governo. Há uma reação, mostrando o que acontece quando se é crítico. Temos de diferenciar: eu sou repórter, não veiculo opiniões, diferentemente do Felipe Neto e de outros comentaristas – que estão no seu pleno direito, mas fazem um trabalho distinto do meu. Só que tudo é nivelado quando é crítico ao governo. Houve crítica ao governo? Dois dias depois, haverá um massacre de notícias falsas. Um massacre inacreditável, apelando a coisas como pedofilia.
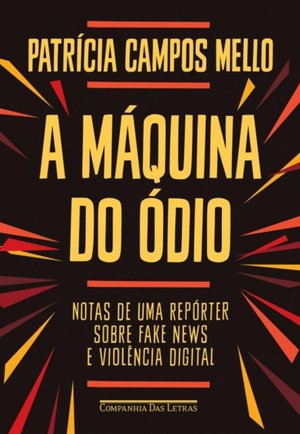
Você já cobriu conflitos na Síria, na Líbia, no Iraque e no Afeganistão, mas diz que só foi transformada em alvo no Brasil. Essa “máquina do ódio” lhe feriu mais do que o perigo do front em locais conflagrados?
Sim, com certeza. Tem uma coisa. Quando o jornalista vai cobrir conflito, fica em uma condição que não é a de ser alvo. Estamos lá apenas como observadores. Acabamos vendo as pessoas que vivem nesses locais tendo sua liberdade cerceada, diferentemente da nossa, e por isso, sob certo aspecto, somos privilegiados – por não estarmos na situação dessas pessoas. No Brasil, nos tornamos alvo. Virou uma coisa fulanizada. Antes, em outros governos, havia algo mais generalizado, “imprensa golpista” etc. Agora, basta publicar uma reportagem crítica para te colocarem um alvo na testa e irem fuçar sua vida, compartilhar seu telefone e endereço. E isso mesmo com pessoas que não são tão conhecidas. Eu, por exemplo, sou uma repórter de jornal. Não tinha um rosto conhecido. Não sou o Felipe Neto. É uma exposição brutal, invasiva e violenta demais.
No livro, você prefere os relatos pessoais e informativos às opiniões. Mas há análises com juízos de valor, por exemplo, quando você abre um capítulo falando da importância do rádio para a ascensão de Hitler na Alemanha nazista: fica estabelecido um paralelo com a importância da internet para a ascensão de Bolsonaro no Brasil. Por que essa opção?
Em primeiro lugar, não dá para fazer uma comparação com Hitler e a Alemanha nazista. São coisas completamente diferentes. Eu não quis fazer essa comparação, não. O que eu quis dizer é que, para esse tipo de governo, que é populista e se alimenta de um culto à personalidade, você ter um canal direto com seu apoiador, sem nenhum tipo de filtro, é o paraíso. Como o Brasil é um país em que 130 milhões de pessoas têm WhatsApp, se você conseguir usar essa estrutura para passar a mensagem que quiser, sem nenhuma checagem e sem nenhum contraditório, terá uma estratégia extremamente eficaz. Isso já deu certo em outros momentos da História. Em relação à opção de privilegiar o relato em detrimento da opinião, acho que é natural pelo fato de eu ser repórter e também pela forma como as coisas se apresentaram: não precisa fazer análises opinativas para dizer que Bolsonaro usou melhor a internet para se eleger, por exemplo. E não é uma questão de opinião que Bolsonaro usou as redes de forma maciça. Ele usou, isso é fato. As informações bastam por si só.
Não há uma estrutura centralizada, um bunker onde são organizadas ações. A coisa é mais descentralizada. Por isso falo em 'máquina do ódio', e não 'gabinete do ódio'. Seria ingênuo pensar que há um bunker que dispara tudo sozinho. Há estratégias definidas aqui ou ali, mas que só são amplificadas porque há gente de carne e osso disposta a fazer ecoar certas mensagens.
Você identifica Carlos Bolsonaro como responsável pela estratégia digital da campanha do pai, afirmando que essa estratégia “estava anos-luz à frente de qualquer outra” e que ele “foi um visionário”. A Polícia Federal o apontou como "articulador de esquema criminoso de fake news". Ele é o responsável pela “máquina do ódio”?
Eu não tenho condições de afirmar isso. O que sei é que Carlos Bolsonaro percebeu muito antes das eleições a importância dos grupos nas redes sociais. Não foi algo que começou em 2018; essa estratégia ele veio preparando ao longo dos anos, baseando-se em como os outros políticos populistas de direita estavam atuando mundo afora. E nisso ele foi certeiro. Já a ideia de que existiria um gabinete para implementar essa máquina... Para mim, não há uma estrutura centralizada, um bunker onde são organizadas ações. A coisa é mais descentralizada. Por isso falo em “máquina do ódio”, e não “gabinete do ódio”: trata-se de algo que une desde o gabinete que opera próximo ao Planalto e é responsável pelas redes sociais do presidente até blogs, influenciadores, perfis dos próprios legisladores e inclusive veículos de mídia tradicional que são amigáveis. A máquina opera com tudo isso funcionando junto para amplificar certas mensagens. Seria ingênuo pensar que há um bunker que dispara tudo sozinho. Há estratégias definidas aqui ou ali, mas que só são amplificadas porque há gente de carne e osso disposta a fazer ecoar certas mensagens. Se fosse só um grupo num gabinete, mesmo que com robôs, o alcance não seria tão amplo. Não é só robô. Essa é a genialidade da estratégia.
O quanto essa estratégia foi determinante para o resultado das eleições?
Ninguém sabe exatamente. Não existe um estudo conclusivo, nesse sentido. Não sabemos qual é efetivamente a capacidade que uma campanha de desinformação, por exemplo, tem para fazer um eleitor mudar um voto. O que a gente sabe é que esse tipo de campanha polariza a sociedade, porque apela para inimigos, demoniza o outro lado. Essa era de redes sociais na política é uma era de extremos, e não de moderados, porque as campanhas induzem à extremização. Isso pesquisas já confirmam. O que elas ainda não sabem é se o sujeito votaria no fulano e mudou para o cicrano porque recebeu um vídeo denunciando que o fulano teria distribuído mamadeiras em formato de pênis. Então, assim: foram os russos e o Facebook que fizeram Donald Trump ganhar nos EUA? Não sabemos. Ninguém provou isso.
Qual é sua opinião, como alguém que acompanha o processo político?
O WhatsApp foi importante para eleger Bolsonaro, sim, mas não foi só isso que o elegeu. Acho que houve um conjunto de fatores, que incluem o ambiente político do país, a comunicação como um todo, enfim, todo o contexto.
Esse contexto político em que estamos favorece os extremos, certo. Mas não há um desequilíbrio na polarização quando a estratégia de desinformação é tão forte apenas de um lado?
A pergunta que me intriga, e que eu já a fiz a vários estudiosos, é: por que há tantos exemplos de líderes à direita que usam esse tipo de estratégia e tão poucos à esquerda? Agora, se a gente lembrar bem, essa estratégia se assemelha à usada por Hugo Chávez e, depois, Nicolás Maduro, na Venezuela. Lá, houve uma cooptação de mídia e uma formação de coletivos de apoiadores que se voltam contra a mídia tradicional. Em redes sociais também: bots e trolls da Turquia e da Rússia são usados na Venezuela. Mas quem melhor usa a estratégia são Rodrigo Duterte, nas Filipinas, Narendra Modi, na Índia, Trump e Bolsonaro. Os quatro de direita.
No livro, você lamenta que reportagens com indicações de ilegalidades não tenham sido suficientes para levar investigações adiante. Como avalia a atuação da Justiça nesse processo todo?
Houve indicações de ilegalidades na época da eleição. A decisão da Justiça, naquele momento, foi não quebrar o sigilo de ninguém, nem fazer busca e apreensão. Com isso, pessoas acabaram excluídas da investigação. Um ano depois, quando o WhatsApp admitiu que a plataforma havia sido usada de maneira irregular (em outubro de 2019, em declaração do gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp Ben Supple), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mudou a regulamentação, proibindo os disparos em massa. Demorou um ano, de fato. De algum modo, as investigações sempre estão atreladas ao contexto político. Hoje, aparentemente, as investigações estão andando mais rapidamente. Mas nunca sabemos qual será o contexto político de amanhã.
Mesmo com os defeitos do jornalismo, em situações de vida ou morte, não dá para levar a sério só o que diz a mensagem do Zap. Não dá para ser só opinativo com relação a algumas coisas. Antes de firmar juízos de valor, é preciso ouvir os dois lados, ser justo. É preciso ter uma baliza, bem afirmada, antes de tomar lado. E isso os canais que só defendem um lado não fazem.
O que acha da chamada Lei das Fake News, que tramita no Congresso?
Há a necessidade de algum tipo de regulamentação diante desse ambiente propício à desinformação. O que eu não sei é se essa legislação é a mais adequada. Uma lei de fake news deveria abordar obrigatoriamente algum tipo de responsabilização sobre quem patrocina campanhas de desinformação. Quem contrata? Quem paga? Quem trabalha com isso de maneira profissional? São essas pessoas quem devem ser responsabilizadas. É preciso ter cuidado para não cercear a liberdade de expressão e não transformar a legislação em instrumento de violação de privacidade. Há uma diferença entre a rede profissional de desinformação e a expressão do cidadão comum. Alcançar um equilíbrio não é fácil. O mundo todo está trabalhando em busca dele.
Apesar das violências sofridas, você revela algum otimismo ao pensar no futuro, quando, no final do livro, aponta que um momento extremo como o de uma pandemia faz com que as pessoas se deem conta do quão nociva é a desinformação. Você tem esperança de que a “máquina do ódio” pode ser vencida?
Estamos vendo um processo de valorização do jornalismo profissional. As pesquisas demonstram isso. Pessoas que eram críticas ao trabalho jornalístico, às vezes com razão, deram-se conta da importância de que, mesmo com os defeitos do jornalismo, em situações de vida ou morte, não dá para levar a sério só o que diz a mensagem do Zap. Então, de fato, no meio de tanta coisa horrorosa que essa pandemia nos trouxe, acho sim que podemos ter esperança de mudança. Não dá para ser só opinativo com relação a algumas coisas. Antes de firmar juízos de valor, é preciso ouvir os dois lados, ser justo. É preciso ter uma baliza, bem afirmada, antes de tomar lado. E isso os canais que só defendem um lado não fazem.






