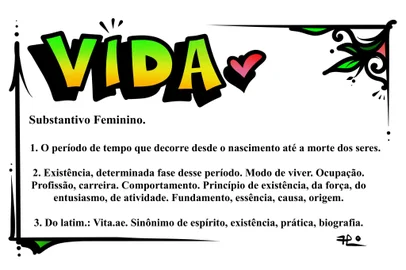Eu sei que a gente se acostuma, Marina. Mas não devia. Mesmo.
A gente se acostuma a contemplar a solidão, como se estivesse admirando uma tela de Edward Hopper pendurada no Art Institute of Chicago. Na Cidade dos Ventos, vai sozinho ao Navy Pier para encontrar desconhecidos e tentar desaparecer na multidão. E, sem ser visto, lembra que viver não é preciso — navegar talvez seja.
Quem vive longe do mar, mal sabe a tranquilidade que caminhar sobre a areia e molhar os pés traz. Não encontra refúgio nas ondas que vão e vêm — sensação deliciosa provocada tanto pelo movimento, quanto pela sonoridade. Não chega nem a se encontrar direito.
Na inexatidão da vida, às vezes, renuncia-se à navegação, vive-se como um velho que pesca sozinho em seu barco na Gulf Stream, mesmo que fique 84 dias sem pegar um peixe. Assim, o utilitarismo do anzol, da linha e da isca se dissipa, bem como as abstrações do cotidiano. Dá até para esquecer a noiva modelo de Adélia Prado, aquela que se levanta a qualquer hora da noite e ajuda o noivo pescador a escamar, abrir, retalhar e salgar o peixe.
Marina, eu sei que não existe preparação prévia, nem póstuma para se viver. Na melhor das hipóteses, dá para recriar o futuro e deixar marcas que poderão servir para algo. Gosto de pensar que essas pistas serão encontradas pelos escafandristas do Chico, aqueles que virão explorar nossa alma. Aí reside a epifania: sem alma, não dá para fazer a travessia. E sem atravessar, não se chega à terceira margem do rio. Simples assim.
Residindo nos rasos do mundo, afasta-se cada vez mais de quem se é. Essa falta de movimento abrevia a fluidez. E de tanto renunciar àquilo que flui, acaba-se não voltando mais.
Para retornar a si, só tem um jeito: é preciso aprender a se desacostumar.