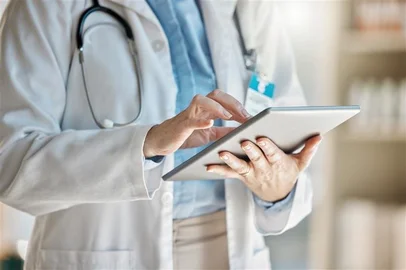Há duas estratégias importantes em uma guerra de longo prazo: a primeira é "o inimigo do inimigo é meu amigo". Na Guerra do Afeganistão, entre 1979 e 1989, os Estados Unidos tinham a URSS como grande adversário geopolítico. Por isso, era importante financiar os mujahedins, combatentes islâmicos, não tão a gosto de Washington, contra os enviados de Kremlin. Da união de alguns desses grupos surgiria o Talibã, que protegeria o ninho no qual a Al-Qaeda seria gestada para atacar os americanos em 11 de setembro de 2001.
A segunda estratégia diz respeito à necessidade de união de forças contra o inimigo comum, mesmo que se mantenha um pé atrás em relação ao aliado. É o que os Estados Unidos estão prestes a adotar no Afeganistão. O Pentágono ensaia, desde a carnificina que matou 170 civis e 13 militares americanos no aeroporto de Cabul, uma aliança com o Talibã contra o chamado Isis-K, o braço do grupo terrorista Estado Islâmico no Khorasan, nome de uma região que compreende a antiga Pérsia e partes da Ásia Central.
Em resumo, os americanos, que, por 20 anos, combateram o Talibã estão prestes a cooperar para neutralizar o inimigo comum. Não interessa à milícia islâmica que agora exerce o poder em Cabul ter o Isis-K a desestabilizar seu regime nascente - apesar de ambos terem origem sunita no Islã, os extremistas do Isis-K consideram o Talibã muito moderado. Também não interessa aos EUA ver o Afeganistão gestar, de novo, uma ameaça extremista a sua segurança. Então, ok: "Esquecemos duas décadas de guerra e iniciemos uma nova relação", é o que pensam muitos estrategistas em Washington, como o chefe do Estado-Maior das forças armadas dos EUA, general Mark Milley, segundo o qual "na guerra, você faz o que se deve fazer, mesmo que não seja aquilo que gostaria de fazer".
Não se pode esquecer, entretanto, que no Iraque, mesmo com a aliança com um governo pró-americano, o Estado Islâmico conquistou grandes nacos de terra. Até ser completamente neutralizado, foram vários anos de guerra.
A verdade é que Talibã e Estados Unidos já não são, assim, tão inimigos - que o digam as paredes dos palácios de Doha, no Catar, onde representantes de Donald Trump e da milícia sentaram à mesa de negociações no ano passado.
Por enquanto, nenhum governo assume o risco internacional de reconhecer diplomaticamente o governo do Talibã. No máximo apelam a eufemismos como "manter contatos", como admitiu o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, nesta sexta-feira (3), ou cultivar "relações amigáveis", como tem prometido a China, de olho na lista de megaprojetos de infraestrutura que tem no país e na oportunidade de ocupar o vácuo político deixado pelos americanos.