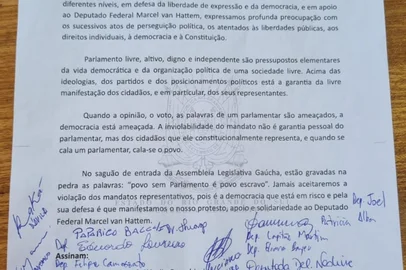Do dia 15 de agosto, quando o Talibã chegou a Cabul, até segunda-feira (30), quando o major general Chris Donahue, último militar em solo de afegão, ingressou no derradeiro voo de volta para casa, o mundo assistiu a cenas dramáticas:
- Helicópteros deixando a embaixada americana em Cabul, como em Saigon, em 1975;
- Afegãos desesperados se pendurando nos trens de pouso de aviões em decolagem, na expectativa de fugir do país, alguns despencando no céu;
- A carnificina do atentado de quinta-feira (26), que matou mais de 170 civis;
- Treze militares americanos voltando para casa dentro de caixões cobertos com a bandeira dos Estados Unidos;
- População abandonada a própria sorte;
- E, ao final de 20 anos de uma guerra que custou US$ 2,4 trilhões, os barbudos do Talibã, que supostamente tinham sido derrotados pelos EUA em uma operação fulminante em 2001, entronados de volta no palácio presidencial.
O quanto desses 17 dias inglórios de agosto de 2021 marcarão o mandato do presidente Joe Biden? Não há dúvidas, essa é uma marca que ficará para sempre.
Há indícios de desilusão entre os eleitores do democrata. Todos, até a oposição republicana, queriam os EUA fora da guerra mais longa em que se meteram, mas não dessa forma vexatória.
Conflito e terrorismo podem até não ser as principais preocupações do cidadão comum (apenas 4% indicam esses como temas centrais), mais ocupados com a saúde pública (16%) e a economia (15%), mas todo americano tem orgulho de suas forças armadas. E ver seus soldados saindo assim, às pressas, em debandada, é uma imagem que irá ficar.
Nos últimos dias, Biden perdeu três pontos percentuais de aprovação, segundo o site Five Thirty Eight, que compila as médias das pesquisas nacionais. Mantém agora 47,4% de aprovação (ainda não computados os impactos do atentado de quinta-feira), mas esse percentual já foi de 55% na semana da posse.
O que chama mais atenção no gráfico é a curva descendente da aprovação de Biden em relação à ascendente, de rejeição, que agora se cruzam, indicando rejeição maior: 48,4%.
Além de tudo o que ocorreu em solo afegão nessas duas semanas, há ainda a sensação de falta de empatia por parte de Biden. O presidente, ao tentar passar firmeza, acabou por lavar as mãos, dizendo que os EUA armaram as forças armadas afegãs e esperavam que elas enfrentassem o Talibã.
Ato contínuo, ao reagir ao atentado ao aeroporto, Biden despachou para o Afeganistão um drone que, ao explodir um carro-bomba de terroristas do Isis-K, teria matado sete crianças. Efeito colateral (eufemismo para morte de civis) de um ataque preventivo (outro eufemismo), dirão os militares. E, assim, Biden junta-se a Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton no hall dos presidentes americanos que acabam por matar civis na intenção de assassinar terroristas.
A imagem de Biden como político experiente nos meandros da política internacional (como vice-presidente, ele era o enviado de Obama a resolver pepinos mundo afora) sai, sem dúvida, manchada.
Quem tentou tirar uma casquinha foi Trump, que, em entrevista à Fox News, afirmou:
- Foi talvez o movimento mais idiota já feito na história do nosso país. Não havia razão para correr. E eles 'esqueceram' lá os melhores equipamentos militares do mundo. É difícil de acreditar, porque até uma criança teria entendido.
Ok, o ex-presidente se exime de qualquer responsabilidade, como a de ter fechado um acordo com o Talibã em Doha, excluindo da mesa de negociações o então governo afegão - o que, ao menos, poderia ter adiado o retorno do Talibã ao poder. Mas, com relação, a Trump, a gente sabe, não há muito de melhor a esperar.
No aspecto interno, para o presidente atual, que parecia reconciliar os Estados Unidos com boa parte do mundo, com promessas de combate ao aquecimento global e retorno aos fóruns multilaterais, pesam outras crises.
O desemprego caiu, o PIB melhorou, mas há dois desafios instantâneos: o rescaldo do desastre provocado pela passagem do furacão Ida por New Orleans, exatos 16 anos depois do Katrina (que arranhou o governo Bush) e o avanço da variante Delta da covid-19, no momento em que o país parece ter atingido o teto da imunização por conta da resistência de muitos americanos em se vacinar.
A oposição republicana tem sido cautelosa ao criticar a retirada desastrosa porque sabe que essa foi uma decisão de Trump. Explorá-la é difícil, exige malabarismos. Mesmo assim, a oportunidade já aparece nas entrelinhas da batalha que se aproxima: a campanha pelas eleições de meio de mandato, em novembro de 2022.
A vantagem democrata no Congresso é frágil: oito cadeiras na Câmara, e, no Senado, a dependência do apoio dos dois independentes e do voto de minerva da vice-presidente Kamala Harris. Aliás, por falar em independentes, é justamente nesse grupo de eleitores, que costumam decidir eleições, é que o presidente tem perdido apoio.
Sobre o futuro do próprio Biden, a história depõe a favor. Ronald Reagan se reelegeu em 1984, mesmo tendo enfrentado o atoleiro de Beirute, inclusive com um atentado terrorista que matou 241 fuzileiros navais no ano anterior. Bill Clinton enfrentou o fracasso de Mogadíscio, na Somália, em 1993, e também permaneceu na Casa Branca depois do pleito de 1996. Barack Obama foi reeleito em 2012, dois meses depois do fiasco na embaixada de Benghazi.
A população esquece, apostam os democratas. Mas o fantasma do Vietnã impediu a eleição do republicano Gerald Ford, que herdou o governo após renúncia de Richard Nixon. O sucessor, Jimmy Carter, também não se reelegeu em 1980. Este último, ironicamente, o presidente que iniciou contatos com os mujahedins afegãos para apoiá-los contra a URSS.