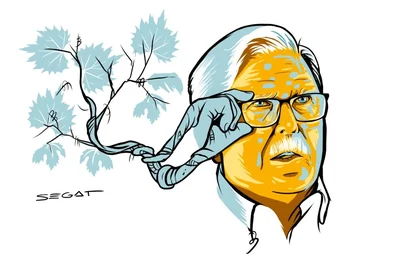Um dos eventos mais louvados da história do Brasil completa um século nos próximos dias. A Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo de 13 a 17 de fevereiro de 1922, aparece em todos os cânones como marco fundador de um olhar sobre o Brasil que tanto rompia com visões e estéticas do passado como se abria para uma inclusiva noção de identidade, sincrética e original.
Faz sentido esse feito de cunho inovador e progressista ter ocorrido sob o signo de Aquário, assim como ter se situado numa cidade também aquariana. Por sinal, Aquário é o provável signo ascendente do Brasil. No centenário da Independência, em 1922, o país devia se assumir em sua singularidade. Foi assim que intelectuais e artistas da elite paulistana decidiram reinventar o Brasil.
No céu da pátria naqueles dias, o moderno regente de Aquário, Urano, estava no signo de Peixes, enquanto o regente deste, Netuno, transitava em Leão. Sim, era hora de desfazer velhas imagens e criar outras. O bom aspecto entre Urano e Plutão dava sustentação a esse germinar de um novo mito para um país às portas da industrialização e da urbanização.
As apresentações da Semana de Arte tiveram a intenção de chocar os puristas da tradição com vanguardas e ousadias, mas foi no decorrer do hoje chamado Modernismo, nos anos seguintes, que os ideólogos do movimento definiram uma vocação antropofágica para nossa cultura. Podemos “devorar” diferentes influências e ainda assim sermos originais.
No Modernismo, o índio e o negro ganharam um novo lugar em nossa composição cultural. Oswald de Andrade escreveu: “Quando o português chegou / Debaixo de uma bruta chuva / Vestiu o índio / Que pena! Fosse uma manhã de sol / O índio tinha despido / O português”. O livro Macunaíma, de Mário de Andrade, revelava um “herói sem nenhum caráter”, qual um povo mestiço ainda sem identidade formada.
Corta para 1967, quando Urano e Plutão estavam conjuntos. No choque vigente entre nacionalismos radicais e posturas mais universalistas, o artista plástico Hélio Oiticica resgatava a antropofagia modernista com a instalação Tropicália. Cenários de plantas vivas, areia, araras e pedrinhas terminavam por conduzir a uma televisão sempre ligada. O público era “devorado” com esse final universal, mas só depois de uma travessia por coisas autenticamente nacionais.
Escreveu o artista: “Quis eu com a Tropicália criar o mito da miscigenação – somos negros, índios, brancos, tudo ao mesmo tempo – nossa cultura nada tem a ver com a europeia, apesar de estar até hoje a ela submetida: só o negro e o índio não capitularam a ela”. Caberia, assim, às heranças culturais negra e índia absorver antropofagicamente a europeia e a americana.
Ainda em 1967, a Tropicália de Oiticica vai ressoar no movimento musical tropicalista, que também evocava o Modernismo na proposição de uma cultura sincrética e singular.
Corta de volta para 2022, com Urano em tensão com Saturno. Na carioca Barra da Tijuca, reino brega de ricaços na imitação de Miami, um negro congolês é morto a pauladas por milicianos num quiosque chamado de... Tropicália! Ah, os sinais! Caíram de vez os mitos da cordialidade brasileira e da democracia racial. O real é a barbárie.
No bicentenário da Independência, que país é este? “Caboclos querendo ser ingleses” fecham os olhos, enquanto uma entorpecida legião de Macunaímas caminha estupidamente para o abismo. País do futuro: cadê? Que nos despertem os espíritos de Zumbi e Sepé Tiaraju. Urge reinventar – e curar – o Brasil.