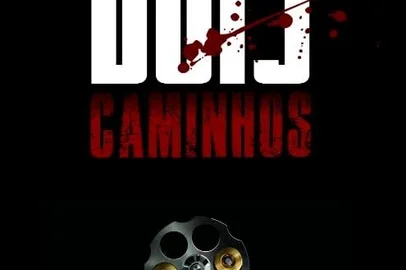A história é conhecida como um dos grandes exemplos de como um rasgo de criatividade pode surgir do mais insuportável dos tédios. Em junho de 1816, um grupo de amigos estava na casa do poeta inglês Lord Byron às margens do Lago Genebra, na Suíça. Chovia, o que inviabilizava passeios pela região, e o grupo se distraía lendo histórias alemãs de fantasmas. Byron, então, lançou um desafio a seus convivas (seu secretário particular John Polidori, seu amigo e também poeta Percy Shelley, a então amante deste, Mary Godwin, e Claire Clermont, irmã de Mary e amante de Byron): criar até o dia seguinte uma história de horror a ser apresentada aos demais. Inspirada pelo desafio, Mary Godwin, que depois passaria a se chamar Mary Shelley quando se casou oficialmente com Percy, criou o embrião de uma história que, um ano e meio mais tarde, em janeiro de 1818, seria publicada sob o nome de Frankenstein, marco da literatura de horror e uma das obras inaugurais da ficção científica.
Sem dar por isso Mary Shelley (autora de outro embrião da FC, o romance O Último Homem) concebeu naquele verão suíço algo que poucos escritores conseguiram, antes ou depois: um personagem que se comunicaria de tal modo com as inquietações mais obscuras da psique humana que ganhou vida própria independente de sua autora. Ironicamente, a criatura engoliu o criador tanto na vida real – na qual mesmo quem nunca leu o livro sabe a que o nome se refere – quanto na ficção – dado que a imaginação do público associa diretamente o nome Frankenstein ao monstro, quando na história este era o sobrenome do cientista que o criou. A criatura propriamente dita não tem nome, embora diga, em certa passagem, que talvez devesse se chamar Adão, o nome do primeiro homem na mitologia judaico-cristã.
Quando de sua publicação em 1818, o livro recebeu o subtítulo de O Prometeu Moderno, demonstrando uma intenção que, para estudiosos como a escritora Susan Tyler Hitchcock, foi cumprida de modo pleno: criar “o primeiro mito da Era Moderna”.
Ao longo dos últimos 200 anos, a ficção científica foi estabelecendo uma tradição de três eixos: a antecipação das maravilhas da ciência; os problemas sociais e morais despertados por avanços da tecnologia; o horror diante da arrogância científica – este último tributário da mentalidade mítica atenta aos perigos de conhecimento proibido. Frankenstein é um pouco dos três.
Obcecado pela ideia de criar vida por meio da ciência, então vivendo um florescimento sem precedentes, Victor Frankenstein, o médico, gera uma criatura grotesca que, dotada de força e crueldade descomunais, foge de seu controle. Desde então, gerações se renderam ao fascínio sombrio da criatura e dos dilemas de sua mente torturada.

Hoje o livro é menos conhecido do que seu protagonista, uma vez que o cinema se apropriou tão apaixonada e completamente do personagem. Em uma série de filmes feitos a partir de 1931, Boris Karloff encarnou uma versão da criatura que se tornou uma imagem indelével da cultura pop, presente mesmo após centenas de outras versões, como a de Robert De Niro no Frankenstein de Mary Shelley dfotoirigido por Kenneth Branagh em 1994, ou a de Peter Boyle na comédia de Mel Brooks O Jovem Frankenstein (1974). Apenas nos últimos 15 anos, Frankenstein também apareceu com os rostos de Shuler Hensley no sofrível Van Helsing (2004) e de Aaron Eckhart no ainda pior Frankenstein: Entre Anjos e Demônios (20014), entre vários outros exemplos – com uma ressalva para a interpretação digna do inglês Rory Kinnear na série Penny Dreadful.
Curiosamente, apesar de ser uma espécie de marco da ficção científica, Frankenstein hoje é mesmo uma obra de horror, talvez porque a ciência propriamente dita que animava sua trama (o monstro ganha vida por meio da eletricidade) já ficou para trás. O dilema ético dos limites do conhecimento está presente até hoje. Em plena vigência do otimismo do Século das Luzes, no qual se via a racionalidade e a ciência como as ferramentas da libertação inevitável do homem de seus preconceitos e das garras da ignorância, Frankenstein é um conto moral que adverte, em tom de horror, que a ciência pode ser também uma forma de ignorância.