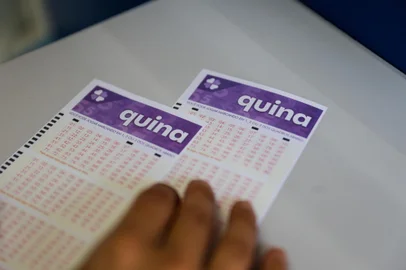Dois ipês brancos plantados na fazenda do sogro representam as filhas da porto-alegrense Claudia Repetto, 52 anos. Gabriela e Giovanna, então com nove e 12 anos, respectivamente, morreram soterradas após deslizamento de terra que atingiu casas e uma pousada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nas primeiras horas de 2010, matando outras 51 pessoas. Visitar as árvores onde as cinzas das meninas foram colocadas e as encontrar grandes e floridas acalma o coração de Claudia.
— Vê-las em um jardim em vez de em um cemitério me conforta. Por isso digo que cada um tem que buscar a sua maneira de viver bem. Eu não pude me despedir das minhas filhas. Elas se foram de repente, mas lembro que estavam dormindo comigo, depois de ouvirem eu contar histórias — afirma a mãe.
Para comportar a dor, Claudia fala nas meninas diariamente. Gosta de pensar que não sofreram, foram embora juntas, viveram felizes e que ela, a mãe, esteve presente. Acredita que as filhas continuam com ela no dia a dia e que delas veio a força para sobreviver ao desastre.
— Filho nenhum gosta de saber que os pais estão tristes. E, se eu quero o bem delas, tenho que estar bem aqui. É uma construção que faço diariamente. Procuro afastar pensamentos ruins para ficar bem. A minha vida tem um passado dolorido, só que neste momento não estou com dor — conta.
Mas nem sempre foi assim. Por dois anos, dia sim dia não, ela se fechava dentro do carro, ligava o rádio no volume máximo e gritava até sentir que o maxilar iria desencaixar. Foram anos vividos em uma montanha-russa de dor e dúvidas. Passava noites rezando no altar que montou dentro de casa. Ajudada por uma psicóloga e amparada por familiares e amigos, encontrou novamente sentido na vida e uma maneira de acomodar a perda das meninas. Claudia e Marcelo engravidaram e hoje criam os trigêmeos de cinco anos:
— Flora, Filipe e Valentina são a luz da minha vida e sabem que vieram por causa das meninas.

As lembranças da tragédia
Chovia a cântaros naquele Réveillon em Angra dos Reis. A festa da virada havia terminado e o quarteto já estava na casa que havia alugado entre o mar e uma encosta. Passariam a noite no imóvel, também, o tio de Marcelo, Renato, e a mulher dele, Ilza. Os dois viriam a morrer horas depois. Claudia lembra de ter chegado em casa, feito massa instantânea para as meninas e se preparado para dormir.
— Elas trocaram de roupa, lavaram os pezinhos, escovaram os dentes e fomos todos deitar. Renato e Ilza em um quarto. Giovanna, Gabriela, Marcelo e eu no outro. Deitei entre as duas e Marcelo ficou no chão. Contei uma história inventada da minha cabeça, como sempre fazia, e adormecemos — recorda.
Um estrondo irrompeu a noite e Claudia acordou com cheiro de terra molhada entrando pelas narinas. O silêncio e a escuridão eram perturbadores, descreve. Ainda desnorteada, tentou levantar, mas percebeu que estava presa sob terra e escombros da casa que tinham alugado. Pelo seu corpo, escorria um líquido que ela termia ser sangue. Quando decidiu gritar por socorro, a única voz que ouviu, ao longe, abafada, foi a do marido.

— Eu sabia que estava em uma enrascada, que era algo muito grave. Não sabia se iria sair dali. Sentia que tinha alguém encostado em mim, e que mexia de vez enquanto. Eu prefiro acreditar que era a mão do Marcelo e que minhas filhas tenham feito uma passagem muito rápida — conjectura.
As horas seguintes foram de revolta, xingamentos direcionados a Deus e pedido de ajuda para que as meninas fossem bem recebidas. Foram dias de questionamentos:
— Eu não entendia por que o sol continuava a nascer, por que as pessoas riam. Tive que encontrar sentido para a vida novamente e o sentido era estar bem. Eu dizia para a minha psicóloga que aprenderia com a dor que tenho. Até hoje não uso a palavra morte. Digo que as meninas se foram.