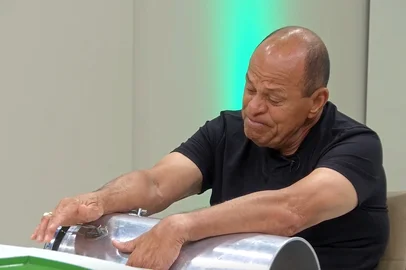Confiantes de que tudo passará, porque sempre passa, começamos a indagar como seremos depois, na expectativa real de que o sofrimento não tenha sido em vão, porque, senão, toda a doença e toda a angústia não teriam sentido como experiências humanas. Os pacientes que superaram doenças graves confessam amiúde que se sentem melhores na comparação com o que eram antes.
A consciência da finitude, ainda que alguns disfarcem bem, sempre acompanha a ameaça, por sutil que seja, da proximidade da morte. E, quando o fantasma é afastado, a euforia de continuar vivo desperta em cada um dois sentimentos definitivos: o da gratidão pelos que o apoiaram e, sofrendo junto, ensinaram a força maior da parceria incondicional; e, por consequência, a intolerância absoluta ao supérfluo, às queixas rasas, e à picuinha.
Nestas infindáveis semanas de muitas perguntas, escassas respostas e nenhuma certeza, tenho recebido mensagens arguindo sobre as expectativas de mudança: vamos mudar hábitos ou apenas acrescentar manias ao nosso cotidiano? Sairemos melhores ou piores depois dessa crise?
Nossa experiência histórica com tragédias foi frustrante. De qualquer modo, vamos apostar na utopia.
Estímulos não faltarão, respondo, para que nos tornemos melhores pessoas, mais conscientes da nossa fragilidade e, de alguma maneira mais solidários, pela descoberta do prazer que provoca o exercício da generosidade, que resulta em reconhecimento do outro. Aliás, não é por outra razão que os médicos se tornam viciados em gratidão.
Por outro lado, sempre me impressionou o quanto é curta a memória dos homens nesta fase da modernidade repleta de sinais confusos, propensa a mudar com rapidez e de forma imprevisível, que Zygmunt Bauman chamou de “o mundo líquido”. Infelizmente, a nossa experiência histórica com tragédias, até maiores do que essa, foi frustrante, porque, muitas vezes, ficou evidente que a única mudança foi termos ficado mais rancorosos. De qualquer modo, vamos apostar na utopia e admitir que seria um grande desperdício se, passado algum tempo, descobríssemos que continuamos os mesmos: egoístas, intolerantes e irracionais. Na pior das hipóteses, que ao menos aprendamos o hábito saudável de, literalmente, lavar as mãos! Lembro que no agosto da epidemia da H1N1, com frascos de álcool gel pendurados em todas as portas, houve uma redução de 24% do consumo de antibióticos na Santa Casa, ou seja, sempre que a prática do “mãos limpas” ultrapassar os limites da metáfora, a saúde agradecerá.
Por ingênuo que pareça, seria ótimo que a herança sofrida deste episódio resultasse, pelo menos, em duas grandes lições:
1) Que o planeta precisa ser considerado como a casa de todos. E que a responsabilidade de cuidá-lo seja vista como uma questão de sobrevivência da nossa e das gerações que virão. A alegria da população do norte da Índia, subida nos telhados, para admirar a beleza imponente da Cordilheira do Himalaia, agora brilhando no horizonte que a poluição global borrou nos últimos 30 anos, precisa se tornar uma espécie de colírio do futuro.
2) Que este choque de cruel realismo social abra nossos olhos para os favelados, que ouviram perplexos as recomendações prudentes de se manterem afastados, uns dos outros, e se perguntaram: como assim? Então eles não sabem que a miséria amontoa as suas vítimas, e que o calor dos nossos amados é o único cobertor que nos resta?
Não podemos ficar inertes, delegando a Deus, ou qualquer que seja a ideia que tenhas Dele, a tarefa exclusiva de impedir que a doença dizime aqueles que, até aqui, a fome poupou.