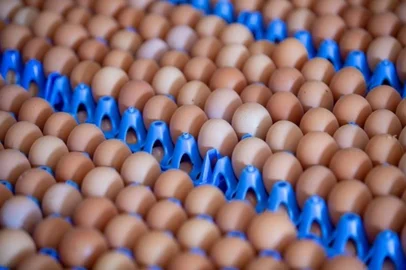Ao longo da história, à medida que eram desvendados os segredos da anatomia e da fisiologia, cirurgiões tentaram transplantar membros, tecidos e órgãos de uma pessoa para outra. Isso permeia o imaginário humano, gerando mitos de quimeras como a Esfinge e o Minotauro, e histórias fantásticas como a do monstro de Frankenstein, de Mary Shelley.
Recentemente, em Boston (EUA), visitando meus colegas do Massachussets General Hospital (MGH), assistimos ao filme Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos. Se não viram, recomendo muito. O filme é uma fábula sobre uma mulher ressuscitada por um cientista, que colocou nela o cérebro de um bebê. Ela então acorda uma mulher adulta, experimentando o mundo sem as restrições impostas para mulheres, questionando o que vê e vivendo os prazeres e as dores por um prisma diferenciado. Falamos sobre isso no laboratório, inclusive sobre os outros seres que o cientista havia criado, como um porco com corpo de galinha e um cachorro misturado com cisne. Acontece que, na semana anterior, o grupo do MGH havia sido notícia por transplantar o primeiro rim de porco em um paciente humano vivo. Isso já havia sido tentado em pacientes com morte cerebral.
No MGH, há uma tradição de décadas em pesquisa com xenotransplante – a transferência de órgãos entre espécies diferentes. Os seres do filme jamais seriam possíveis pela intensa rejeição imunológica que acompanha o transplante – mesmo entre humanos. O sistema imune do receptor rejeita fortemente as diferenças genéticas do doador, e transplantes apenas funcionam hoje fazendo a compatibilidade entre eles e usando drogas imunossupressoras.
Mais recentemente, com a tecnologia de edição genética sendo facilitada pelo sistema que chamamos de CRISPR, sobre a qual já escrevi aqui algumas vezes, é possível editar no órgão a ser transplantado ao menos as principais diferenças genéticas que causam a rejeição. Mas sempre ficamos limitados, ainda, a um doador humano. Para tentar expandir as opções para pacientes, os cientistas do MGH engenheiraram 69 modificações genéticas em um rim porcino – e tiveram sucesso em macacos, no ano passado; e, neste ano, em um paciente humano. Esse esforço saiu do laboratório para uma empresa de biotecnologia fundada por eles, e precisou de um longo caminho de aprovações regulatórias na Federal Drugs Administration, a FDA.
O processo de efetivação como terapia foi liderado pelo médico brasileiro Leo Riella, que é hoje diretor de Transplante Renal no MGH e professor da Harvard Med School. Tenho o prazer de colaborar com Leo há muitos anos, ele é meu anfitrião no MGH quando o visito, e em seu grupo temos vários outros brasileiros, inclusive gaúchos ex-alunos meus, “transplantados” para o grupo da Harvard. Conversamos muito sobre isso enquanto um deles analisava a resposta imune do paciente ao transplante porcino. Quanto talento brasileiro fazendo história, em instituições líderes de pesquisa no mundo. Quando vamos criar um ambiente que não rejeite esse recurso humano tão valioso? Vamos trabalhar mais para isso.