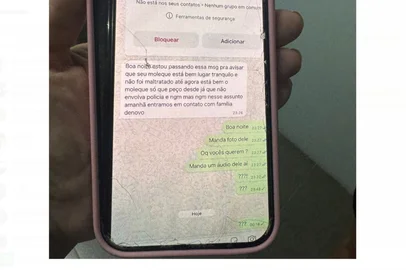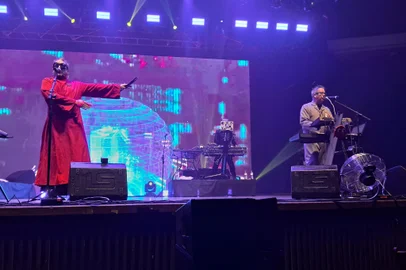Ser negro, jovem e tatuado são as três características mais percebidas como suspeitas por um grupo de policiais gaúchos para justificar abordagens em seis territórios com alto índice de violência na Região Metropolitana. A pesquisa, coordenada por um braço da Organização das Nações Unidas (ONU), revela como ocorre a tomada de decisão para a abordagem, pela voz dos próprios agentes de segurança pública.
O relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) que revela essa pesquisa foi divulgado no início de 2023. São 40 páginas que detalham ações e resultados de um trabalho de oito anos sobre o uso da força e o cumprimento de normas por parte de policiais da Capital, de Alvorada e de Viamão.
LEIA OUTRAS PARTES DESSA REPORTAGEM
Um questionário sobre a rotina de trabalho foi enviado para os policiais militares e civis dos territórios analisados. A principal questão destacada no relatório foi:
"Na sua atuação profissional cotidiana (...), o quanto as características abaixo são compreendidas como suspeitas a ponto de gerar uma abordagem?". A partir das respostas dos policiais, os pesquisadores montaram um ranking. A característica "ser negro" foi aquela mais respondida como suspeita pelos policiais para justificar uma abordagem. Em uma escala de 0 a 3,5, teve peso 2,95. A característica menos relevante foi "parecer estar vendendo drogas" — com peso 1,15.
— O que chama atenção é que justamente essas características identitárias acabam tendo um peso maior do que, inclusive, aspectos que poderiam estar associados à prática de algum delito ou de alguma violência. Esse não é um fenômeno gaúcho, esse é um fenômeno mundial — afirma Eduardo Pazinato, coordenador da pesquisa e do setor Anticorrupção e Integridade do UNODC no Brasil.
A pesquisa foi realizadas nos seguintes territórios: Umbu-Salomé, em Alvorada; Santa Cecília, em Viamão; e nos bairros Cruzeiro, Restinga, Lomba do Pinheiro e Rubem Berta, em Porto Alegre.
O questionário com 30 perguntas sobre atividade de policiamento e percepção social foi enviado pelo governo do Estado para 400 servidores desses territórios (320 da BM e 80 da Polícia Civil). Foi respondido, de forma anônima, por 113 agentes.
O uso da "intuição" na atividade policial é um dos motivos que justificam o resultado da pesquisa, segundo o tenente-coronel Roberto dos Santos Donato, oficial da Brigada Militar que atuou como ponte entre os pesquisadores da UNODC e o governo do Estado. Na avaliação de Donato, é preciso adotar mais critérios técnicos para definir ações policiais.
— A gente hoje trabalha (nas abordagens) vez por intuição, vez por ciência de dados. Há cinco, 10 anos a gente trabalhava exclusivamente por intuição: era o que a gente via na rua, o que estava disposto ali — explica o tenente-coronel.
O que motiva uma abordagem gera desdobramentos não apenas sociais, mas também jurídicos. O Poder Judiciário consolidou o entendimento de que são ilícitas as abordagens policiais sem uma suspeita fundamentada.
— Atitude suspeita, para mim, é uma coisa, para outra pessoa pode ser outra coisa. Enfim, o policial tem de traduzir no processo por que fez aquela abordagem — acrescenta o promotor Marcos Centeno, responsável pela Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial.
A questão central para que uma abordagem seja considerada ilícita envolve a seletividade, isto é, se o alvo da polícia foi escolhido por critérios objetivos, subjetivos ou aleatórios.
— Tem várias pessoas sentadas em bancos na praça. Aí, alguém está em atitude suspeita. Por quê? Pela vestimenta? Pelo seu fenótipo? Pelo seu tipo físico? O que leva alguém a suspeitar desse indivíduo? A polícia tem de descrever. Porque, senão, ficamos com uma abertura grande para abordar qualquer pessoa — exemplifica o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Sergio Blattes.
Tem várias pessoas sentadas em bancos na praça. Aí, alguém está em atitude suspeita. Por quê? Pela vestimenta? Pelo seu fenótipo? Pelo seu tipo físico? O que leva alguém a suspeitar desse indivíduo? A polícia tem de descrever.
SERGIO BLATTES
Desembargador
"Muita gente diz que quem tem tatuagem no rosto é bandido"
Uma das seis áreas analisadas pelo Escritório da ONU é a Restinga, bairro com 60 mil habitantes no extremo sul de Porto Alegre. É nesta região da Capital que Vinícius Prestes, 19 anos, vive desde a infância e onde acumula recordações de abordagens policiais que ele avalia como inexplicáveis.
— Eu sou negro, sou tatuado, sou da favela, tenho tatuagem no rosto, né? Muita gente diz que quem tem tatuagem no rosto é bandido. Mas não, eu tenho tatuagem no rosto, eu tenho o nome do meu avô tatuado no rosto. Tudo que eu tenho no meu corpo tem significado — conta o estudante de curso técnico federal.
O jovem conta que, quando está de mochila, isso chama mais atenção dos agentes da segurança pública.
— Já é um fato grande eu ser morador da Restinga, eu ser negro, né? Do meu andar, das pessoas que eu convivo, o fato de eu morar numa área que tem bocas de tráfico, né? Então, eles vêm de fora e o trabalho deles é recolher, né? "O que tem na mochila dele? O que que tem no telefone dele? Tem foto de arma no telefone?" — reflete Vinícius.
Problema histórico
O dado revelado pela pesquisa e o relato do jovem podem ser atribuídos a um problema histórico, relacionado ao que hoje é classificado como racismo estrutural e institucional. O dirigente do Núcleo de Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado, Andrey Régis de Melo, descreve que o controle imposto aos negros pós-abolição da escravatura, em 1888, se reflete nos dias atuais.
— O Brasil pós-abolição decide fazer um controle dos corpos negros. A gente encontra, em livros de história, documentos sobre a necessidade de abordar negros libertos nas vias públicas. Isso se perpetua, e a gente percebe que existe uma construção social do suspeito de uma forma racializada — contextualiza.
Ou seja, mesmo que não exista orientação aos agentes para usarem tais critérios para abordagens, a carga histórica forma um entendimento subjetivo para determinar quais características são suspeitas.
Para o coordenador da pesquisa do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, Eduardo Pazinato, as abordagens reproduzem "pré-conceitos" que estão difusos na sociedade, e não são exclusividade das polícias.
— Podemos ter aprimoramentos nas corporações policiais que ajudem a desconstruir essa cultura racista, punitivista, que muitas vezes orienta o fazer policial. Mas, obviamente, as mudanças de natureza estrutural vão demandar um tempo maior e têm de envolver o conjunto da sociedade. Nós temos uma sociedade em que racismo estrutural, machismo e questões de gênero ainda são desafios. Isso acaba nas polícias — aponta Pazinato.
O oficial da Brigada Militar que participou dos oito anos de pesquisa, tenente-coronel Donato, também entende que a polícia reflete a cultura da sociedade, mas refuta a ideia de que os dados revelem que os agentes atuam com preconceito.
— Somos preconceituosos? Eu entendo que não. A gente reflete de forma intuitiva o que a sociedade escreve, fala, publica e tem por base. Abordamos as pessoas que estão na rua, que estão fazendo as suas atividades, que estão envoltas em algum delito ou não. Representamos a sociedade nesse aspecto — completa o tenente-coronel Donato.
O relatório do Escritório da ONU também sugere três pontos para qualificar a polícia e os dados sobre segurança no Rio Grande do Sul, entre os quais está a divulgação periódica de letalidade policial e mortes de servidores em serviço.
O convênio do Estado com o Escritório da ONU produziu efeitos práticos ao longo dos últimos oito anos, entre eles a formação de policiais em direitos humanos e o atendimento de grupos vulneráveis. Equipamentos, como as bases móveis, também foram adquiridos para reforçar a estratégia de policiamento comunitário nessas seis áreas.