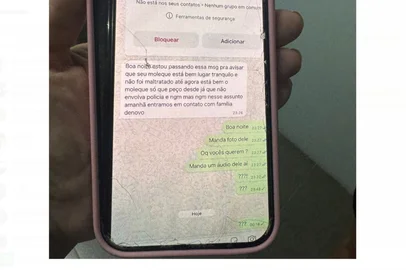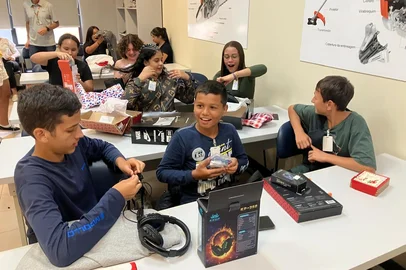Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo
Sociólogo, professor da Escola de Direito da PUCRS, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do INCT-InEAC
“Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar sua própria essência – ela não é apenas sem sentido; ela não é totalmente viva. Homens que não pensam são como sonâmbulos.”
Hannah Arendt, em Eichmann em Jerusalém
Em sociedades em condições normais de convivência democrática, o ingresso de policiais militares em uma aglomeração de pessoas, com o emprego de violência e de atos de abuso de poder, por si só seria motivo de grande comoção pública. Se da ação resultasse a morte de nove jovens, cujos atos se limitavam à busca de um momento de lazer e diversão em um duro cotidiano de privações, seria motivo para convulsão social e uma rápida resposta das autoridades. No Brasil de 2019, o terror em Paraisópolis produziu artigos como este e matérias na TV. E só.
A sociedade brasileira, anestesiada pelo medo do crime, real ou fictício, e pela falta de políticas racionais e efetivas de segurança pública, foi dominada pelo discurso fácil que propõe a liberdade de ação para policiais (excludente de ilicitude) como forma de combater o crime.
É falsa a ideia de que uma polícia violenta e sem controle é eficaz. Ao contrário, as experiências mundiais bem-sucedidas na redução da violência têm invariavelmente partido de um maior controle e profissionalização da atividade policial, base a partir da qual se constroem relações de confiança entre a polícia e a sociedade.
Lamentavelmente, as dificuldades para a realização de reformas estruturais na Segurança Pública, fruto tanto de barreiras corporativas quanto de dificuldades ideológicas de compreensão do papel da polícia em democracia, fizeram com que o tema do controle da atividade policial tenha sido relegado a um segundo plano, em um momento em que as mortes praticadas pela polícia em diversos Estados brasileiros têm aumentado exponencialmente.
Também não se sustenta a ideia de que vivemos em um estado de exceção, no qual todos os policiais atuam ilegalmente. Há polícias militares em diversos Estados brasileiros que têm se preocupado em qualificar suas ações, elaborando protocolos de uso da força que passam a ser exigidos dos policiais para garantir a regularidade das intervenções em diferentes contextos. A licença para atuar sem controle e sem responsabilização pelos abusos tem caracterizado a ação das polícias em Estados cujos governadores eleitos se utilizam do discurso populista do combate ao crime para legitimar a ação ilegal e ilegítima das policias para angariar apoio popular. Invariavelmente as vítimas dessas ações são pobres, geralmente negros e moradores de periferia.
A democracia não é apenas o regime político em que governantes são eleitos. Só pode ser chamada democrática a sociedade na qual o uso da força pelo Estado é regrado e controlado. Não há como negar que vivemos em um país marcado historicamente por uma cultura autoritária, que aceita e legitima a violência estatal contra grupos sociais vistos como ameaçadores e violentos. Desde a proclamação da República, os períodos de regime autoritário, como o Estado Novo e a ditadura militar, apenas reforçaram e direcionaram a ação arbitrária e violenta das polícias para finalidades políticas, mas pouco impactaram sobre a cultura institucional tradicionalmente voltada muito mais para a garantia da ordem pública do que para a garantia de direitos.
Desde a Constituição de 1988, é inegável que avançamos institucionalmente na promoção de uma cultura democrática de atuação e funcionamento das instituições policiais. Os processos de formação policial foram aperfeiçoados, os mecanismos de controle, discutidos e suas falhas, apontadas. Novos padrões de atuação policial foram delineados e passaram a orientar os processos de incorporação de novos policiais civis e militares.
Mas também não se pode negar que os avanços foram pequenos. As polícias seguiram pautadas por um modelo reativo, os currículos oficiais continuaram competindo com um fazer policial aprendido na socialização entre pares, reproduzindo padrões de atuação marcados pelo tratamento desigual e arbitrário.
O mais grave, no entanto, é a disseminação de uma narrativa pautada pela irracionalidade, segundo a qual a culpa pela violência é dos chamados “especialistas” e defensores dos direitos humanos. Se de um lado é certo que não há democracia e garantia de direitos sem uma polícia preparada, por outro é inegável que dar ao Estado carta branca para atuar nos conduz ao ambiente pré-moderno dos Estados Absolutistas, onde não se distingue a força pública de uma milícia a serviço dos donos do poder. Para enfrentar esse dilema, é preciso voltar a pensar. Que as vidas perdidas dos nove de Paraisópolis possam cumprir esse papel, seria uma justa homenagem.