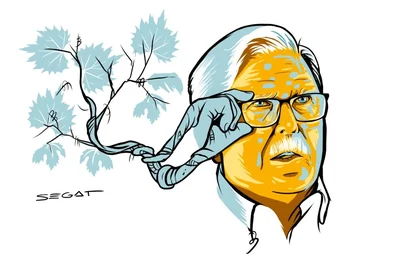O céu nublado parecia reforçar o clima introspectivo que toda manhã de domingo já tem. Pois sim: há uma tradicional modorra matinal aos domingos, coletivamente assentida, a que podemos nos entregar como a um direito. Sem o pique acelerado dos outros dias, levantamos mais tarde e, ainda bocejantes, vamos nos arrastando pela casa, entre pijamas e chinelos, penteando restos de sonhos que por acaso ainda reverberem na mente. E a cidade, serva fiel do relógio produtivo da economia, expressa no raro silêncio das ruas uma permissão a esse breve deleite preguiçoso. Quando sob nuvens cinzentas, então, tal redoma de “blues” nos abraça ainda mais.
Já escrevi algumas crônicas sobre o contexto das manhãs dominicais. Porque, como dito, é um turno especial na dinâmica da semana, apto, portanto, a uma percepção diferente da vida e de nós mesmos — o que muito interessa aos cronistas na eterna caça ao extraordinário oculto no ordinário. Já falei de ruas vazias e de tantos detalhes urbanos que somente em caminhadas mais desatentas ao chão se revelam. Faltava mesmo eu prestar atenção a esse estado de ligeira catatonia de quem nem sai de casa, com a cabeça ainda resistindo ao despertar.
Manhãs de domingo são mesmo estranhas. Nelas cedemos à ilusão de que suas poucas horas de ócio são suficientes para o resgate de uma paz que nossa alma carrega como nostalgia uterina. Nessas horas nos convencemos de que a vida está tranquila e pode ser sorvida devagar e sem atropelos. Ou seja, no usufruto incomum de um ritmo que deveria ser mais comum, asseguramos que está tudo bem — e nos enganamos, é claro! A noite dominical virá mais tarde, inexorável, com sua carga de ansiedade, qual um anjo azedo de espada em riste a nos expulsar do fugaz fragmento de éden.
Falando em paraísos construídos, nas manhãs dominicais, até para realçá-las em langor, costumo apelar para melodias que acompanhem meus bocejos e sonhos matinais (perdoai, Belchior). As canções soam ainda melhores quando nosso emocional encontra-se mais poroso. Sei disso por prática. Gosto de revisitar meus discos bem ali, entre o café e o almoço. E na manhã de domingo mais recente, pus a rodar o disco de Cartola de 1976. No meio dele, sem que eu esperasse, algo se acendeu em mim, feito um clarão de dentro.
Este é o disco que tem O Mundo É um Moinho e As Rosas Não Falam, joias de nosso cancioneiro. Viajei na delicadeza inata de Cartola. Com a vida duríssima que teve, o sambista da Mangueira tinha tudo para destilar amargura em suas canções, mas não: verteu-se em puro encantamento, sempre deixando bater outra vez com esperanças o coração. Eu já nem lembrava que no mesmo disco há a gravação de Preciso me Encontrar, samba de Candeia cuja introdução, um solo de fagote, invariavelmente me arranca lágrimas. É tristíssimo, como um réquiem, mas eis que entra a voz de Cartola com um arranjo vibrante, elevando tudo. E zás! A tristeza vira plena alegria!
Aquela mudança de tom na canção espanou de vez minhas brumas internas. Enquanto repicavam os sinos de São Pelegrino, chamando para a missa das dez, percebi que o sublime tem jeitos inusitados de nos despertar. Ao som de Cartola — “vou por aí a procurar / rir pra não chorar” —, louvei da janela, comovido, até o cinza das nuvens lá fora. E o domingo fez-se bonito.
Agora evoco o poeta Thiago de Mello num trecho de Os Estatutos do Homem: “Fica decretado que todos os dias da semana, / inclusive as terças-feiras mais cinzentas, / têm direito a converter-se em manhãs de domingo”.