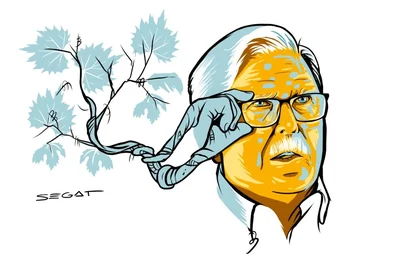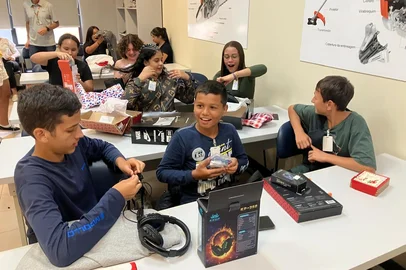Tenho emoldurada uma fotografia da atriz italiana Giulietta Masina em cena do filme A Estrada da Vida, de 1954. Dirigido pelo marido dela, Federico Fellini, é um dos meus filmes da vida, daqueles que reverei sempre. E muito da minha devoção se deve à personagem Gelsomina, vivida por Giulietta, que depois encarnaria Cabíria, noutro filme sublime do mesmo Fellini. Que rosto, meu Deus! Caetano Veloso dedicou uma canção à atriz, que termina assim: “Pálpebras de neblina, pele d’alma / Giulietta Masina / Aquela cara é o coração de Jesus”.
Perfeita tradução, Caetano! Acho que quando decidi emoldurar a imagem do rosto de Giulietta foi muito por essa associação com o coração de Jesus, como sugere a canção. Os semblantes da tola e humilhada Gelsomina e da prostituta de coração puro Cabíria exalam, ambos, nuances da mais refinada compaixão, coisa próxima da santidade. Sim, para além da reverência a uma atriz que amo, a foto de Giulietta Masina me evoca o que há de mais divino no humano — “tela de luz puríssima”, define a canção. O quadro se sacralizou!
No cinema transcendental nosso de cada dia, a cara de Giulietta Masina no retrato agora me leva a outro rosto com semelhante poder de permanecer hipnótico pelo avesso de minhas retinas, por entre as telas de dentro de mim. É o rosto de Fernanda Montenegro no final do recente filme Ainda Estou Aqui. Gente, aquela cara é o Brasil de agora!
Por conexões quadro a quadro, retrocedi à cena final de Central do Brasil, de 1998, também com dona Fernanda e igualmente dirigido por Walter Salles. Ali nos reconhecemos como nação na face em lágrimas de Dora, a mulher que atravessa o país numa jornada de redescoberta da própria sensibilidade e da ética. Salles muito comentou, à época, que quis falar de um Brasil cansado de explorações e com muito a dizer.
O Brasil de 1998 era um país que experimentava uma estabilidade econômica e política depois de décadas de caos. Um longo tempo de esperanças era prometido. Sem o atropelo insano da sobrevivência, parecia possível confiar no futuro, reaprender a amar — ah, esse verbo de tamanha fragilidade! O choro emocionado da personagem em cena era a expressão de um coração civil que se lavava, com ganas de renascer.
Bem diferente é a imagem que agora gruda na gente no final do também precioso Ainda Estou Aqui. Em poucos minutos na tela, Fernanda Montenegro nos abala com a expressão vazia de quem sofre com a doença de Alzheimer. Depois de acompanharmos por duas horas Fernanda Torres dando vida a Eunice Paiva em busca do paradeiro do marido e no esforço por manter protegida a família durante a ditadura militar, é chocante vermos a apatia a que a doença reduziu a brava mulher.
Mas a magia do cinema, evidente na síntese possível de uma única e potente imagem, nos conduz para além da compaixão pelo alheamento mental de Eunice Paiva no fim da vida. Na cena em questão, somos confrontados com a tragédia colossal de um país sem memória, a apagar, em opção pela ignorância, sua própria história recente.
A doença da personagem no filme é também a doença desse Brasil que ora flerta com o desvario de querer repetir o pior do passado. A cara de dona Fernanda no fim desse filme não nos conforta, como quando viveu Dora. Não há agora promessa de sossego, mas um alerta e uma convocação de resistência pelos direitos humanos.
Se soa natural Fernanda Montenegro representar na velhice a mesma personagem antes conduzida pela filha Fernanda Torres, como já fizeram em outras ocasiões, creio que nesse filme também importa o que a veterana atriz, com seus 95 anos, representa para o Brasil.
Fernandona é a cara mais digna do povo brasileiro, sua alma mais pura e autêntica, e simboliza o que não podemos deixar apagar. Talvez por isso aquele par de olhos sem foco, naquela cara sagrada, mexa tanto com a gente, filme afora, vida adentro.