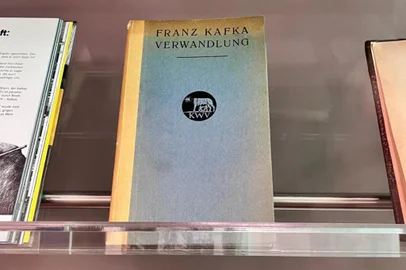Essa é uma história nova e, ao mesmo tempo, muito antiga. Nova porque começou a ser escrita, literalmente, há cerca de 30 anos, depois da Constituição de 1988, depois do início das políticas públicas para a alfabetização dos povos indígenas e da promulgação da Lei n.º 11.645, que, em 2008, incluiu a temática História e Cultura Afro-brasileira e Indígena no currículo das escolas. E antiga porque é milenar, remete a conhecimentos e tradições pré-Cabral e foi passada oralmente de geração em geração.
Uma história que começou a ser contada em livro por nomes como Eliane Potiguara, Kaká Werá e Daniel Munduruku, e que hoje encontra novas vozes, linguagens e temas – sempre com o mesmo respeito pela ancestralidade e pela terra.

Julie Dorrico tem 30 anos e é macuxi. Escritora, faz doutorado em literatura indígena na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Pelas suas contas, existem hoje, no Brasil, 57 autores indígenas. Ainda é pouco, mas é um começo – e Julie ajuda a divulgar o trabalho deles em seu canal no YouTube, o Literatura Indígena Brasileira.
Se antes o espaço era ocupado pelos autores de livros para crianças – uma estratégia dos próprios escritores que, ao iniciar o diálogo com a sociedade dominante, optaram por começar a falar com educadores e crianças –, hoje vemos pensadores como Ailton Krenak e Davi Kopenawa atraindo o grande público.
Ideias Para Adiar o Fim do Mundo, lançado por Ailton em 2019, segue na lista dos best-sellers e, com A Vida Não É Útil, (2020), já ultrapassa 60 mil cópias vendidas. A edição é da Companhia das Letras, que também publica Kopenawa e lançou, em 1997, o primeiro livro de Daniel Munduruku – o primeiro para crianças não indígenas. Os mais de 50 títulos de Daniel já venderam 5 milhões de exemplares.

Para Julie Dorrico, há um tema no mundo que tem favorecido a manifestação da literatura indígena:
— Uma preocupação coletiva com o ambiente, que sempre foi a dos indígenas. Isso permite que esse lugar de enunciação seja mais escutado.
A literatura indígena sempre discutiu isso e sempre se posicionou contra o capitalismo e a expansão. Agora, tem ensinado o leitor não indígena a repensar a história, a memória, os imaginários simbólicos.
Os autores são protagonistas e narradores de suas histórias, lidas sem mediação ou interpretação, sem os estereótipos que marcaram a figura do indígena brasileiro.
— A produção indígena tem duplo aspecto — comenta Kaká Werá. — É de resistência, e essa é uma bandeira importantíssima para as minorias em direito, mas é também de reexistência. Há uma indignação em relação à colonização, que é sempre tematizada, e também o orgulho de ser indígena e o sentimento de afeto que existe com relação ao povo.
A força da palavra

Julie Dorrico foi a editora convidada do primeiro número da revista p-o-e-s-i-a, parte de um projeto homônimo idealizado pela poeta Beatriz Azevedo, apadrinhado por nomes como Chico Buarque a Conceição Evaristo. A revista impressa é a contrapartida para quem apoiar uma campanha de financiamento coletivo que está sendo transformada em bolsas para poetas em vulnerabilidade.
Como Auritha Tabajara, a primeira cordelista indígena do Brasil. Contadora de histórias, ela teve contratos suspensos na pandemia e teve de deixar São Paulo, onde morava com a filha. Sem dinheiro, contou com ajuda de amigos para viajar de ônibus rumo ao Sítio Boa Esperança, no Ceará. Chegando à casa de sua avó, Francisca, 91 anos, a quem deve muitas histórias, soube que ia ganhar os R$ 600 da bolsa por três meses.
— Isso está me ajudando a comprar comida e a pagar a internet para eu conseguir continuar trabalhando, ou pelo menos divulgar o trabalho — contou Auritha, 40 anos, no mesmo dia em que participaria, sem cachê, de live de escola particular de São Paulo.
A vida não tem sido fácil para Auritha: indígena, nordestina, poeta, lésbica, dois filhos mortos e uma filha desaparecida. Agora, desempregada.
— Minha história é muito triste, mas é de superação. Nunca desisti dos meus objetivos e uso essa força na minha escrita. A literatura oferece um caminho e um alívio.

Às vésperas dos 70 anos, Eliane Potiguara, homenageada na revista, também fez da palavra a sua força. Autora de A Terra É a Mãe do Índio e de Metade Cara, Metade Máscara, ela é ativista e participou, no Brasil e no Exterior, de discussões sobre os direitos dos indígenas. Foi ameaçada de morte, sofreu violência sexual. Seguiu adiante, inspirou outros ativistas e escritores. Hoje, diz que os cânticos de seus avós adormeceram dentro dela. Cardíaca, ela se afastou dos protestos de rua. Restou a escrita:
— Meu movimento político hoje é incentivar os jovens e levar essa história para a frente, contando a verdade de quem somos, para onde queremos caminhar.
Enquanto cuida do coração na casa da filha, no Rio, Eliane se sensibiliza pelo avanço do coronavírus nas aldeias, onde o isolamento é mais difícil, e lamenta o retrocesso na questão da demarcação das terras indígenas:
— Um indígena sem terra significa um indígena predestinado à morte.