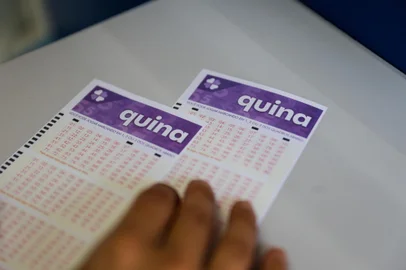Uma tradição da cultura açoriana está morrendo. Curiosamente, é daquelas que, para sobreviver, dependem da morte. As pessoas que a cultivavam também estão escasseando, e há solitários esforços para mantê-la ao menos na memória dos mais jovens.
Quando uma família era abalada pela morte de um ente querido, além dos trâmites fúnebres que se seguiam de praxe, havia o hábito de doar uma roupa do falecido.
O contemplado poderia ser alguém indicado por ele em vida ou uma pessoa que a família considerasse digna da honraria – próximo ou não daquele que se despediu desse mundo. O traje, seguindo as nuances de cada crença familiar, poderia ser a roupa preferida ou a mais solene do finado, ou até peças novas, compradas especialmente para o ritual que se chamava de coberta da alma ou coberta d'alma.
No Rio Grande do Sul, esse costume era preconizado nas comunidades do Litoral Norte e em cidades de outras regiões com colonização predominantemente portuguesa. O não cumprimento implicava privar o espírito daquele que se foi do conforto necessário no caminho a outro plano de existência.
Historiadora e integrante da Comissão Gaúcha de Folclore, a professora Marina Raymundo, de Osório, talvez seja a única pesquisadora do Estado atualmente a reunir um trabalho sólido sobre a tradição, tema para o qual se dedica há mais de 20 anos e do qual resultou o livro A Coberta d'Alma no Litoral Norte do Rio Grande do Sul (Editora Evangraf), lançado em 2015 e à venda nas unidades dos Doces Maquiné, na BR-101 e na RS-030.
— A coberta da alma é um costume ambivalente, porque muitas famílias, dependendo da crença, faziam isso para conscientizar a alma de que o corpo havia morrido e que ela poderia seguir em paz. Mas, ao mesmo tempo, era como se quisessem manter o falecido no convívio da família por meio daquele que recebeu a roupa — diz Marina.
Na casa de Serafina Moraes Brum, 72 anos, o que se sabe sobre coberta d'alma vai ficando cada vez mais resguardado às lembranças da mocidade desta costureira de Osório, conhecida no bairro Porto Lacustre como Dona Morena. Há quase dois anos, ela perdeu o marido, Lindomar da Silva Brum, aos 74 anos, vítima de um infarto. Pensou-se até em organizar o ritual, mas Morena não viu reverberar entre os familiares mais jovens a intenção de levar adiante a ideia. Quando jovem, ela lembra que a morte do avô foi seguida de um empenho familiar para que um amigo dele recebesse sua roupa preferida.
A coberta da alma deve ser usada pelo escolhido nas missas de sétimo dia ou de um mês. A mãe de Morena seguiu a tradição e, antes de morrer, há cerca de 50 anos, também instruiu que uma amiga de infância recebesse a roupa que havia determinado.
— A gente via os mais antigos fazendo isso, mas não perguntava muito o porquê. Era um costume, e a gente entendia como normal, mas era algo feito com a ideia de homenagear a pessoa. Hoje, não se faz mais isso. Pegam as roupas dos mortos e dão para os mais pobres e pronto. Eu não. Já separei o tecido para a minha coberta da alma — adianta a costureira.

No meio de retalhos, linhas e agulhas, Morena abre os cortes estampados que comprou há algum tempo para deixar o modelito pronto – prefere não confiar no gosto dos outros e correr o risco de que as peças não sejam feitas. Se morrer antes de concluir a confecção de sua coberta da alma, Morena já avisou que a honraria deve ser alegre, bem estampada e confortável. Ela não revela a quem quer que a roupa seja entregue. Marina comenta:
— As pessoas costumam não falar disso antes de o momento chegar, porque, na verdade, isso não é uma festa ou algo que tenha de ser anunciado a todos.
— É bom que eu não demore muito para fazer, né? — brinca Morena.
O morto entre nós
Na peregrinação por informações sobre a coberta da alma, a historiadora Marina Raymundo chegou a participar do curso Açores: Do Passado ao Futuro, em Açores, na Ilha Terceira, em Portugal, onde apresentou sua pesquisa. Nessas andanças atrás de depoimentos e informações sobre o antigo hábito pós-morte, ela descobriu que, por vezes, estabelecia-se uma relação quase sinistra entre os envolvidos. Uma das narrativas com a qual deparou foi a de um senhor que, quando era menino, recebeu a coberta da alma de um amigo falecido precocemente na infância. No período do luto, a família do morto passou a tratá-lo como se fosse o defunto, chamando-o, no dia em que foi receber as roupas, pelo nome do menino morto. Também seguia-se, em algumas casas, o hábito de presentear aquele que recebeu a coberta da alma no dia em que o morto celebraria aniversário se vivo estivesse.
— É por isso que digo que tem ambivalências. Um dos motivos para as pessoas praticarem o costume era, acredita-se, libertar a alma depois da morte, mas, fazendo isso, as famílias tinham a intenção de manter o morto presente — analisa a historiadora.

Alzira Genoveva de Souza Lima, 92 anos, lembra que a irmã Maria recebeu a coberta da alma da família de uma jovem que a tinha como grande amiga. Os trajes, novos e bonitos, foram usados pela irmã dela por muito tempo. Alzira é de uma das regiões onde mais se registrou o costume, o distrito de Cornélios, em Terra de Areia, também no Litoral Norte. Naquele tempo, recorda, tratava-se quase como ofensa uma família não entregar a coberta da alma diante do falecimento de um familiar. A roupa poderia ser usada não só nas missas póstumas, mas também no dia a dia, se assim fosse desejo da pessoa que a recebeu. Alzira, prestes a completar 93 anos, trava uma batalha com a memória para recordar os detalhes do ritual e lamenta que ele esteja se perdendo.
— Hoje, as pessoas mal vão à missa — reclama.
Na construção de seu livro, a historiadora Marina Raymundo colheu depoimentos que comprovam a importância que passava a ter aquele que recebia a vestimenta. A folclorista Marly Scholl, hoje com 80 anos e recuperando-se de uma queda, relembra que, quando sua afilhada faleceu, anos atrás, a menina que recebeu as roupas da homenagem passou a chamá-la de madrinha. Por um bom tempo era presenteada como se de fato fosse.
— Era como um prolongamento da vida — conta Marina.
No ano passado, o guarda civil municipal Charles Wilson Oliveira da Rocha, 44 anos, de Santo Antônio da Patrulha, viveu, ao lado dos familiares, a dor de perder uma referência de afeto, cultura e trabalho. O tio emprestado – já que não eram parentes de sangue, como diz – morreu repentinamente. Airton Ferreira tinha 69 anos e havia voltado dias antes de uma viagem ao Mato Grosso, onde representou a diretoria do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) na Festa Nacional de Arte e Tradições (Fenart), evento conhecido como o Brasileirão do Laço, modalidade em que era premiadíssimo país afora. Sobrinho e tio mantinham uma relação de respeito e admiração mútuos desde a infância de Charles. Foi Airton que incentivou Charles a cultivar as tradições gaúchas.
— Eu ficava pelos cantos, vendo como ele laçava, como se pilchava. Era como um pai — recorda.
Tamanha admiração não deixou dúvidas, entre a viúva e as filhas de Airton, sobre a quem a coberta da alma do tradicionalista deveria ser confiada. Charles então recebeu a honrosa incumbência de vestir-se com a pilcha preferida do tio para adentrar a Catedral Nossa Senhora da Conceição durante a missa de sétimo dia.
— Eu sabia que, na hora que entrasse, causaria um impacto nas pessoas que gostavam tanto dele, mas eu tinha de fazer essa homenagem. Algo muito forte me dizia que eu tinha de vestir a roupa dele. Receber essas roupas, que tantas vezes vi ele usar, é uma lembrança que vou levar para sempre comigo — diz Charles.

Um acerto de contas
A coberta da alma tem suas peculiaridades, de acordo com a crença de cada família, e também vai se adaptando a mudanças ao longo do tempo. Em cidades de Santa Catarina e em outras comunidades de colonização açoriana no Brasil, nota-se que há detalhes que diferem a prática e a motivação desse hábito.
No entanto, existe um quase consenso em algumas dessas razões. A primeira, evidentemente, trata-se de prestar uma homenagem à pessoa morta, conferindo-lhe respeito e ritual na despedida. Mas, entre os que conhecem o hábito da coberta da alma, é comum a explicação de que essa tradição também tentava aplacar o receio de que a alma chegasse nua aos céus ou ao lugar que a fé de cada um julgava ser seu destino após a inanição do corpo.
— A roupa que é vestida no caixão não serviria, porque seria impura e pertenceria ao mundo dos vivos. Por isso que algumas famílias compravam uma roupa nova para a coberta da alma. Alguns, mais pobres, chegavam a se endividar para garantir o costume. Entendia-se que a pessoa vestindo a roupa estaria também vestindo a alma do morto — explica Marina.
Sob outro aspecto, aqueles que se empenhavam em manter o costume também entendiam que era uma forma de garantir um bom juízo final àquele que morria. Dar uma roupa era atitude benfeitora que não ficava creditada à família, mas ao morto. Assim, conta Marina, estaria assegurado que, no acerto de contas celestial, ele, o falecido, teria uma boa obra a apresentar:
— Era uma forma de salvar a alma.