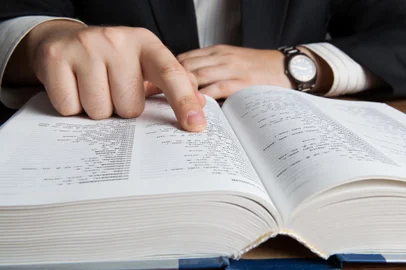O que caracteriza um povo civilizado? É grande a variedade de critérios que podemos adotar. Para os primitivos navegantes do mundo grego, ao chegarem a uma ilha desconhecida, o indício decisivo era a presença de campos cultivados — critério bem diferente, aliás, do que foi o adotado por um viajante inglês que, no século passado, acabou se perdendo numa trilha remota das montanhas dos Bálcãs: "Depois de caminhar por onze horas sem encontrar o mínimo vestígio de seres humanos, foi com alegria e com imenso alívio que pude ver, numa árvore, o corpo de um enforcado balançando na ponta de uma corda, pois isso me trouxe a certeza absoluta de que tinha chegado de novo à civilização". Ora, para o autor desta coluna, prezado leitor, povo civilizado é o que acredita na importância de votar.
Para justificar minha escolha, trago um incidente de 2.500 anos atrás, que já foi tema de uma crônica incluída no meu livro Cem Lições para Viver Melhor. Peço escusas ao leitor pela deselegância de citar a mim mesmo, mas não conheço exemplo melhor que o daquele teimoso capitão que ficou imortalizado na batalha de Plateia, quando Esparta e Atenas derrotaram os persas comandados por Mardônio. Eis a história:
"Por vários dias, numa planície da Beócia, gregos e persas vinham se estudando à distância, aguardando o momento propício para atacar. Como a água estava escassa, o alto comando grego decidiu aproveitar a escuridão da noite e recuar seu exército para uma região mais rica em fontes e mananciais. Os atenienses receberam a ordem sem discutir, mas o mesmo não ocorreu entre os espartanos: Amonfareto, chefe de um batalhão, recusou-se a obedecer, dizendo que ele e seus homens estavam ali para enfrentar os bárbaros que ameaçavam sua pátria e não iriam partir sem lutar. Os chefes alegaram que isso já estava decidido, mas ele redarguiu, indignado: "Pois eu voto por ficar!" — e, abaixando-se, pegou uma pedra no chão e foi depô-la aos pés do comandante geral, exatamente como se votava nas assembleias de Esparta.
Como ninguém queria deixá-lo para trás, começaram a discutir, tentando convencê-lo a partir. Enquanto isso, os atenienses, que tinham começado a retirada, detiveram-se alguns quilômetros depois, ao perceber que seus aliados espartanos não se moviam do lugar. Quase ao amanhecer, mandaram um mensageiro até lá; ele voltou perplexo, informando que todos estavam empenhados numa discussão interminável.
Quando o dia raiou, os persas viram o campo grego praticamente deserto: avistaram apenas a retaguarda do exército espartano que, apesar dos protestos de Amonfareto, começava a se afastar lentamente por trás de uma colina. Mardônio ordenou que apenas a cavalaria partisse em seu encalço, mas os demais chefes persas, imaginando que os gregos tivessem se acovardado, abandonaram suas posições e avançaram desabaladamente, preparando-se, não para combater, mas para caçar fugitivos apavorados. O resto é história: os espartanos fizeram frente à primeira onda do ataque, os atenienses voltaram para socorrê-los e os exércitos desordenados de Mardônio sofreram uma derrota fatal.
O que o espartano queria? Apenas participar, com uma pedrinha que fosse, da marcha dos acontecimentos. Podia simplesmente acompanhar os outros, mas não quis renunciar ao direito de expressar sua opinião na assembleia — no que estava certo, pois seu voto terminou afetando o desenrolar da batalha. Essa saudável vontade de influir, de ter algum pesono curso da História, por ínfimo que seja, talvez seja a última ilusão que ainda me resta. Sei que muitos, por cansaço ou desencanto, já desistiram e parecem não mais se importar se o seu candidato mentiu, roubou ou traiu os princípios que jurava defender nas eleições passadas — mas eu me importo. Por pura teimosia.