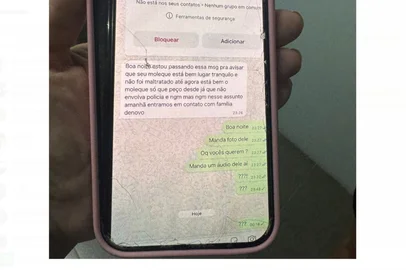O macabro cenário de cabeças cortadas e corpos desmembrados que abalou a capital gaúcha em anos recentes virou tema laureado na academia. A cientista social Marcelli Cipriani, 30 anos, conquistou o prêmio de melhor dissertação de mestrado em sua área pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs) em 2020 com o trabalho Os Coletivos Criminais de Porto Alegre Entre a “Paz” na Prisão e a Guerra na Rua. O tema é a guerra de facções estabelecida na cidade entre 2016 e 2018. Marcelli, que é bacharel em Direito e mestre em Ciências Sociais pela PUCRS e bacharel em Ciências Sociais e doutoranda em Sociologia pela UFRGS, comprovou que a batalha nos bairros não chegou à prisão, onde uma espécie de pacto de não agressão permitiu que as autoridades controlassem a panela de pressão das facções em convivência. Está longe de ser um trabalho teórico. Para realizá-lo, a pesquisadora porto-alegrense aproximou-se de “soldados” de facções, policiais, carcereiros e integrantes do Judiciário. Nesta entrevista, ela conta algumas de suas descobertas.
Como foi a logística da pesquisa, incluindo as entrevistas com integrantes das facções?
Fiz a pesquisa empírica em duas etapas. A primeira teve como foco a Cadeia Pública de Porto Alegre (Presídio Central). Lá, entrevistei os presos conhecidos como prefeitos, que são os responsáveis pela manutenção do espaço e que fazem uma “ponte” entre o dentro e o fora das galerias, conduzindo demandas coletivas à administração e repassando solicitações e avisos aos demais custodiados. Além dos presos, entrevistei policiais trabalhando no Central, funcionários do estabelecimento e integrantes do Judiciário ocupados com a Execução Penal, como membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Vara de Execuções Criminais. Ainda pude conversar com presos de galerias consideradas menos “problemáticas” em eventos ocorridos no presídio. Foi a partir desse punhado de depoimentos que deparei com o processo de “pacificação” da prisão, que se mantém apesar da coexistência – no mesmo estabelecimento, ainda que em diferentes galerias – de grupos rivais. Na mesma época, comecei a escutar de outros interlocutores sobre os eventos que se desenrolavam nas periferias da Capital e que relatavam um cenário distinto, de conflitos cada vez mais frequentes e extremos. Foi na segunda etapa da pesquisa que tentei entender o que estava ocorrendo, e, para isso, entrevistei adolescentes cumprindo medida socioeducativa em meios fechado e aberto, moradores de áreas de confronto e traficantes. De forma complementar, analisei um apanhado de vídeos e músicas divulgados pelos integrantes de grupos, que circulavam por distintas plataformas produzindo uma continuidade virtual dos conflitos, promessas de vingança e provocações. Na Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (Fase), no Central e nos Centros de Referência em Assistência Social (Creas) em que fiz pesquisa, conversei com os responsáveis de cada instituição para definir quem seriam os entrevistados. Na rua, entrevistei especialmente moradores. Quanto aos envolvidos no crime, o grosso das entrevistas foi feito nessas instituições.
Os chefes de galerias do presídio lhe receberam bem? Onde fez as entrevistas, num parlatório?
Me receberam muitíssimo bem, de forma educada e respeitosa. Sempre deixei claro que eu era uma socióloga e não uma agente do Estado. Ou seja, que meu papel não era de julgá-los nem de ter acesso a informações que pudessem comprometê-los ou me comprometer. Eu não queria saber nomes ou detalhes logísticos, nem acessar dados privilegiados sobre a dinâmica dos grupos – que, quando divulgadas, pudessem vir a ser prejudiciais a algum deles. Meu interesse era conhecer as histórias das pessoas que entrevistei, entrar em contato com suas perspectivas e entender seus pontos de vista, a partir de suas próprias leituras. Fiz as entrevistas em uma sala de atendimento. Pude ficar sozinha com os presos, embora eles estivessem algemados.
Antes desse trabalho, você já tinha ingressado na Cadeia Pública de Porto Alegre? O que lhe pareceu o local?
Não. A primeira vez que acessei o Central foi em decorrência da pesquisa, período no qual fiz dezenas de visitas, tanto para fazer entrevistas quanto para acompanhar inaugurações, eventos, e mesmo ajudar a organizar uma festa de Dia das Crianças e outra de Páscoa. Não cheguei nem perto das galerias consideradas “problemáticas”. Só pude transitar pela área administrativa, por alguns pátios e por galerias tomadas como “tranquilas”, como G, E e H. O ambiente é insustentável e congrega uma série de afrontas aos direitos e à dignidade dos presos. Esse cenário é amenizado em um ou outro espaço onde não há superlotação, mas a precariedade e a falta de investimento estatal se refletem em todo o prédio. É por isso que trato da “paz” entre aspas, porque não se trata da ausência de violações no ambiente prisional – que nunca deixaram de ocorrer, embora tenham mudado de figura –, mas da redução de instabilidades, das mortes cometidas por presos e do trato violento por parte da polícia, que eram corriqueiros entre a década de 1980 e a primeira metade dos anos 2000.
A popularização da tática de ‘tocar o terror’ foi um elemento central para a escalada de homicídios vista entre 2016 e 2017 em Porto Alegre. Porém, ao final desse período, o estado de conflito não era mais interessante para ninguém no âmbito dos negócios.
O que predominava quando você iniciou a pesquisa, acerto de contas interno nas facções ou guerra entre elas?
Os confrontos que ocorreram entre 2016 e 2018 foram repetidamente nomeados pelos interlocutores como uma consequência da “guerra das facções”. Ainda que esse seja um termo frequentemente usado no senso comum para descrever episódios de violência entre grupos criminais, o período trouxe particularidades que o diferenciava de outros momentos no crime. A principal característica da guerra foi a amplitude do engajamento, porque não se tratou de um conflito territorialmente localizado, embora os ataques tenham privilegiado algumas áreas de Porto Alegre. A guerra produziu um afunilamento das relações no mundo do crime, que ficaram praticamente polarizadas entre o embolamento dos Bala na Cara e o dos Antibala, aqui entendidos como frentes de aliança constituídas por vários grupos, que formam uma rede de apoios recíprocos e convergem para inimigos comuns, marcando quem são seus aliados e seus “contras”. Apesar de ambos serem entendidos como embolamentos, o primeiro corresponde a uma facção muito mais expressiva – os Bala na Cara – em torno da qual gravitam grupos aliados, enquanto os Antibala são uma composição entre agrupamentos, conquanto também haja diferenciações entre eles. Foi a declaração de existência do embolamento Antibala que marcou o início da guerra – e, segundo seus integrantes, a criação foi motivada pelo acúmulo de ofensivas dos Bala na Cara, um grupo que eles tomavam como opressor e cujas práticas, em sua interpretação, não estariam “pelo certo”. Assim, embora interesses instrumentais e estratégicos estivessem presentes – em especial, refrear os avanços dos Bala na Cara e se proteger de seu expansionismo –, o estopim da guerra envolveu uma distinção discursiva no plano da “ética do crime”, forçando uma tomada de posição de todos os agrupamentos, que tinham de decidir de qual lado estavam. Como decorrência, novos conflitos surgiram, porque grupos que inicialmente não se enxergavam como rivais passaram a se entender dessa forma por estarem associados a embolamentos opostos. Em paralelo, rivalidades pontuais que já existiam foram redimensionadas, pois seu caráter local ia sendo incorporado a essas grandes frentes de grupos, com adesões e simpatizantes espraiados por todo o município. Com isso, o número de inimigos potenciais de cada coletivo se tornou muito mais expressivo e pulverizado, dado que o binário “aliado e contra” mudou de figura: passou da escala dos grupos para a dos embolamentos.
Qual o fator de maior importância para a pacificação e a redução de homicídios desde 2016?
Em geral, oscilações nos índices de homicídio dependem de vários fatores. Enfatizando apenas as dinâmicas das facções, ou seja, sem considerar o papel das instituições de controle do crime, compreender o aumento da violência letal durante a guerra ajuda no entendimento da redução posterior. Afora os sequestros seguidos de morte, uma das principais táticas usadas no período foi a dos “atentados”. Grosso modo, são ataques feitos em grupo, direcionados a vilas rivais, em que os indivíduos passam atirando com a intenção de “tocar o terror nos contras” e não de “tomar a boca”. Ou seja, os homicídios cometidos nos atentados não se tratavam de um meio para atingir um fim imediato; eram um tipo de performance, uma forma de provocar o inimigo. Cada uma dessas incursões gerava represálias, que serviam não só para vingar os assassinados, mas também para reparar a “moral” do embolamento lesada com a afronta. Tornando-se uma tática contínua para afirmação do poder, os atentados levaram a um ciclo de violência recíproca entre Bala na Cara e Antibala, instigando reações não só de uma ou outra boca, mas de toda a frente de aliados. Como a vingança era devolvida nos mesmos termos – com disparos a esmo, em bocas ou vilas rivais –, não necessariamente atingia os responsáveis pelo atentado que a motivou, envolvendo cada vez mais pessoas, bem como suas redes afetivas, nesse confronto cíclico. Assim, no momento em que uma vingança era concretizada, equilibrando os termos, também inseria outros atores na relação, o que produzia uma nova demanda por vingança. A popularização dessa tática de “tocar o terror” foi um elemento central para a escalada de homicídios vista entre 2016 e 2017 em Porto Alegre. Porém, ao final desse período, algumas coisas já haviam mudado, contribuindo para que os grupos cessassem os ataques e os índices começassem a baixar. No início de 2018, o V7 – principal grupo na articulação dos Antibala – já tinha conquistado duas galerias no Central, elevando seu status no crime. Apesar desse salto qualitativo, que foi um saldo da guerra, o estado permanente de conflito não era interessante para ninguém no âmbito dos negócios. Um “crime pacificado”, como costumam defender os Manos, não só possibilita a preservação da vida dos envolvidos como maximiza os rendimentos, já que a guerra contribui para afastar os consumidores da boca, estremecer a presença das facções nas comunidades e intensificar as operações policiais. Diante de uma guerra cuja principal dimensão, a partir de certo momento, não estava rendendo ganhos territoriais para ninguém, o custo se tornou muito alto. Essa racionalidade foi incorporada pelos grupos e colaborou para um cessar fogo em 2018 – que, porém, sempre pode vir a ser abalado por tentativas de retomada de território, pretensões expansionistas, novas alianças e rivalidades, dentre outras razões.
Na prática, a situação (dos presídios) é inviável, a polícia não tem como resolver, no máximo gerir. Então, percebeu-se que era preciso incorporar os presos nas engrenagens. Assim, as facções organizam certas situações.
No Interior, não vigoram muitos acordos. Facções que colaboram com Os Manos têm disputas com os Bala na Cara. Por que, se em Porto Alegre funcionam alguns acertos territoriais?
O grau de estruturação do crime não é o mesmo. Na Capital, a reorganização das facções em torno de embolamentos passou a conceder dimensões muito mais expressivas para qualquer tipo de conflito. Por meio do apoio, um mecanismo que pressupõe a reciprocidade de favores e serviços entre aqueles que estão embolados, bocas invadidas podem recorrer a uma vasta rede de aliados para pedir auxílio na defesa de seus territórios, o que envolve o empréstimo de armas e a agregação de indivíduos. Assim, confrontos pontuais podem facilmente escalar para disputas generalizadas, o que aumenta o grau de imprevisibilidade dos ataques. Ademais, em Porto Alegre, alcançou-se uma espécie de estado de saturação, o que torna a conquista de novos territórios mais delicada, especialmente considerando-se a tendência ao controle, pelos embolamentos, de vilas inteiras ou de grandes trechos de vilas, que se tornam áreas fortemente protegidas. Não me ocupei com o processo de interiorização dos agrupamentos, mas os dados que colhi sugerem que esses foram fatores que contribuíram para a transferência de interesses dos grupos para outros municípios, onde a expansão territorial é mais viável. O método utilizado parece ser semelhante ao da constituição de embolamentos, já que grupos maiores – como Bala na Cara e Manos, que em Porto Alegre não se atacam – se vinculam, por meio do apoio, a agrupamentos nativos de bairros interioranos, que se tornam os principais protagonistas nos enfrentamentos que lá ocorrem. Assim, os grupos grandes disponibilizam armamento, partilham expertise e eventualmente enviam pessoal para o Interior, em troca da aliança dos grupos menores, de sua fidelidade na compra de drogas e do engajamento nos conflitos locais. Com isso, as duas principais facções da Capital operam como investidoras dessas disputas –recebendo, em retorno, a ampliação de sua esfera de compradores e assegurando a presença em novas áreas. Ao mesmo tempo, preservam o núcleo duro de cada embolamento, pois seguem mantendo o acordo de paz em Porto Alegre, em que o enfrentamento direto traria poucos benefícios.
Seu trabalho mostra que existia um acordo de não agressão dentro dos presídios, pelo menos nos maiores. Por que as facções não reproduziam isso fora da cadeia?
O principal objetivo da administração prisional é manter a prisão funcionando sem o surgimento de problemas, especialmente aqueles que têm alto custo político, como motins, rebeliões e homicídios. Esse é um grande desafio para a polícia diante de questões como a falta de efetivo, a superlotação, o pouco investimento no preso e no sistema e as dificuldades para o contato com os custodiados, já que as celas do Central não têm grades e a polícia não entra rotineiramente nas galerias, por onde circulam centenas de presos. Na prática, trata-se de uma situação inviável, que a polícia não tem como realmente resolver, no máximo gerir. Então, para que a gestão seja possível sob essas condições, eventualmente percebeu-se que era preciso incorporar os presos nas engrenagens, contando com a sua contribuição para organizar as relações nas galerias, repassar solicitações de atendimentos, efetuar tarefas do dia a dia e mesmo reduzir a precariedade de vida dos presos. Assim, as facções organizam certas situações, evitam conflitos, oferecem complementos à alimentação e material de higiene, fazem melhorias estruturais no prédio e até bancam a contratação de serviços, como dedetização do ambiente e compra de itens de limpeza. Assim, a facção assegura condições um pouco melhores para os presos, garante a “paz” e se consolida diante da população encarcerada, solidificando os laços de lealdade e gratidão. De outro lado, garantindo a ausência de violências e de turbulências entre custodiados e mantendo o diálogo com a administração, os integrantes das facções podem gerir suas galerias, autorizar ou vetar a entrada de novos moradores – o que é uma forma de a polícia evitar conflitos internos pela incompatibilidade entre presos – e criar suas próprias regras de convivência. Com isso, porém, a galeria torna-se um nicho de relações negociais e para a construção de alianças, agregando traficantes de lugares variados e viabilizando trocas comerciais. Ainda, possibilita a projeção de territorialidades para o lado de fora, já que as alianças firmadas na prisão serão refletidas na geopolítica dos bairros, em novos arranjos de compra e venda de drogas e de armamentos, nos favores e serviços recíprocos entre agrupamentos etc. Portanto, sob uma “paz armada” na prisão – que certamente é melhor para todos, presos e policiais –, os grupos aproveitam para se fortalecer na rua, onde o eixo de seu antagonismo não é mais com a polícia, mas com os “contras”. Nesse sentido, pode-se dizer que a “pacificação” prisional permite a convergência entre os interesses das facções e as necessidades funcionais da administração, já que esse tipo de reprodução do sistema em “ordem” gera, ao mesmo tempo, o empoderamento dos grupos do lado de fora e a viabilidade cotidiana da prisão. Entretanto, esse equilíbrio entre polos opostos não necessariamente se reproduz na rua, onde a configuração entre guerra e paz é outra – e, no caso de Porto Alegre, tem como foco os acordos ou conflitos entre as facções e não entre facções e polícia.
Os “prefeitos” das galerias rivais falavam entre si? Chegavam a se encontrar?
Em geral, ficam bem separados, há toda uma logística para uso do pátio e dos corredores para evitar problemas. Mas, em alguns momentos-chave, eles foram chamados para reuniões coletivas com a administração prisional ou o Judiciário. É compreensível, já que, se uma galeria brigar com a outra, o Batalhão de Choque vai entrar – “A polícia vai ter que medir força com a gente, o que não é bom para ninguém”, disse um entrevistado –, a luz e a água serão imediatamente cortadas, os presos perderão o direito à visita. Como falou outro: “Todo mundo, a segurança, os presos e as prefeituras das galerias que se atacarem vão ter algum prejuízo. E dificilmente vai ter um retorno. Pra que fazer?”. E outro: “A gente se tolera porque todo mundo sai ganhando. Então a gente decidiu viver melhor assim, se respeitar, se tolerar. Até os inimigos têm que se aturar. Tem cara que é inimigo de morte na rua, mas que aqui só se olha... Se intimida”. A regra, enfim, colou: “Aqui, nós, líderes de galerias, nos damos bem. Na rua não vai ser da mesma forma, mas aqui a coisa é assim”.