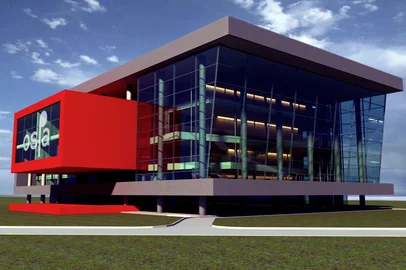Jornalista
Em artigo no caderno PrOA do último domingo, o artista Alfredo Aquino falou sobre o grafite feito na fachada de um condomínio em Porto Alegre, em homenagem ao traficante Xandi, morto em janeiro deste ano. Ao tratar de um caso específico, Aquino condenou o grafite integralmente como forma de expressão.
Um dos pioneiros do Novo Jornalismo, Norman Mailer foi, também, um dos primeiros intelectuais a tentar sofisticar o debate sobre grafite. Sua análise na revista Esquire, em 1974, identificava o movimento como o fenômeno artístico mais interessante da época, quando ainda se resumia a nomes escritos em letras garrafais com sprays ou canetas nos metrôs de Nova York. Mais de 30 anos depois, o documentário Pixo (2010), de João Wainer e Roberto Oliveira, mostrou os bastidores da pichação na megalópole São Paulo, onde, desde os anos 1980, jovens deixam sua marca na arquitetura caótica e verticalizada da poluída pauliceia. Trata-se do mesmo tipo de rabisco feito na década de 1970 pelos jovens nova-iorquinos: lá, majoritariamente os negros e imigrantes latinos; em Sampa, os moradores do subúrbio e das favelas. Os dois grupos movidos pelo ego, pela adrenalina e, aqui vale o grifo, pelo desejo de dizer "eu existo". Se no longa são os protagonistas do movimento que o analisam, na reportagem é Mailer quem afirma que o grafite é a língua dos anônimos: provoca e demanda que um mundo indiferente reconheça o talento, a individualidade e a mera existência de seus criadores.
Com a evolução dos riscos a desenhos mais complexos, temos o nascimento do grafite criticado por Aquino, em constante transformação, mas agressivo em essência - estranho seria se não permanecesse sendo atacado. O artista define o fenômeno como uma "iconografia do horror", de redundâncias ilustrativas e temas banais. Ao generalizá-los como desimportantes e mal pintados, generaliza também a forma como são recebidos, já que lamenta pelos que são obrigados a ver "obras tão mal realizadas".
Se comover-se com grafites é sinal de falta de cultura, há um belo time de ignorantes para confortar a mim e a tantos outros que dispensam a compaixão do artista. O poeta Paulo Leminski, entusiasta das pichações curitibanas, via no fenômeno um desdobramento do que se chamava de "poesia marginal" nos anos 1970, o grito de uma juventude sufocada. O escritor e professor Charles Kiefer, ao falar sobre o que mais gostava no bairro Bom Fim, em entrevista a Zero Hora, derreteu-se de elogios por um grafite bastante simples localizado na esquina das ruas Vasco da Gama e Fernandes Vieira. Há tempos a pintura, uma mulher de lábios vermelhos e cabelos longos, desapareceu, e aqui entra uma das delícias e angústias desse tipo de intervenção: a efemeridade. Os grafites têm prazo de validade. Ao serem substituídos, transformam-se, mostrando de forma sutil como mudam os temas da cidade.
Aquino resume a crescente aceitação da prática à demagogia e à "conveniência de interesses", como se não passasse de oportunismo político quando um túnel como o da Conceição é entregue a grafiteiros para ser reinventado. Em que pese ele considerar a pintura colaborativa uma agressão, é difícil crer que alguém prefira o túnel marrom amarelado de outrora. Quando uma intervenção deste porte acontece, Porto Alegre se aproxima de cidades como Nova York, Paris e Londres, que cedem seus muros por reconhecerem no grafite um espelho das belezas que existem no íntimo de seus moradores. Condena-se o grafite pela poluição visual, mas o caos do aglomeramento opressor, da poluição, da histeria publicitária e da desigualdade é anterior ao grafite e seus temas. A estética do grafite é, também, fruto desse contexto: focar o incômodo na forma de expressão é ignorar um caos anterior a ela, o caos sufocante do qual ela emergiu.
Quando o artista se incomoda com a incorporação do grafite pelo capitalismo, omite que a arte é vendida: precisa de financiamento. E isso inclui a arte engajada, que vai buscar na miséria alheia a inspiração e a matéria-prima de um trabalho cujos frutos muitas vezes não serão divididos. A existência de grafite autorizado em si já indica certo esvaziamento do caráter transgressor da prática, que nasceu criminosa. Ora, isso é bom. Marginalidade na arte dos outros é refresco. Muitos dos grafiteiros que encontram reconhecimento saíram de comunidades carentes e ganham a vida com sua obra. Hoje, o mercado da arte movimenta bilhões, o que inclui grafites certificados como "fine arts".
No longa Saída pela Loja de Presentes, indicado ao Oscar de 2010, o narrador e diretor, Banksy, um dos principais nomes do gênero, expõe seu desconforto quando suas pichações em muros londrinos passam a valer milhões e seu estilo começa a ser copiado e comercializado, alimentando o que era o objeto de sua indignação. Ao expôr a contradição, Banksy revela também a necessidade de aceitação inexorável a qualquer artista. Ou melhor, a qualquer ser humano.
Há, também, um componente de falta de solidariedade na bem-intencionada crítica de Aquino. Sim, um grafite em homenagem a um traficante choca. Choca por obrigar os cidadãos a verem a obra que enaltece um criminoso como herói, choca por estar ao lado de uma escola. Mas não nos sentimos chocados quando, intimada a apagar a obra, a presidente da associação de moradores do condomínio afirma que nem a polícia nem a tinta vão apagar o sentimento dos moradores por ele? Não choca a possibilidade de um criminoso fazer mais por comunidades repletas de "cidadãos de bem" do que o poder público? Não são os motivos existentes para enaltecer os traficantes mais chocantes do que o enaltecimento dos traficantes em si?
Grafite é, também, o ruído incômodo da falta de empatia: os gritos que preferimos sufocar e sentimos desconforto ao ouvir.