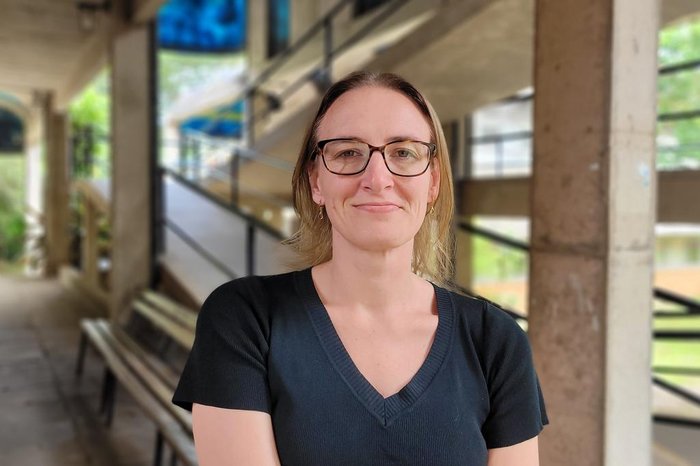
Tudo corria normalmente para Fernanda Staniscuaski se tornar uma cientista bem-sucedida. Formada em Ciências Biológicas e com doutorado em Biologia Celular e Molecular, ambos pela UFRGS, fez pós-doutorado na Universidade de Toronto, no Canadá. Aos 29 anos, passou em um concurso para docente da federal onde havia estudado e, aos 30, já lecionava e conquistava editais de financiamento internacionais. A história começou a mudar dois anos depois, quando teve seu primeiro filho: passou a perceber uma dificuldade maior para obter verbas para pesquisa, porque as disputas exigiam uma produtividade inviável para a mãe de um bebê. Em 2016, já com o segundo filho nos braços (hoje são três), a pesquisadora criou o movimento Parent in Science (“Pais na Ciência”), que levanta dados sobre a disparidade de acesso das mães cientistas a instrumentos que lhes permitam avançar na carreira acadêmica e propõe mudanças nas políticas que ainda não levam em conta a parentalidade. Fernanda concedeu a seguinte entrevista a GZH.
Por que “Parent In Science”, e não “Mother In Science”, se o foco das pesquisas é a maternidade?
O nome ficou assim porque a gente não queria falar só de mães, até para quebrar essa discussão de que, se a gente fala de filhos, vai falar de mãe. Deveria ser mais amplo. E o nome ficou em inglês porque em português não funciona: a tradução literal ficaria “Pais na Ciência”, que remete mais aos homens, e todos os avanços que a gente teve foram focados nas mães, apesar de a gente trazer a discussão da parentalidade, e não só da maternidade. Porque a gente ainda vive em uma sociedade em que quem cuida são as mães. Agora, desde a formação, o Parent já tinha um pai com a gente, o Felipe (Ricachenevsky), do Departamento de Botânica da UFRGS, e entre os embaixadores também há professores de outros lugares. Mas enquanto ainda tivermos essa sociedade na qual todo o ônus da maternidade recai sobre as mães, as políticas serão voltadas para elas. Óbvio que há exceções. Meu marido foi uma: foi ele que ficou em casa de 2016 até 2018 cuidando dos meus filhos. Inclusive, muito do crescimento do Parent veio disso. Mas sei que foi uma exceção.
Apesar desse privilégio, seus relatos são de dificuldades sentidas depois de se tornar mãe. Quais foram os obstáculos?
Em março de 2013, tive meu primeiro filho. Em 2014, foi o último edital que ganhei na área da Biotecnologia, que foi o edital universal do CNPq. Um pouco da história do Parent vem de um parecer que recebi do CNPq que dizia que não tinha nenhum problema com a minha trajetória e o projeto que eu estava submetendo, mas, comparado aos meus pares, eu não tinha publicações e orientações que faziam sentido para eles. Sim, mas não se considerou que eu havia tido dois filhos, ficado um ano de licença formalmente e que, quando a gente volta da licença, a gente não para de cuidar dos filhos. Criei o Parent quando comecei a me questionar: “Não vou seguir essa carreira, não é para mim”. Mas falei com outras pessoas e percebi que aquilo não era algo individual: era um problema maior. O Parent surgiu num contexto em que a gente não tinha muitos números, nessa área, para trabalhar. Nosso primeiro projeto de pesquisa foi um levantamento para avaliar o impacto da chegada dos filhos na carreira de homens e mulheres docentes de universidades. Aí, começamos a trazer números, o que mostra que eu não abandonei a ciência, como algumas pessoas imaginam. Ouvi isso várias vezes: “Mas você não vai voltar a fazer ciência?”. O que vocês acham que eu estou fazendo? É uma ciência diferente, mas é ciência da mesma maneira.
Quais dificuldades as mães sentem na carreira acadêmica, em cada etapa?
Há impactos em todas as fases da carreira. Para uma estudante de graduação que é mãe, a questão da permanência é muito importante, pois vai estar vinculada à questão econômica. A gente sabe que a rede pública não atende à demanda por creches e que nem toda cidade vai ter a opção da Educação Infantil em tempo integral, e tem universidades em que as crianças não podem ir com a mãe para a aula, o que é um ponto polêmico, porque não existe nenhuma lei que permita, mas também não há lei que proíba. Também não existe, nacionalmente, um auxílio-creche, nem licença-maternidade para as estudantes. Não há uma regra geral para abono de falta em função de questões de saúde dos dependentes. Na pós-graduação, ainda se passa por essa questão financeira, mas aí entra num outro ponto que estamos tentando resolver há algum tempo, que são as métricas da Capes. Um dos pontos que várias áreas ainda mantêm é o tempo médio de titulação: 24 meses do mestrado, 48 do doutorado. Se fica muito maior, isso tem um impacto na nota do programa, que vai repercutir em 1 milhão de coisas. Mesmo com a lei da prorrogação das bolsas por quatro meses, os programas relutam em aceitar isso, porque aumenta o tempo de titulação. Então, a Capes atualizou sua plataforma e existe, agora, um campo para informar a licença de docentes e discentes, para não incidir. Esperamos que os documentos diários da Capes tragam explicitamente essa informação, para elas terem o direito básico de tirar uma licença de verdade, sem o orientador buzinando que tem de entregar a tese no dia tal. Agora, a Faperj (agência de fomento do Rio de Janeiro), junto com o Serrapilheira e com o nosso aconselhamento, vai abrir o primeiro edital do Brasil de retomada de carreira para as mães cientistas que saíram de licença. Vai ser o primeiro, e isso agora, em 2024. É um desafio se manter dentro da ciência até chegar no topo, nas bolsas de produtividade. Temos, há 20 anos, 35% de mulheres nesse topo. E o índice não muda.
Que contribuições o Parent já trouxe?
Tem toda a questão social de tirar a maternidade da invisibilidade, que acho que foi muito importante. Eu sofri consequências práticas de não ter uma política de apoio, de pensar “ah, sou eu, não nasci para ser cientista”, “na minha carreira, não posso ter as duas coisas” etc. A sensação de que tu tens de escolher, ou vais ser miserável nas duas coisas. Uma contribuição do Parent foi trazer essa discussão à tona e deixar bem claro que essa não é uma questão pessoal, apesar de a maternidade ainda ser vista como um projeto pessoal. Já deveríamos ter avançado na discussão da maternidade como função social, porque ter filhos é o mínimo que precisamos para manter a humanidade. Mas a gente só coloca na conta da mulher. O Parent traz essa discussão e oferece um acolhimento a todas essas mães.
Já deveríamos ter avançado na discussão da maternidade como função social, porque ter filhos é o mínimo que precisamos para manter a humanidade. Mas a gente só coloca na conta da mulher.
Um movimento forte que o Parent In Science já encampou foi o de incluir a licença-maternidade no Currículo Lattes. Como foi isso?
Foi uma batalha muito grande. Ficou com um campo de licenças e, lá, tu consegues, desde 2021, colocar os teus períodos de licença-maternidade. Não era exatamente o que a gente queria, porque não necessariamente a pessoa teve o direito de licença. Se ela teve filho durante a graduação ou da pós, a gente não tem uma lei, ainda, que garanta a licença-maternidade para a estudante. É surreal, e o desconhecimento das pessoas sobre o tema é mais surreal ainda, porque a gente fala nisso e citam aquela lei da década de 1970 que garante os exercícios domiciliares. Exercício domiciliar não é licença, sem contar que são 90 dias, só, então não existe. Também tem aquela lei de prorrogação das bolsas, que foi aprovada agora, que também prevê a ampliação por um prazo de seis meses para as defesas de mestrado e doutorado. Mas não é uma lei que garanta a licença. A gente precisa de uma lei. Espero que, em um futuro próximo, isso aconteça.
Durante a pandemia, o movimento lançou um programa de permanência de alunas mães. No entanto, o Parent nunca teve dinheiro. De que forma essa iniciativa foi viabilizada?
O programa Amanhã surge porque quando a gente fez o levantamento, durante a pandemia, mais ou menos 40% dos estudantes de mestrado e doutorado disseram que estavam seguindo normalmente com as suas teses e dissertações. Já era um número difícil. Mas, quando olhamos as mães, esse número caía muito. E, quando olhávamos para mães negras, menos de 10% disseram que conseguiam seguir, por questões de cuidado, mas também pela questão financeira. Um monte de gente vivia com trabalhos esporádicos, e isso sumiu na pandemia. Então, a gente criou o Amanhã, um programa de auxílio financeiro. Foi uma experiência muito legal, porque a gente, enquanto movimento, não tinha dinheiro. Lançamos no início de 2021 uma campanha de arrecadação voluntária e smamos R$ 120 mil em pouco mais de um mês. Foi a primeira vez que ficou nítido o alcance que o Parent tinha. Com isso, auxiliamos 29 estudantes mães de pós-graduação que estavam no último ano, precisavam defender, mas não estavam conseguindo. Demos prioridade para estudantes negras e indígenas. No final de 2021, ganhamos um prêmio da Nature, e ele veio com dinheiro. Em 2022, fizemos um programa voltado a alunas de iniciação científica da graduação que não tinham bolsas. Mantivemos 13 alunas com bolsas de R$ 800 com esse dinheiro da Nature. Em 2023, tivemos a terceira edição, de novo com financiamento das pessoas. São 11 alunas de final de curso, que são mantidas com R$ 800 por mês. Não sei se vamos seguir adiante. Foi um desdobramento, de sair da nossa pesquisa para algo na prática, que sempre quisemos fazer.
Que outras mudanças práticas nas políticas já aconteceram?
Com os dados que geramos, começaram a surgir políticas voltadas para as mães, ainda que pontuais. A Universidade Federal Fluminense foi uma das pioneiras ao colocar nos editais um fator de correção na nota. Hoje, há muitos exemplos em instituições, a partir dos dados gerados pelo Parent. Também se adota a ampliação do prazo. Por exemplo, é comum nas agências de fomento e nas universidades se perguntar o que se produziu nos últimos cinco anos. Se a cientista esteve de licença, teve filho, se amplia esse tempo, olhando os últimos sete anos.
A academia é bastante arrogante, né? Tipo ‘ah, sou cientista, posso avaliar’. Tu tens os teus vieses, e combatê-los é um processo consciente. preciso ter consciência de que reproduzo alguns preconceitos e combatê-los, se não não vai mudar.
Foi a mudança feita pelo CNPq agora, não?
Sim, foi a mudança geral feita pelo CNPq. Essa mudança já tinha acontecido em comitês de assessoramento. Acho que, em 2018, uma das engenharias foi o primeiro comitê a adotar essa transformação. Em 2021, 30% dos comitês do CNPq tinham incluído, mas ainda não era uma regra geral. E, depois de toda a repercussão, agora é uma regra geral: não é mais escolha do comitê incluir isso ou não. Mas essa não é a única medida. Na UFRGS, por exemplo, desde 2021 ou 2022 os concursos para docentes têm um fator de correção. Uma das partes do concurso é a nota do currículo, e aí então se adotou um fator, que vai variar por área. Para a mulher que teve filho até seis anos antes do concurso, se multiplica a nota do currículo por 1.05 a 1.2. Também já houve adoção de cotas, nos editais de iniciação científica, para orientadoras que estavam de licença-maternidade.
A repercussão que você menciona é sobre o caso da cientista social Maria Carlotto, docente da Universidade Federal do ABC que denunciou um parecer emitido pelo CNPq que usava as gestações dela como justificativa para negar uma bolsa de pesquisa. Como ainda é sentido esse preconceito?
A gente tem, principalmente na academia e na ciência, essa ideia de um cientista como uma pessoa extremamente pragmática, impessoal, a quem nada influencia. Não é isso. A maternidade faz parte da nossa carreira. Houve muita polêmica com esse parecer do revisor, mas tem gente que ainda vai sofrer preconceito, e a gente ainda tem que trabalhar muito contra isso.
A senhora considera que é mais difícil para as mães na área acadêmica do que no mercado de trabalho em geral?
Acho que é tanto quanto. Talvez sejam um pouco exacerbadas algumas questões, por exemplo, essa questão de produtividade. A gente está muito apegado a números. O rendimento e a avaliação da produtividade têm mudado. A gente sabe que há um esforço para ser algo um pouco mais qualitativo, mas ainda é muito numérico. Em alguns setores, uma avaliação qualitativa pode fazer mais sentido do que uma numérica. Mas a academia é um espelho da sociedade. Todos os preconceitos que existem são reproduzidos aqui. Essa penalização da maternidade é bem estudada, só que a pressão para que isso mude tem de vir de todos os lados.
Há exemplos de outros países que tenham experiências positivas com essas mudanças nas políticas?
Sim. Existe uma iniciativa que é a Mothers in Science, uma organização internacional. Nós participamos de um levantamento deles. Então, não é uma questão exclusiva do Brasil. Mas existem, sim, países onde a gente tem, já, algumas iniciativas mais avançadas. Nada, ainda, do tipo “ah, é isso aqui que a gente quer”. Na Austrália, onde desde 2018 temos conversado com agências de fomento, o governo da província de Queensland tinha um programa fantástico: a docente saía de licença e ganhava, acho que, na época, 25 mil dólares australianos (cerca de R$ 80 mil) e podia escolher se iria contratar alguém para ficar no laboratório dela cuidando de tudo, se ia usar esse dinheiro depois, para retomar a carreira, se ia usar esse dinheiro para ir a eventos. Eles fizeram a análise e constataram que 90% delas permaneceram em um estágio adequado da carreira em função desse auxílio. Então, há, sim, políticas efetivas. Infelizmente, várias delas vão demandar recursos. A questão é: quando a maternidade vai ser prioridade na ciência?
Que projetos estão em andamento atualmente no Parent?
A pandemia veio muito forte, e a gente teve também um papel importante de trazer dados para o nosso contexto aqui do Brasil, já com uma experiência muito melhor nos recortes necessários, trazendo as questões racial e econômica, que não podem ser separadas da pauta da maternidade. Também tivemos agora um projeto aprovado no Conselho Britânico. É uma parceria com a Universidade de Oxford Brookes. Vamos fazer uma análise de lá e daqui de políticas de equilíbrio da vida privada e da profissional, não só de maternidade, porque lá eles têm um trabalho mais amplo nessa questão. Aqui, a gente está ainda engatinhando em coisas como políticas para a parentalidade, mas equilibrar a vida pessoal e a profissional não é só parentalidade. A gente ainda teve aprovada no comitê de ética uma parceria com a Aline Dini, uma pessoa envolvida com essa questão da maternidade tardia. Ela tem o perfil Mãe aos 40, no Instagram, e a gente tem a sensação de que, na academia, se posterga a maternidade, o que é apontado por alguns dados. Por exemplo, para as alunas de pós-graduação, o nascimento do primeiro filho é aos 29, que já está acima dos 26, que é a média do Brasil. Quando a gente fala de docência, a média de nascimento do primeiro filho é com 32 anos. Temos alguns dados, mas queremos comparar a academia com outros setores. Vai ser um estudo bem legal que deve ser lançado em abril.
Que desafios ainda precisam ser superados no combate à desigualdade de acesso a mãe na academia?
Estamos tentando retomar agora algo importante. Sempre que falamos em políticas de apoio, principalmente para as mães, falamos de temporalidade: elas envolvem um período da infância. Mas, quando falamos, por exemplo, de mães e pais de pessoas com deficiência, essa temporalidade não necessariamente existe. Talvez o cuidado tenha que ser para sempre. A gente não pode desenhar uma política que não contemple esses cenários. Ainda enxergamos a maternidade de um ponto de vista estreito, e é a coisa mais plural que tu vais encontrar na vida, desde a questão racial, econômica, de deficiências. Também aspectos práticos. Por exemplo: se um casal de mulheres, na universidade, vai ter um filho, seja por via biológica ou adoção, uma tem direito à licença. A outra, quando entra na Justiça, ganha o equivalente à licença paternidade, de cinco dias. A gente precisa de um olhar muito mais amplo quando fala dessas políticas. Estamos muito defasados.
Qual é a sensação quando uma autoridade diz que toda essa mobilização de vocês “atrapalha”, como afirmou o presidente do CNPq, Ricardo Galvão?
O mais grave é a falta de entendimento da situação. É alguém que está numa posição de tomada de decisão de um órgão importante dentro do nosso sistema de pesquisa do Brasil e que não entende a necessidade de ter ação afirmativa, de ter políticas voltadas para as mulheres com recorte de raça, de entender a necessidade de quem está lá dando os pareceres ter um treinamento. A academia é bastante arrogante, né? Tipo “ah, sou cientista, posso avaliar”. Tu tens os teus vieses, e combater esses vieses é um processo consciente. Eu preciso ter consciência de que eu reproduzo alguns preconceitos, e conscientemente combatê-los, se não não vai mudar. Quando eu era aluna de graduação e de pós, a gente reproduzia: “Onde é que já se viu ter filho agora?”. Porque é isso que a gente ouve. Mas, no dia de hoje, não dá para reproduzir essas coisas. A população em geral vincula a política afirmativa à cota. Não é isso, exclusivamente. Cotas são, sim, muito importantes, mas não são a única política afirmativa que existe no mundo. Há outras.
Dá um desânimo?
Dá. A gente recebeu críticas, mas também muito, muito apoio. Isso mostra a importância do Parent e o alcance que a gente tem. Existe uma transformação de fato acontecendo.





