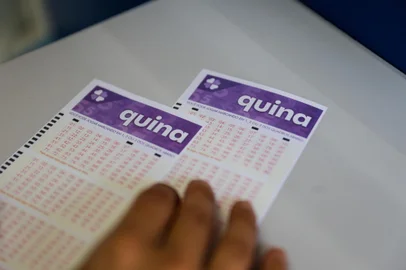Alan Alves Brito, 45 anos, é professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa, gestão e divulgação científica. Nascido em Vitória da Conquista (BA), é bacharel em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), mestre e doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP), além de ter feito três pós-doutorados no Exterior. É autor de livros de literatura, educação e divulgação em ciências, um deles finalista do Prêmio Jabuti 2020. Em 2022, venceu o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, categoria Pesquisador e Escritor. O astrofísico tem trabalhado com temas voltados à evolução química de diferentes populações estelares da Via Láctea, educação e divulgação de astronomia e física, incluindo questões decoloniais, étnico-raciais, de gênero e suas intersecções nas ciências exatas.
Por que você se interessou pela física?
Eu me apaixonei pela astronomia aos oito anos. Ao longo da minha formação básica e no Ensino Médio, sabia que precisava estudar física para me tornar um astrofísico, que era o que eu queria ser. Também frequentei bastante o Observatório Astronômico Antares, em Feira de Santana (BA), que é perto de onde eu cresci.
O que o fez apaixonar-se pela astronomia?
Teve a queda de um raio muito forte quando eu era criança e morava em Valença (BA). Por algum motivo, associei esse episódio à passagem do Cometa Halley, em 1986. O alvoroço pelo cometa também fez eu me interessar por astronomia. Além disso, grande parte da minha família era do interior da Bahia, onde não havia iluminação artificial. Isso fazia termos um céu bonito, brilhante e limpo. Cresci olhando para as estrelas.
Muitos profissionais que atuam na astronomia entraram nessa carreira com o objetivo de ser astronauta. Essa foi uma vontade sua?
Gosto de ficar no chão, não de voar. Sempre pensei na observação do céu, nas estrelas, nas nuvens, no arco-íris. Não pensava em ser um astronauta, e sim entender por que as estrelas brilham no céu.
Quais são suas linhas de pesquisa?
Fiz mestrado e doutorado na área de astrofísica estelar, com o objetivo de entender como nossa galáxia se formou e evoluiu do ponto de vista da química. Estudar a composição química dos objetos celestes nos ajuda a compreender como eles se formaram e também como os próprios elementos químicos da tabela periódica se formaram. Como professor da UFRGS, ampliei minhas linhas de pesquisa: tenho trabalhado com educação, divulgação da física e da astronomia, trazendo outras perspectivas cosmológicas e pensando também as questões de raça, gênero e classe.
Física é um dos cursos com menos candidatos nos vestibulares, além de ter alta taxa de evasão de alunos. Por que isso acontece, na sua opinião, e como se pode mudar isso?
A física é uma ciência conectada com as tecnologias – celular, satélite, micro-ondas. É um desafio quando pensamos nos processos de formação de professores e na divulgação do assunto. O objetivo é construir uma narrativa sobre o que é a física, qual a importância dela e mudar a ideia de que é uma ciência que parece ser difícil, ruim, absurda, que ninguém quer aprender, que todo mundo tem medo. É preciso romper com isso. Sobre a formação de professores, tem a ver com a desvalorização da carreira: salários ridículos, estrutura ruim das escolas e dos laboratórios. Precisamos de planos de carreira para atrair jovens e de iniciativa de formação continuada para docentes. São questões complexas e estruturais que o Brasil precisa rever.
O brasileiro valoriza a ciência?
Os resultados de estudos mostram que as pessoas têm interesse por ciência, respeitam a fala de cientistas. A população reconhece que é importante investir nisso, mas não sabe nomear cientistas. Isso é um problema. As universidades precisam criar estratégias de comunicação sobre o assunto, assim como os meios de comunicação. Jornalistas e divulgadores têm papel fundamental também na explicação do que é a ciência, como ela é feita e por quem. É uma tarefa para ser realizada por todos.
Sempre tivemos fake news. Penso que temos de investigar com mais cuidado o assunto. Por que uma pessoa escolhe ouvir Olavo de Carvalho, um youtuber ou um influencer, e não um cientista, um professor, alguém que estudou a vida inteira o assunto? Precisamos investigar com mais cuidado os processos de ensino e aprendizagem e criar outras estratégias de comunicação que se sobreponham à anticiência.
No entanto, também vemos hoje um movimento amplo de pessoas que negam a ciência. Exemplo disso é a circulação da ideia de que a Terra é plana, que tem muitos adeptos nas redes sociais. Os movimentos anticiência têm crescido nos últimos anos?
Sempre tivemos fake news. Penso que temos de investigar com mais cuidado o assunto. Quem são as pessoas que amplificam os discursos anticiência? Por que elas pensam assim? Quais são as crenças e os valores conectados com essas afirmações? Por que uma pessoa escolhe ouvir Olavo de Carvalho, um youtuber ou um influencer, e não um cientista, um professor, alguém que estudou a vida inteira o assunto? Por que elas compartilham notícias falsas, em vez de verificar se a fonte é confiável? Precisamos investigar com mais cuidado os processos de ensino e aprendizagem e criar outras estratégias de comunicação que se sobreponham à anticiência.
E como fazer isso?
Não adianta somente dar risada, deixar de lado as pessoas que acreditam, por exemplo, que a Terra seja plana. A ciência também se fortalece se houver diálogo. É importante criar mecanismos para explicar à população o que nós, cientistas, fazemos, para conjuntamente construirmos quais são as fronteiras que dividem o que é ciência, o que é religião, pseudociência, filosofia e o senso comum.
Além da física e da astronomia, sua pesquisa se concentra no estudo do racismo. O senhor se considera um ativista nesse debate?
Sou professor, pesquisador na área de educação para os relacionamentos raciais e, além disso, um ativista. As pessoas negras não têm essa escolha: elas precisam ser ativistas, precisam se posicionar no mundo. E o ativismo que eu advogo é aquele conectado à luta dos movimentos sociais – feministas, LGBTQIA+, quilombolas, indígenas. Faço um ativismo crítico, reflexivo, em conjunto com os pensamentos desses coletivos.
Sou professor, pesquisador na área de educação para os relacionamentos raciais e, além disso, um ativista. As pessoas negras não têm essa escolha: elas precisam ser ativistas, precisam se posicionar no mundo.
Como é a sua atuação na universidade no tema do racismo?
São questões de pesquisa. Oriento alunos, escrevo artigos, livros. Também faço ativismo, que se dá, por exemplo, quando batalho por uma disciplina (sobre o tema) que precisa sair e não sai. Ou então por meio de uma ação afirmativa na graduação, na pós-graduação ou na contratação de professores negros e indígenas. Isso é ativismo acadêmico perpassado por questões de pesquisa, dados e evidências.
Seu ativismo na universidade começou na graduação ou foi um posicionamento tardio?
Conscientemente, meu ativismo começa aos 12 anos, quando ganhei uma bolsa e entrei para o Programa de Saúde do Adolescente da Bahia do Ministério da Saúde. Recebi uma formação para atuar como adolescente multiplicador de saúde. Naquela época, atuamos em escolas, em feiras de saúde, e trabalhamos com as questões de infecções sexualmente transmissíveis. Trabalhamos com a gravidez na adolescência, a laqueadura de trompas de mulheres negras. Esse ativismo começa ali, em um projeto voltado para a formação de agentes políticos adolescentes falando para adolescentes. De lá para cá, não parei nunca mais.
Sua trajetória na academia inclui universidades em diversos locais do país e no Exterior. Você já foi vítima de racismo nesses ambientes?
Sofri racismo, preconceito, discriminação por raça, classe e gênero em todos os lugares pelos quais passei, nas escolas, nas universidades, dentro e fora do Brasil. Sempre, desde muito cedo, tenho memórias dessas ofensas. E mesmo hoje, com todo o ativismo, sendo um professor na universidade, enfrento situações cotidianas de racismo, vindo de colegas, de estudantes, de pessoas no dia a dia. Qualquer lugar é lugar para sofrermos racismo, preconceito e discriminação.
São ofensas veladas ou ostensivas?
Há de vários tipos. Tenho muitas delas anotadas em um diário. Até três anos atrás, separava essas situações de discriminação por raça, classe, gênero e origem. Muitas delas se conectam.
Hoje as coisas são bem diferentes, porque há exposição. As pessoas têm mais medo de serem expostas, por exemplo, nas redes sociais. Mas houve um tempo em que era recreativo, havia falas absurdas, vindo inclusive de cientistas, de pessoas supostamente inteligentes.
Que tipo de ataque é mais comum?
O que mais se repete é a desumanização. Há uma perversidade com as pessoas negras, LGBTQIA+, nordestinas. Somos animalizados. São situações que tentam nos caracterizar como “não pessoas”. Ou então para nos dizer o tempo inteiro que aquele lugar que ocupamos não é o nosso lugar. Nossos títulos não valem do mesmo jeito. O que falamos não se pode levar em consideração comparado com outras pessoas. Somos sempre questionados pelo que somos e não pelo que fazemos.
A discriminação tem diminuído na sociedade?
Hoje as coisas são bem diferentes, porque há exposição. As pessoas têm mais medo de serem expostas, por exemplo, nas redes sociais. Mas houve um tempo em que era recreativo, havia falas absurdas, vindo inclusive de cientistas, de pessoas supostamente inteligentes.
Em algum momento pensou em desistir de debater o assunto, de ser um ativista, por conta das ofensas?
Nunca pensei em desistir. Essa voz ancestral na minha trajetória é muito forte: a minha autoestima sempre foi muito bem trabalhada por mainha, pelas pessoas que me acompanhavam, pelas minhas professoras, pelas minhas crenças também. Sempre soube que eu não tinha tido muitas oportunidades, mas eu sabia que não era incapaz. Não eram aquelas pessoas (autoras de ofensas) que me definiam de algum modo.
Física e o racismo parecem assuntos distantes. Como você faz com que esses temas dialoguem?
Costumo lembrar que a física e a astronomia têm importância vital na definição do que é ciência e tecnologia no âmbito do projeto moderno e contemporâneo de ciência e tecnologia, servindo de base para a criação de outras ciências, como psicologia, antropologia, economia e sociologia. Não há Revolução Industrial sem termodinâmica. Então é só pensarmos na importância da Revolução Industrial para o capitalismo e sobre qual é o papel das pessoas negras no âmbito do sistema colonial e capitalista. Não há, tampouco, participação efetiva de pessoas negras nas ciências físicas. Argumentamos que o racismo institucional e epistêmico são cruciais para explicar esse dado que não é natural: é construção social e política, sobretudo.
Foi muito difícil (a mudança para o Sul). Ouvi coisas absurdas quando cheguei. O Rio Grande do Sul é um lugar complexo do ponto de vista racial. Sou destratado em vários contextos.
O que há de positivo no combate ao racismo no Brasil nos últimos anos?
Oliveira Silveira, poeta gaúcho, é um dos responsáveis pela instauração do dia 20 de Novembro como Dia da Consciência Negra, data que marca, no século 17, a morte de Zumbi dos Palmares, uma das maiores lideranças quilombolas de todos os tempos. A luta histórica dos movimentos negros organizados não foi em vão. Hoje, apesar dos pesares, temos vivido processos muito interessantes de construção de uma “consciência negra” que nos tem permitido avançar nas nossas relações raciais. Apesar dos negacionistas implacáveis, o racismo está cada dia mais escancarado nas teias sociais brasileiras, e mais pessoas, negras e não negras, têm tomado consciência do seu lugar na discussão racial. Nada está dado, certamente, e sempre serão lutas e disputas. Estejamos atentas e atentos e vigilantes.
Você é professor da UFRGS desde 2014. Como foi se mudar para o Sul?
Foi muito difícil. Ouvi coisas absurdas quando cheguei. Depois, as pessoas foram se acostumando. Há também todo o movimento antirracista, antidiscriminatório, as pessoas também ficam mais cabreiras de dizer o que pensam. Muitas vezes, sou tratado como um estrangeiro no Rio Grande do Sul.
E como é viver assim?
O Rio Grande do Sul é um lugar complexo do ponto de vista racial, mas estou junto com as pessoas negras, indígenas do Estado que têm que conviver desde sempre com um sistema racista. Por isso, não levo para o pessoal, não é comigo a questão. Sou destratado em vários contextos, mas eu não carrego para mim. Não posso simplesmente dizer que vou embora porque as pessoas funcionam assim. Pelo contrário: vou ficar e construir projetos de educação e mostrar para essas pessoas que elas não me dominam e não têm de dizer o que tenho de fazer como cientista.
O Brasil é um país racista, e o RS não é uma exceção. Na UFRGS, temos pelo menos 95% das pessoas brancas, e apenas 1,85% dos professores são negros. E 20% da população em Porto Alegre é negra. Se você coloca isso em proporção, vemos que o sistema de Justiça, a política são embranquecidos.
O Rio Grande do Sul é um Estado racista?
O Brasil é um país racista, e o Rio Grande do Sul não é uma exceção. Na UFRGS, temos pelo menos 95% das pessoas brancas, e apenas 1,85% dos professores são negros. Pela primeira vez, vamos ter uma indígena professora. Ela passou em concurso. E 20% da população em Porto Alegre é negra. Se você coloca isso em proporção, vemos que o sistema de Justiça, a política são embranquecidos. Não estou falando ó sobre a cor da pele, mas de um sistema de branquitude, de uma supremacia branca. Nesse sentido, a forma como as pessoas brancas e não brancas se relacionam institucionalmente nas hierarquias de poder mostra que o Rio Grande do Sul é um Estado complexo para as pessoas negras. Aqui, as pessoas não criam orgulho para a ancestralidade negra como há para a italiana e a alemã. Nesse sentido, é um Estado violento com as populações negras e indígenas.
Muitas pessoas usam a internet ou mesmo entram na política partidária para potencializar discursos como o da luta contra o racismo. você tem usado a educação. Por quê?
Não tenho nenhuma vocação para essa coisa de influencer, hoje banalizada nas mídias sociais, em que as pessoas fazem tudo por likes e views. Tenho o meu perfil no Instagram, mas não estou preocupado com o número de seguidores. Essa não é a minha estratégia: sou um funcionário público, um professor. Também não quero ir para a política partidária, porque acho que o meu lugar é na política na universidade, que tem um poder muito grande de mover as estruturas no Brasil e tem um papel basilar para desarticular as estruturas racistas. Enquanto professor, meu foco é criar projetos educativos.
Como a universidade pode ser basilar na construção de uma cultura antirracista?
É muito importante mostrar a revolução que têm sido as ações afirmativas nas universidades, com a entrada dos estudantes negros, indígenas, pobres. Isso tem mudado as próprias instituiçãos. A permanência desses estudantes, porém, ainda é prejudicada pelos processos de racismo, preconceito e discriminação. Mas essas ações afirmativas são fundamentais para a formação de profissionais negros. Muitas pessoas não compreendem que o projeto de universidade nos Estados Unidos ou na Inglaterra é totalmente diferente do que ocorre no Brasil, principalmente nas instituições públicas. As universidades têm um papel crucial para nos ajudar na construção de outro país: todos ganham quando oportunidades e acesso são iguais na sociedade.