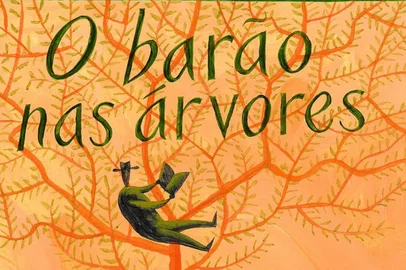Um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea, Aline Bei foi atriz antes de se tornar escritora. O teatro a marcou de tal forma que ela mesma diz ser uma "atriz que escreve", isso porque a elaboração do personagem é central para a criação de seus livros, assim como costuma acontecer na dramaturgia.
Paulista de 37 anos, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura com o primeiro romance, O Peso do Pássaro Morto (Nós, 2021), ela virá à Feira do Livro de Porto Alegre para um bate-papo ao lado da poeta gaúcha Mar Becker, outro nome que conquistou a crítica nacional. O encontro ocorre no sábado (9), às 17h30min, no Auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz.
Nos dois romances publicados — o segundo é Pequena Coreografia do Adeus (Companhia das Letras, 2021), que irá autografar no mesmo sábado, às 19h, na Praça de Autógrafos —, Aline criou protagonistas contornadas pelo trauma, marcadas pelo desamparo. Ao encontrar com as suas leitoras, percebe que isso é quase uma experiência universal do que é ser mulher. O que casa com a noção que ela tem a respeito do personagem literário: um arquétipo que não finda quando o livro acaba, mas que irá renascer em outra história, "com outra máscara", como define.
Nesta entrevista a Zero Hora, ela adiantou que o seu terceiro livro quase forma com os outros dois uma trilogia não calculada, involuntária. A obra deve ser publicada em 2025 pela Companhia das Letras.
Entrevista com Aline Bei
Você foi atriz antes de se tornar escritora. Como foi isso?
Estudei artes cênicas dos 14 anos aos 21 anos. Em um primeiro momento, tive a impressão de que seria atriz para o resto da vida. Acho que de alguma forma eu estava certa, porque isso não mudou. Me sinto uma atriz que escreve.
Por que a escritora precisa incorporar um personagem, assim como a atriz incorpora um personagem?
O autor e o ator, é só pelo "u" que eles não são a mesma coisa. É uma proximidade muito grande de processos, embora o acabamento final do trabalho seja muito diferente, ainda que o livro possa virar uma peça de teatro. O processo de trabalho pode ser muito parecido, dependendo do perfil do escritor. No meu caso, como minhas histórias nascem a partir dos personagens, os personagens são o centro da pesquisa. É a partir deles que vou puxando e desdobrando tudo o que quero fazer. E no teatro, você defende o ponto de vista de um personagem. Acho que a literatura, de algum modo, também faz isso.
Você falou que suas histórias nascem a partir dos personagens. Quer dizer, você não cria inicialmente toda uma trama que deseja destrinchar, mas a psicologia de uma pessoa, é isso?
É curioso, mas é um pressentimento de figura, a impressão de uma atmosfera. O personagem abre o universo e esse universo é pessoal, as coisas que circundam esse personagem, as coisas que ele gosta. Mesmo que isso não fique no texto, eu sou tomada por tudo isso. A partir disso, a história começa a se desenrolar.
Você acaba incorporando — e eventualmente se perdendo — na psicologia da personagem?
Não me misturo no sentido de perder o controle, mas no sentido de encontrar coincidências. Coisas que eu achava se dissolvem. Eu aprendo com minhas personagens. É um processo de duas personas, eu e essa substância, mas, de alguma forma, nunca nos misturamos. Vamos nos aproximando e nos afastando ao longo do processo. Eu preciso estar sempre muito interessada nessa figura. E meu personagem não acaba porque eu acabo a história. Na verdade, ele continua. Eu vejo os meus personagens quase como arquétipos. É difícil explicar. Eu vejo meus personagens como figuras que podem usar diversas máscaras.
Tem uma história sobre a Lygia Fagundes Telles, quando ela terminou As Meninas (1973). Ela ficou triste porque aquele livro acompanhou ela por muito tempo. E uma das personagens sentou no colo dela e falou: "Não fica triste, eu volto, com outra máscara, mas eu volto". Os personagens não se esgotam, eles são maiores do que as figuras em que atuam. São entidades que podem se desdobrar. Pode parecer um papo meio maluco...
Em O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus, as protagonistas são mulheres marcadas pelo trauma, pelo abandono. A infelicidade contorna a vida dessas mulheres. Podemos dizer que é o mesmo arquétipo que usou outras máscaras?
No caso dessas protagonistas, não vejo como arquétipos. É mais a atmosfera do que a simbologia de um personagem que dá abertura para outras máscaras. E você disse a palavra-chave dos meus primeiros livros, que é a questão do trauma, do corpo que não elaborou o que lhe aconteceu. E um corpo que não elaborou o trauma vai repetir essa violência constantemente, e acho que é isso o que acontece nos meus primeiros livros. Uma investigação sobre o trauma.
Mas por que você escreve sobre mulheres marcadas pelo trauma, que viveram situações e emoções difíceis?
Nem sempre o que a gente escreve é algo que a gente escolhe de forma tão controlada. Nossa linguagem na escrita tem um impulso próprio e tem algumas coisas que ficam melhores na língua particular de cada autor. A gente escolhe menos do que é escolhido. Sinto que a minha palavra, a minha língua, conta melhor esse tipo de problematização, de situação, em que existe algo grave que aconteceu.
Tem uma coisa que precisa ruir na estrutura para que a gente possa olhar para os corpos de mulheres de uma forma mais livre do trauma
ALINE BEI
escritora
Às vezes, essa coisa grave está muito explícita, como no Peso do Pássaro Morto, em que a personagem, aos 18 anos, vive algo muito marcante. Já em Pequena Coreografia, a Vera, que é mãe da protagonista, nós não sabemos o que aconteceu exatamente com ela, temos apenas o ponto de vista da Julia, que é a protagonista. Não sabemos exatamente o trauma da Vera. São muitos. Às vezes, a gente acha que o que acontece com essas mulheres poderia ser evitado, mas quando escuto minhas leitoras, percebo que muitas mulheres passam por isso. É algo do sistema. Tem uma coisa que precisa ruir na estrutura para que a gente possa olhar para os corpos de mulheres de uma forma mais livre do trauma.
Você está escrevendo o seu terceiro livro. Pode adiantar algo sobre ele?
Estou falando pouco dele, porque prefiro falar depois do lançamento, mas posso dizer que é um livro que nasceu da Pequena Coreografia do Adeus e, de alguma forma, também do Peso do Pássaro Morto. Meus livros são circulares, cíclicos, quase como se essas histórias acontecessem em uma mesma região inconsciente. Vamos chamar de uma festa triste onde todos os personagens poderiam se visitar, cada um com suas dores. São livros feitos de uma mesma matéria, por enquanto. Não sei se isso será para sempre, mas vejo esses três livros quase como uma trilogia involuntária.
Imagino que você leia muitas escritoras. Qual é a importância das vozes e dos olhares de outras autoras na sua constituição?
Leio muitas mulheres, mas acho que a grande autora que tem me acompanhado desde o começo, inclusive no teatro, foi a Clarice Lispector. Autores gigantescos, como a Clarice, o Machado de Assis e o Guimarães Rosa, a gente escreve com eles — com e contra. Quando estudava artes cênicas, acabei montando um espetáculo baseado em uma obra da Clarice, A Via Crucis do Corpo (1974). É um livro escrito na época da ditadura, não é dos mais conhecidos dela e se distancia de tudo o que ela vinha fazendo àquela altura. Aos 19 anos, a Clarice entrou em mim de uma forma muito forte. Além de ler Clarice, cravar a Clarice no corpo fazendo o espetáculo... Mesmo que eu não soubesse, minha escrita começou aí. Foi muito forte. Sou uma leitora anual de Clarice. Apesar de já ter lido toda a obra dela, todo ano eu retorno, sempre. Nada se parece com o que ela fez.
Alguns escritores contemporâneos desabrocharam após passarem por oficinas de escrita, você entre eles, tendo aulas com o Marcelino Freire, que também virá para a Feira. Como a oficina te ajudou a se estabelecer como escritora?
Fiz duas oficinas, ambas com o Marcelino Freire. Acho que a prática e o diálogo a partir da prática. Olhamos para o texto coletivamente, porque há o ponto de vista dos colegas escritores. Aprender a se ler dessa forma, olhar para um texto de um ponto de vista que não está terminado, é uma coisa muito bonita. No teatro, a criação é sempre coletiva, é sempre atravessada pela opinião do grupo. Por que a escrita precisa ser tão sozinha, precisa ter só o ponto de vista do escritor? E o Marcelino Freire é uma figura absolutamente lírica, que sabe se um texto está ou não de pé. Um grande professor, além de escritor.
O fato de ser considerada uma das principais vozes da literatura brasileira contemporânea não gera uma autocobrança para que a cada obra você apresente uma narrativa mais ousada, mais inovadora, enfim, mais alguma coisa?
Acho que é um cuidado que todo mundo tem de ter quando começa a publicar. Hoje mesmo estava lendo um livro do Jon Fosse, que ganhou o Prêmio Nobel no ano passado, uma coletânea de peças que acabou de sair pela Editora Fósforo, Vai Vir Alguém e Outras Peças. O prefácio é escrito por uma professora de literatura que diz que os primeiros livros do Jon Fosse não tiveram boas críticas.
Quando ele começou, ele teve críticas muito negativas, porque ele já era um escritor muito peculiar. E ele não mudou nada no trabalho dele, continua escrevendo exatamente como escrevia. Depois de um tempo, ele começou a ter críticas muito positivas. Ganhou prêmios e tornou-se extremamente reconhecido. Ele diz que se ele não acreditou nas críticas negativas, também não pode acreditar nas positivas. Ele diz que é fiel apenas ao trabalho e que a escrita é escuta do material, não do externo. A escuta do texto.
Eu sempre pensei dessa forma. Acho que a gente tem de se conectar com o trabalho. Como ele vai ressoar para o público, a gente sustenta depois. Depois a gente pode debater se foi ou não interessante. Eu só busco escrever o livro que está em mim.
Você tem participado de muitos eventos literários pelo Brasil. Como tem sido encontrar com leitores de diferentes sotaques e culturas?
É uma das coisas mais bonitas depois que o livro é publicado. Esses momentos são importantíssimos para mim, não só pela alegria de poder estar com as minhas leitoras, escutando o que elas têm para me dizer. Tem algo muito bonito que é conhecer territórios. Eu nunca fui uma pessoa que viajou muito. Eu sempre desejei viajar — e me lembro agora da Annie Ernaux falando que desejava viajar e só começou a viajar depois da escrita. Eu também só comecei a viajar depois de publicar. O Pássaro começou a me levar para viajar.
É bonito poder conversar com pessoas de diversos lugares. É incrível ver que a intimidade da escrita, nesse processo que vai ao limite da lucidez, ver que esse texto encontrou algum lugar de reconhecimento em outras pessoas. Uma pessoa que é uma estranha não é. Estar em cada lugar que tenho ido é encontrar os meus pares. Rola dica de livro, de filme, choro, abraços... É um privilégio gigantesco poder estar com minhas leitoras e leitores.
Aline Bei na Feira do Livro de Porto Alegre
Neste sábado (9), às 17h30min, em um bate-papo com a poeta Mar Becker no Auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223), e às 19h, autografando o livro Pequena Coreografia do Adeus na Praça dos Autógrafos Gerdau, na Praça da Alfândega.