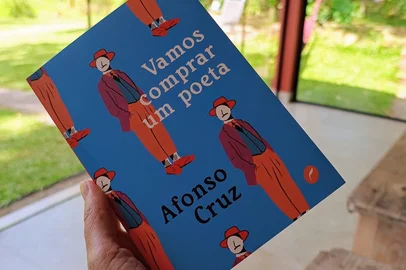Um dos principais nomes da literatura espanhola contemporânea, a escritora espanhola Rosa Montero abre a temporada de 2023 do Fronteiras do Pensamento. Sua conferência será realizada no dia 31 de maio, no Teatro Unisinos (Av. Nilo Peçanha, 1.600). Rosa atuou como jornalista no El País entre os anos 1970 e 90, hoje é colunista do jornal. Aos 72 anos, ela se consagrou como romancista por sua prosa direta e profunda, em obras como Lágrimas na Chuva (2011) e História do Rei Transparente (2005). Porém, seus trabalhos que mesclam ficção, biografia e autobiografia também se destacam, como A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver (2013), A Louca da Casa (2003), Paixões (1999) e Nós, Mulheres (1995). Nesta entrevista, a escritora fala sobre a escrita, seus trabalhos mais recentes e sua ex-profissão.
Seu último livro lançado no Brasil, A Boa Sorte (2022), tem sido classificado como seu romance mais ambicioso. Você o vê assim também?
Eu não diria que é o meu romance mais ambicioso, mas sim o mais maduro. São coisas distintas. Foi difícil para mim porque tem uma voz narrativa bem inusitada, que vai se transformando ao longo do romance. Logo, é como um relógio, que vai se desenvolvendo de maneira circular. A princípio, não se sabe nada sobre o que está acontecendo. O que se passa a esse homem? Por que faz as coisas tão estranhas? À medida que o romance avança, com as respostas que vão surgindo, tu percebes que há mentiras. A construção é muito complexa, mas eu trabalhei para que essa complexidade fosse invisível. Assim, a narração precisa fluir como um rio calmo. Para esse tipo de estrutura, você precisa dominar a artesania do romance. Portanto, é algo que eu não poderia produzir antes, pois o romance é um gênero de madurez. É preciso dominar a escrita. Aliás, os romances que eu costumo gostar mais foram escritos pelos autores com idade avançada. Quando eu era mais jovem, dizia que o meu auge seria entre os 45 e 55 anos. À medida que o tempo passou, fui aumentando a faixa (risos).
Em A Boa Sorte, Pablo é um arquiteto que anseia por ser outra pessoa. Um dia ele desce do trem e, inesperadamente, compra um apartamento em uma cidade pequena. Sua situação é complexa, como vamos descobrindo. O que te inspirou a desenvolver esse personagem?
Você não escolhe os livros que escreve, mas sim as histórias te escolhem. São como sonhos a olhos abertos que te obrigam a escrever sobre eles. A ideia que pus em marcha é a mesma que se passa com o protagonista no primeiro capítulo. Eu estava em um trem rumo ao sul da Espanha para participar de um clube de leitura. Estava escrevendo em meu notebook, levantei a cabeça e vi uma cidadezinha industrial e empobrecida. Vi um prédio com um apartamento precário, contendo varanda com ferros quebrados e enferrujados e um cilindro de gás arrebentado. Ali havia um cartaz de “aluga-se”. A primeira coisa que pensei: pobre gente! Justo na rua em frente aonde passa o trem. Não vão vender nunca! (Risos.) Depois, com essa cabeça louca que temos nós, os escritores, me veio o “e se?”. E se alguém neste trem levanta a cabeça, vê esse apartamento, desce na próxima estação, compra o imóvel, passa a viver naquele lugar horroroso, desaparece e não chega nunca ao seu destino? Quando cheguei ao clube de leitura, contei o que havia me ocorrido e que seria o começo de um romance. Mas eu não sabia nada. Não sabia por que esse homem desceu do trem, nem se seria homem ou mulher.
Você chegou a cogitar uma protagonista feminina?
Primeiro, pensei a história com uma mulher, mas não funcionava. Não que isso seja alguma generalização, mas, de alguma maneira, as mulheres são mais verbais. Um personagem tão fechado em si, tão carente de palavras, eu não via como mulher. Pensei que deveria ser protagonizado por um homem, o que funcionou melhor. Escrever o romance foi o caminho para entender o que eu havia pensado. Um autor experiente é aquele que tem humildade para deixar que sua história seja contada por seus personagens. Foi o que decidi. Esse homem nem sabe porque desceu do trem. Foi um movimento instintivo. Por isso ele fica ali, naquele apartamento, vendo passar os trens, o que é praticamente uma metáfora de sua situação: está fora de sua própria vida, vendo-a passar em sua frente. A partir daí, ele passa a reconectar-se e a tentar uma vida nova. E conhece Raluca, que é o personagem mais luminoso que já escrevi.
Raluca é um contraponto pertinente a Pablo. É uma personagem que ama o sentimento de estar apaixonada.
Exato. Pablo é um tipo de pessoa que tem medo de seus próprios sentimentos, pois acha que as emoções o debilitam. Ele teve uma infância difícil e construiu uma espécie de defesa, que é um erro abissal. Supostamente, amar alguém te deixa mais vulnerável. Não só apaixonadamente, mas também amar um amigo, amar a um cachorro. Mas não se pode retrair esses sentimentos, virar uma espécie de ilha ou viver em uma bolha, pois isso é escolher morrer em vida. Somos animais sociais, precisamos dos outros. É uma dessas opções impossíveis, como envelhecer. Envelhecer não tem nenhuma graça, certo? A única opção para não envelhecer é morrer, que certamente tem menos graça (risos). Pablo é assim, escolheu não sentir nada. Afortunadamente, Raluca o tira do abismo em que ele havia se metido.
Escrever um romance é sacar de si o seu mundo mais íntimo, tirar um pedaço mais profundo do coração. Quando se publica, há gente que vem e te diz: ‘Este mundo que você vê eu também vejo’. ‘O que você sente eu também sinto.’ Isso te insere de volta na realidade.
E ela rouba a história.
É graciosa. Originalmente, Raluca seria um personagem menor. Começou a crescer e a crescer em minha cabeça até dominar o romance. Converteu-se na verdadeira protagonista. Inclusive, o título do romance foi alterado por causa dela. No começo, livro se chamava El Silencio (“O Silêncio”). Um dia, enquanto realizava anotações sobre a história, escutei a Raluca falar na minha cabeça. É uma personagem que teve uma vida muito difícil, viveu em orfanato, um montão de coisas. Eu a escutei dizer: “Sempre tive muita sorte. Sou uma pessoa com uma sorte incrível e menos mal que sempre tenho sorte, porque senão, com a vida que tive, teria sido horrível”. Me pareceu comovente que essa personagem se apaixonasse por Pablo. Então, compreendi que o romance tinha que se chamar A Boa Sorte, pois o que dizia Raluca era que a boa sorte consiste em enxergar o mundo de outra maneira, sobretudo contar as coisas de outro modo. O importante é a narração que se faz da vida. Nós, seres humanos, somos narrações. Somos palavras em busca de sentido. Se troca a narração, muda a vida. É isso que Raluca vem contar.
Você costuma dizer que escrever um romance é como se apaixonar. Como seria isso?
É parecidíssimo. É alienante. Te tira de você mesma, a todo momento você se pega pensando na pessoa amada. Está escovando os dentes e no espelho está vendo o fantasma dessa paixão. À noite, ao dormir, sonha com a amada ou amado. Com um romance acontece o mesmo. Quando está metida de verdade com a escrita, passa-se por outra alienação maravilhosa, pois está todo o tempo pensando na história e nos personagens. Outra coisa é que em ambas as situações você se sente às vésperas de um milagre. Quando está produzindo um romance tem muitas vezes a sensação de que, no momento seguinte, será capaz de escrever a página perfeita, de elaborar a beleza mais pura. Mas isso não ocorre em nenhum dos dois casos (risos).
Mas o escritor ou escritora pode ter também uma relação tóxica com seus romances, não?
O romance é um gênero de trabalho colossal. Te obriga a estar sentada em um canto de sua casa durante horas, semanas, meses e anos escrevendo mentiras. É uma atividade bizarra, com momentos amargos e desesperadores. Para mim, dois romances já morreram. Duas histórias que não pude terminar. Em um perdi três anos de trabalho, e em outro foram dois. Podemos passar dois meses escrevendo e não aproveitar nada, porque nada te agrada, porque não flui. Mas também é a oportunidade de brincar de ser Deus, brincar como uma criança criando mundos e vidas. É tão maravilhosa essa possibilidade de sentir emoções e viajar pelos personagens criados, que, por mim, estou disposta a pagar o preço. Os desesperos momentâneos, no fim, não importam. Escrever é uma paixão que te salva a vida.
Em A Louca da Casa, você escreveu que a paixão talvez seja o exercício criativo mais comum da Terra e que é a nossa via mais habitual de conexão com a loucura. Que a imaginação está intimamente ligada ao que chamamos de loucura. No ano passado, você lançou El Peligro de Estar Cuerda (previsto para chegar em novembro ao Brasil, segundo a editora Todavia), que aborda esse tema. No fim, escrever um romance é também um ato de loucura?
É um livro que trata sobre isso, a criação e a loucura. Desde o início dos tempos, se discute se há uma relação entre a criatividade e o transtorno mental. Minha teoria é que as pessoas que se dedicam a coisas criativas têm um cérebro parecido às pessoas com transtornos mentais. O neurocientista Eric Kandel, Nobel de Medicina em 2000, diz que todos os transtornos mentais se devem a uma falha entre as conexões neurológicas. Então, quem se dedica a coisas criativas têm um cérebro com cabeamentos distintos aos da maioria. Um cérebro que não terminou de amadurecer. Um dos passos fundamentais para o primeiro amadurecimento ocorre quando começa a adolescência. Até então, o cérebro das crianças está tremendamente hiperconectado. Todos os neurônios estão conectados uns aos outros. Por isso a criança tem uma imaginação transbordante. Quando começa a puberdade, tem início uma poda neurológica dessas conexões que não são úteis para concentrar o cérebro no que seria útil, no que seria necessário para a sobrevivência da espécie. Mas há entre 15 e 20% de pessoas no mundo que pulam esse passo de amadurecimento cerebral e nunca terminam de podar o cérebro. Seguem tendo o cérebro hiperconectado. Entre essa porcentagem, há aqueles com transtornos mentais e aqueles que se dedicam a criar. Então, creio que sejamos primos ou irmãos (risos).
Você cursou Psicologia, certo?
Sim, pensava que estava louca quando tive os primeiros ataques de pânico, decidi estudar Psicologia para descobrir o que se passava comigo.
E o que você aprendeu?
Nada. Não aprendi nada (risos). Não terminei o curso. Quando pude me entender, quando descobri o que se passava comigo, deixei a graduação (risos).
Como você enfrentou os ataques de pânico?
Creio que precisamos aprender a conviver com a nossa “mala de trevas”. Todos temos uma mala, pode ser maior ou menor, dependendo da pessoa. É necessário aprender a lidar com ela. Eu perdi o medo ao medo, digamos assim. Medo de que os ataques voltassem. Isso me ajudava que passassem. Para mim, creio que foi essencial começar a publicar romances periodicamente a partir dos 30 anos. É curioso, desde os 19 eu trabalhava como jornalista, mas o jornalismo não te proporciona esse efeito psicológico em sua estrutura. Eu escrevia ficção desde os cinco anos, mas não publicava nada. Isso tampouco me servia. A combinação que servia era escrever ficção, publicá-la e ser lida. O que chamamos de transtorno mental, na realidade, é uma ruptura da narração comum. Você se sente que se vai da coletividade e da espécie humana. Quando você tem um transtorno mental, sente como se um gigante te pegasse e arrancasse do mundo. Sente-se uma solidão colossal, que não se pode explicar ou entender. Te engana e te faz crer que isso que ninguém mais sente. Alguns especialistas dizem que o romance é um delírio controlado. Então, escrever um romance é sacar de si o seu mundo mais íntimo, tirar um pedaço mais profundo do coração. Quando se publica, há gente que vem e te diz: “Este mundo que você vê eu também vejo”. “O que você sente eu também sinto.” Isso te insere de volta na realidade.
vivemos um momento desafiador não só para o jornalismo, mas em todos os aspectos da vida. O jornalismo segue sendo absolutamente necessário, ainda mais nestes tempos de fake news.
Tem sido assim a recepção de El Peligro de Estar Cuerda?
Uma viagem alucinante! Não tive recepção igual com nenhum livro. Todo mundo vem e me conta suas histórias, que o livro lhes permitiu sentir-se menos solitárias, compreender que não são loucos, que deixaram de ter vergonha por coisas que andaram ocultando. Tenho chorado muito com as coisas que me contam. Tudo muito bonito e precioso.
Você também é uma jornalista renomada, atuante em mais de duas décadas. Agora vivemos uma era de inteligência artificial, fake news, concorrência com criadores de conteúdos nas redes sociais, entre outros fatores. Você acha que vivemos um período desafiador para o jornalismo?
Vivemos um momento desafiador não só para o jornalismo, mas em todos os aspectos da vida e da sociedade. O jornalismo passou por um período longo de travessia no deserto, de adequação às novas tecnologias e mudanças de mercado. Foi um dos setores mais afetados com a crise de 2008. De lá para cá, muitos jornais desapareceram. Os sites jornalísticos não podem se manter por meio da publicidade, o que não se sabia, pensava-se que podiam sobreviver assim, mas não funcionava. As pessoas não queriam pagar pelo digital, o que resultou em uma fase espantosa, muita gente foi demitida, muitos profissionais experientes foram despedidos, enquanto jornalistas inexperientes foram contratados no lugar por salários mais baixos. Revisores foram demitidos. Redações contando com menos gente, e esse pessoal tendo que fazer 27 mil coisas – digital, papel, não sei o que mais. Mas creio que essa crise está passando. As empresas de streaming, como Netflix e Spotify, começaram a acostumar as pessoas a pagarem por conteúdos, o que inclui jornais digitais. Muita gente também perdeu a cabeça pensando que as redes sociais poderiam funcionar como um jornalismo urbano, o que se confirmou como uma mentira. Se alguém te manda algum tuíte de uma manifestação em, por exemplo, Teerã, isso não é jornalismo, mas sim uma fonte primária. Esse tuíte pode ser verdadeiro ou não. Terá que passar pelas verificações de um repórter. O jornalismo segue sendo absolutamente necessário, ainda mais nesses tempos de fake news. O que se passa é que precisamos aprender a lidar com isso, como, por exemplo, agora existe a possibilidade de elaborar uma imagem, por exemplo, de Joe Biden matando uma idosa. E, realmente, parece que é real. Temos de ensinar as pessoas a separar o que é real e o que é manipulado.
Sente saudades de seus tempos de jornalista?
Nenhuma. Nada. Sigo escrevendo artigos, mas não quero fazer nada além disso.
Está mais que bom para quem, segundo suas próprias contas, já realizou 2 mil entrevistas...
Sim, é muito bonito ser jornalista. Me encantou, mas já faz muitos anos, prefiro fazer outras coisas.
Em A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, você comenta que a infância, a juventude e a maturidade dos biografados costumam ocupar um espaço enorme no livros. Porém, como você escreveu, “chega um momento da narrativa que, de repente, tudo parece se esvaziar, acelerar ou comprimir”. Você observa que “a menos que morram jovens, quando chegam à velhice parece pouco interessante o que lhes acontece”. Sente receio que isso aconteça em sua biografia?
(Risos.) Não sinto nenhum receio assim. Para mim, não há posterioridade. Aliás, quase ninguém passa para a posterioridade. Eu espero uma velhice de muita vivacidade. Quero morrer estando muito viva. Essa é a minha maior aspiração no momento.