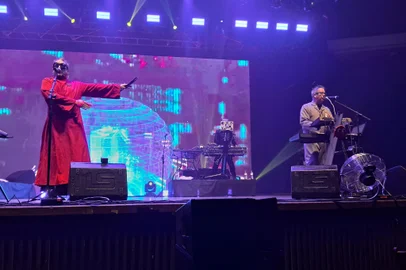Explosões. Sangue. Briga física aberta e cruel. Tiros. A terra treme. Um antigo aliado de fé trai todo mundo. E no episódio seguinte é ele mesmo traído pelos aliados da hora. No meio da selva inóspita, laboratórios ultrassofisticados capazes de feitos científicos inusitados.
O pessoal aqui em casa está revendo a série Lost, que eu não havia visto e agora acompanho com o rabo do olho, enquanto faço outra coisa (leio, dobro roupas, acompanho o Inter). Eu reconheço as caras e as vozes, me atrapalho com idas e vindas no tempo. Comento alguma coisa vadiamente. Mas persiste um fundo de irritação na minha alma. Por quê?
Num momento agudo de desconforto, um dos tantos que essa pandemia nos presenteia regularmente, fiz a associação: nessa série, a pletora de violência não significa quase nada, ou porque é reversível, ou porque é irrelevante. Na hora lembrei do meu desconforto com os filmes do Tarantino, motivo já de polêmicas que sustentei contra gente que entende muito de cinema, matéria em que sou mero curioso.
No Tarantino, as situações dramáticas são exacerbadas a um ponto que desespera o espectador (esse é o foco, claro), e então vem a resolução da cena, que, salvo talvez em seus filmes bem recentes, não resolve nada, quer dizer, não causa transformação significativa na trajetória dos personagens, em sua consciência, em sua conduta, na trama em geral, e nada acontece com o espectador, salvo um alívio trivial para uma fantasmagoria artificial, uma montanha-russa.
Me dou conta de que em definitivo estamos em outro mundo, este do Tarantino, do Lost e dos jogos digitais (os que vejo por cima do ombro de meus filhos adolescentes) – este mundo que exacerba os sentidos e manipula os sentimentos, num processo cujo resultado não é o crescimento da consciência, do personagem, dos espectadores. Uma montanha-russa que te suga energia emocional, amortece tua consciência e reforça tua posição de consumidor.
Minha premissa, essa do conhecimento como resultado da atenção ao mundo, na arte ou na ciência ou na vida, responde a um eixo antigo de valores, um jeito “boomer” de ser, como diz a juventude agora para designar a gente nascida antes da digitalização do mundo, da crise climática, do hiperconsumo.