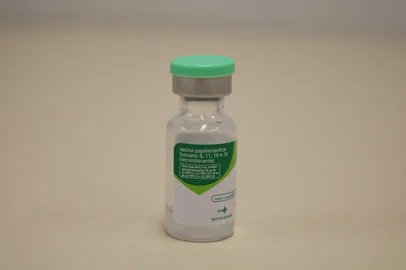Colunistas do Pioneiro escrevem sobre a mística da época natalina.
Estávamos nós dois no quarto do hospital. Entre as idas e vindas das enfermeiras que entrecortavam suas raras possibilidades de sono, ele comunicava-me impaciência, tinha pressa em ir trabalhar, um mundo de tarefas para cuidar lá fora. Só depois eu entenderia que era o jeito dele para não dizer que estava aflito.
— Tem dor? — perguntei.
— Não. Só pressa em sair daqui...
O canal de esportes indisponível ali, o chá muito doce, a claridade excessiva, o frio, o calor... Nossa conversa era uma soma de desvios. Não falávamos em medo. Jamais falaríamos da morte.
— Tanta coisa para fazer... O tempo não passa! — prosseguiu.
Naquela tarde, o tempo também se arrastava para mim. O sinal de internet falhava, os assuntos esgotavam-se diante da porta propositalmente fechada para os nossos tabus. O amor imenso não podia ser comunicado. Diante daquela tensão, faria tanto estrago quanto falar sobre um possível fim: abriria dutos para sentimentos como o medo da perda, faria antever os abismos das despedidas. Precisávamos do banal, do comezinho hábito de reclamar como ele fazia desde sempre, sommelier do cotidiano. Deve ter ascendente em Touro, imaginei eu, sem conhecer seu mapa.
A vida toda, chegou em casa já identificando nossos pés insistentemente descalços, o volume muito alto do som, a porta fechada com força, a luz acesa esquecida no corredor... Sentava-se à mesa pegando a xícara já servida e saltando de imediato: o café com leite estava quente demais! E enquanto ele resmungava sobre nossa incapacidade de acertar o ponto da fervura, talvez encobrisse desconfortos que não se permitia nos contar.
Antes do medo da morte, pode ser que já houvesse outros desses gatos assustados debaixo da cama — emoções silenciosamente escondidas na vida de trabalho e projetos e mais trabalho dele que, raras vezes, esboçava algum interesse para além desse reduto de mínimas agruras e garantias de suprir, com folga, uma fome atávica. Quando vinha da padaria, era sempre o dobro de pão que ele trazia: seu luxo era possibilitar fartura de comida para a gente, entregando-nos o presente de um pacote de farinha de milho ou de biscoito no final dos domingos de pipoca e futebol.
Naqueles dias em que lhe fiz companhia na antessala da cura ou do nunca mais, fui percebendo um outro lado daquele pai altivo e exigente. Não era tanto a magreza do corpo na cama que me impressionava, nem a textura frágil da pele, os arroxeados no braço onde tentaram, em vão, passar mais uma agulha. Era, sim, um ar excessivamente submisso ao se referir ao doutor, um homem com quase a metade da sua idade que, diante da tevê do hospital, lamentava estádios vazios (mesmo na pandemia) enquanto lhe traduzia, gentilmente, a palavra neoplasia como “tumorzinho”. Fiquei ali, a observar a cena, ele simplesmente se esquecendo da palavra que o perseguia há quase 20 anos e que, por vezes, parecia mesmo ceder ante sua vontade inabalável de viver.
Com os dias piores, sua fé se dilatou. Ele esperava retomar a saúde com preces e panaceias milagrosas, como um menino que batesse à porta dos vizinhos para pegar de volta a bola que ultrapassou o muro e, assim, continuar o jogo de onde parou. Mas toda partida tem seu tempo e, talvez, o juiz já estivesse olhando para o relógio... Talvez fosse mais útil olhar para o gato debaixo da cama, escutar o que ele ronronava. Talvez já tivesse passado a hora de mudar a tática e aproveitar cada minuto mais perto da gente.
Bateram na porta. Na bandeja, menos ainda dessa vez. Só uma gelatina, além da água. Ele me disse que o “doutor” liberou também picolé, e eu fui em busca, lembrando-me dos nossos sábados em Santa Corona, quando eu, menininha de uns seis, sete anos, escolhia os de uva, gostando de tingir um bigode roxo enquanto lutava para desviar os pingos na blusa sob seu olhar repousado em mim.
Os sábados sempre foram nossos. O mais bonito talvez tenha sido aquele em que ele subiu muito alto no pinheiro com um ancinho na mão para arrancar a erva-de-passarinho, que me contou ser parasita. Se tiver que escolher, fico com essa memória, o pai cuidando da imensa árvore, na altitude de uma reverência possível ao sagrado.
Enquanto ele comia, satisfeito, seu picolé (não tinha de uva, só de tangerina), apontou-me um muralzinho atrás da cama com o nome da enfermeira responsável: Jocasta. Nessa breve inversão de papéis, eu, que havia trazido picolé para o pai, agora podia lhe contar uma história, embora fosse um tanto mais complexa do que essas que as mães contam aos filhos pequenos antes de dormir.
Imaginei o doutor Freud, a este eu designaria o tratamento, tragando seu charuto, atento, numa poltrona daquele quarto de hospital, enquanto eu me virava para explicar o presságio do Oráculo de Delfos que faria Édipo ir em direção a seu trágico destino, tornando vãs as tentativas de desvio do incestuoso encontro com a mãe.
Do mito, passamos às marcas primordiais da constituição psíquica, no triângulo das sagradas famílias de todos nós. Não sei se ele entendeu a narrativa, tampouco a leitura freudiana que eu tentei, com meias-palavras, transmitir. E logo mais nossos pares de olhos já se voltavam à tela onde nada de importante passava na tevê. Ele nem desconfiava que tinha sido por muito tempo um arquétipo quase intransponível entre o amor de qualquer outro homem e eu.
Findo o picolé e a minha tentativa de apresentar a origem do nome daquela enfermeira entre manobras do encosto da cama e verificação do soro, pairava no quarto uma sensação de epopeia transposta, de provações vencidas, de encontro pacífico, dispensando efusividades. Toquei-lhe de leve a pele do ombro descoberto pela camisola precária, num quase abraço, um afago de quem passava o turno ao próximo cuidador, com a certeza de em breve retornar. Talvez aquela tenha sido nossa última conversa... Quem sabe do tempo?
Lá fora, um presépio anunciava o primeiro Natal sem meu pai experimentando cauteloso a Ceia, enquanto todos disputavam suas atenções (desconfio que ele nunca gostou dessas festas). Havia uma dor desesperançada em mim, e não era exatamente saudade, pensei, enquanto observava as figuras de José, Maria e o Menino-Deus e me lembrava que, neste ano, o Natal cairia num sábado. Me detive nos detalhes da cena: a Estrela-Guia, a manjedoura, a palha, os animais ao redor — o burro, as vacas, o cordeiro... Pareciam plenos no instante, participantes do Todo. Saí caminhando como quem sabe a presença do pai.https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/geral/noticia/2021/12/cronicas-de-natal-essa-data-nao-reacende-o-amor-ela-o-salva-ckxgi13d00041015pnmc1dpy5.html