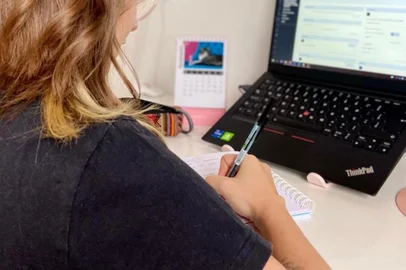Lançado em 2002, o documentário Tiros em Columbine, de Michael Moore, retrata um cenário que, por muitos anos, foi distante do brasileiro. A produção mostra um massacre ocorrido em 1999 em uma escola dos Estados Unidos, no qual 12 estudantes e um professor foram mortos por dois ex-alunos, que, na sequência, cometeram suicídio.
O caso chamou atenção para uma realidade hoje recorrente por lá, e que, no Brasil, tem crescido de forma expressiva. Se, de 2001 a 2021, 15 ocorrências desse tipo foram registradas por aqui, entre 2022 e junho de 2023 o acumulado já é de 18. O perfil dos autores, via de regra, é o mesmo de lá: do sexo masculino, adolescente, branco e isolado, que expressa discursos opressores e não tem perspectiva de futuro.
Duas situações acontecidas em menos de 10 dias em escolas brasileiras, entre março e abril deste ano, desencadearam uma onda de medo e desinformação entre as famílias. Escolas chegaram a fechar as portas, temendo novos atentados, e canais de denúncia, câmeras de segurança, policiamento ostensivo e até detectores de metal foram implementados por redes de ensino. Era a sociedade brasileira tateando no escuro, em busca de soluções para prevenir aquele que é um dos maiores pesadelos de pais e mães.
Para sair da escuridão, pesquisadores têm se debruçado sobre boletins de ocorrência, postagens na internet, notícias e trabalhos acadêmicos internacionais a fim de entender melhor o fenômeno e indicar quais são, de fato, as medidas efetivas para o combate à violência e a mitigação de suas consequências.
Em maio, o Instituto Sou da Paz divulgou um estudo inédito com um raio X dos atentados, seus autores e suas armas. Em outubro, outro relatório preliminar, este de um grupo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), trouxe mais elementos para análise. O levantamento da instituição paulista focou nos episódios com alunos ou ex-alunos da escola alvo como autores.
Em 22 anos, foram 33 ataques a 34 estabelecimentos entre fevereiro de 2022 e junho de 2023, além de outros três, cujos agressores não tinham vínculo com a comunidade escolar. No total, foram 33 pessoas mortas e 97 feridas nessas situações. Ainda não está incluído nessa versão do documento o atentado em Poços de Caldas (MG), no último dia 10, quando um adolescente foi morto e outras três pessoas se feriram. No Rio Grande do Sul, o único registro foi em 2019, sem vítimas fatais, quando um adolescente desferiu golpes de machadinho em seis estudantes, em Charqueadas.
Um motivo apontado pelos estudiosos para esse aumento de ocorrências diz respeito à facilitação do acesso a determinados conteúdos na internet. Se em 2010, quando ocorreu o emblemático episódio em Realengo (RJ), era necessário um conhecimento técnico prévio para conseguir acessar fóruns na deep web, agora as conversas acontecem na superfície, com perfis abertos e fechados em redes sociais como o Twitter e em comunidades em aplicativos como Discord e Telegram. Os assuntos são disfarçados com códigos e emojis.
A pesquisa indica que os ataques aconteceram tanto na rede pública como na privada – houve, inclusive, dois em instituições de ensino militarizadas, com dois óbitos.
– O fato de haver militares na escola não foi um impedimento, até porque morrer faz parte do plano da maioria dos autores desses ataques – pontuou Telma Vinha, que coordena a pesquisa, durante participação no 7º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, em São Paulo, em setembro.
O predomínio é de atentados em regiões mais ricas, com níveis socioeconômicos médio, médio-alto ou alto, onde estavam 28 das 34 escolas alvos. Não foi constatada correlação entre resultados em avaliações educacionais, quantidade de estudantes, infraestrutura física, recursos humanos ou percepção de violência pela comunidade.
Enquanto o perfil das escolas não dá pistas sobre um risco maior ou menor de massacres, as características dos agressores são recorrentes: eles têm de 10 a 25 anos, estando metade na faixa entre 13 e 15 anos. Todos são homens e, com exceção do autor do ataque em Realengo, em 2011, são brancos.
Internet, de aliada a inimiga
Os estudiosos analisaram as redes sociais desses jovens e constataram uma forte presença de concepções e valores opressores, como racismo, misoginia e ideais nazistas, além do culto à violência e às armas de fogo, com consumo de conteúdos de ódio; ausência de sentido de vida e perspectiva de futuro; busca por notoriedade, por meio de um número grande de vítimas; indícios de sofrimento mental e de percepção da escola como um lugar de dor, onde há exclusão, humilhação ou bullying; isolamento social; e inspiração em autores de outros ataques.
– Esses agressores apresentam indícios de transtornos mentais variados, mas cuidado: quando se fala isso, as pessoas imaginam esquizofrenia, psicopatia. Estamos falando em jovens com sofrimento acentuado. Pode ser ansiedade, rancor muito forte. Temos que tomar cuidado para não estigmatizar, porque nós temos transtornos, convivemos com quem tem e não atacamos escolas. Essa questão está associada a uma leitura racista, homofóbica, misógina de mundo – alerta Telma.
Sobre bullying, a pesquisadora diz que, com frequência, os gestores das escolas atacadas relatam que nunca souberam desses episódios. Segundo a professora, isso é comum: os casos costumam ser escondidos dos adultos e aparecer apenas entre os pares do aluno.
– Os adolescentes não reportam mais os problemas, porque a intervenção dos adultos piora a vida deles. Precisamos tornar a escola um lugar mais acolhedor, em que você consegue identificar o bullying, porque não vai ser por autorrelato que isso vai aparecer – afirma Telma.
Acadêmica norte-americana sobre ataques a escolas, Sherry Towers identificou, em seus estudos, um “efeito contágio” nessas situações. Em levantamento sobre assassinatos em massa e tiroteios em instituições de ensino nos Estados Unidos, foi verificado que 20% a 30% deles ocorrem em decorrência de casos registrados aproximadamente duas semanas antes. Analisando os dados do Brasil, ela entende que o mesmo parece estar ocorrendo por aqui.
– Partimos da hipótese de que as emoções humanas negativas, como raiva, medo e ódio, podem ser extraordinariamente contagiosas numa população, e abordamos o tema a partir de uma perspectiva de saúde pública, para quantificar quantas dessas tragédias acontecem devido ao contágio. Estabelecemos uma probabilidade básica de ocorrer um tiroteio em massa e descobrimos que, quando um desses ataques é registrado, essa probabilidade aumenta temporariamente em um futuro próximo, e esse aumento vai diminuindo gradualmente – descreveu Sherry durante o 7º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação.
Uma das explicações para esse efeito contágio é a forma como a mídia costuma cobrir esse tipo de ataque, que, conforme a norte-americana, muitas vezes, traz “roteiros” de como cometer um atentado, a partir de descrições sobre quem era o autor e o passo a passo de sua ação. Foi exatamente a partir dessa reflexão, proposta pela Associação dos Jornalistas de Educação (Jeduca), que, em abril, diferentes veículos brasileiros de imprensa anunciaram que não identificariam mais o agressor, nesses casos, e não focariam mais suas coberturas em sua atuação.
– O que aconteceu no Brasil foi algo louvável, e não foi por meio de leis. O Brasil funciona muito por imposições, mas, nesse caso, foi um processo de autorregulação da mídia, que chamou muita atenção. Não foi um processo acrítico: foi um processo de discussões, debate, questionamento – analisa Telma.
Outro exemplo de autorregulação da mídia citado por Sherry se dá em situações de suicídio: apesar de não haver leis que impeçam a cobertura, convencionou-se, entre veículos do Brasil e de outros países, que não se devem noticiá-los, justamente por também, nessas circunstâncias, haver um efeito contágio, com outras pessoas se inspirando naquilo para tirar a própria vida. Por outro lado, se emoções ruins são contagiosas, a norte-americana aposta: sentimentos como fé, esperança e amor também são.