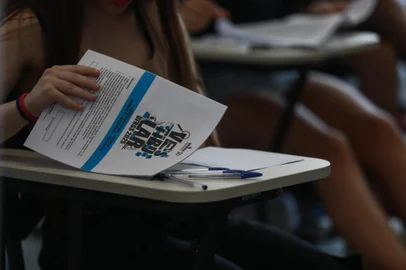Apenas metade das escolas públicas brasileiras trabalha com o tema do racismo em sala de aula, o menor patamar em 10 anos, mostra análise da organização não governamental Todos Pela Educação obtida por GZH nesta segunda-feira (24). Além disso, ano após ano, machismo e homofobia vêm sendo tratados cada vez menos por professores.
Os números indicam que, no início dos anos 2010, escolas brasileiras abraçavam debates sobre diversidade, mas o tema aos poucos perdeu espaço a partir da metade da década. Se, em 2015, um ápice de 75% das escolas brasileiras trabalhava projetos contra o racismo, a partir daí, o total cai ano após ano até chegar a 50,1% das instituições em 2021.
Machismo e homofobia também perderam espaço em sala de aula. Se, em 2017, quase 44% das escolas públicas brasileiras abordaram os dois tópicos, o número caiu para 25,5% em 2021.
O Todos Pela Educação é uma das maiores ONGs do Brasil na área de educação. Os dados analisados vieram de questionários feitos a diretores de mais de 66 mil escolas públicas pelo Sistema Nacional de Avaliação Básica (Saeb), elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), entre 2011 e 2021.
A queda no número de escolas que tratam do racismo em sala de aula ocorre a despeito da Lei 10.639, de 2003, que incluiu o ensino de história e cultura afro-brasileira em escolas brasileiras. O tema pode ser tratado por meio da valorização de manifestações artísticas ligadas à população negra. Um exemplo é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Victor Issler, no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre, que conta com o projeto BatucAção, que debate músicas, lendas e contações de histórias sobre orixás.
A perda de espaço na abordagem dos temas de diversidade se dá por conta do avanço da pauta ultraconservadora entre a população nos últimos anos, da falta de coordenação do MEC e dos impactos da pandemia, avalia Jackson Almeida, analista de Diversidade, Equidade e Inclusão no Todos pela Educação.
— O novo Ensino Médio oportuniza que temas como estes, que são transversais, tenham espaço no currículo das escolas. O ponto é que há uma falta de acompanhamento e de maiores orientações sobre como estruturar os itinerários formativos. Além disso, a pandemia trouxe uma limitação para algumas práticas pedagógicas por conta da inviabilidade do presencial, que engaja mais os estudantes — diz Almeida.
O avanço da pauta ultraconservadora na população e do projeto Escola Sem Partido fez professores terem receio de trabalhar questões de diversidade em sala de aula, incluindo racismo, homofobia e machismo, afirma a pedagoga Iana Gomes de Lima, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pesquisadora sobre conservadorismo na educação.
— Especialmente a partir de 2014, quando o Escola Sem Partido se torna forte no Brasil, começa a ter uma desconfiança em relação ao trabalho docente e um estímulo para que alunos e famílias denunciem o que o Escola Sem Partido chama de "doutrinação ideológica". Isso inclui, para eles, questões referentes a sexualidade, gênero e racismo — diz Lima.
A pesquisadora cita que diversos professores foram demitidos em escolas privadas ou transferidos de escola pública porque pais de alunos ou mesmo diretoras eram contra a abordagem de conteúdos ligados à diversidade.
O avanço de religiões de matriz evangélica entre brasileiros também chega a professores e diretoras, que se opõem a abordar o tema com seus estudantes. A religião evangélica cresce no Brasil, e em 2032 essa parcela da população ultrapassará o número de católicos no país, segundo projeção do demógrafo José Eustáquio Alves, professor aposentado da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
— Há um entendimento de que essas temas não devem ser abordados, seja por pressão de famílias conservadoras ou mesmo pela gestão da escola. O que temos visto é um movimento político, que não é só no Brasil, de pessoas evangélicas que se fazem presentes em diversas instâncias, seja na bancada da bala, em conselhos tutelares ou nas escolas — avalia.