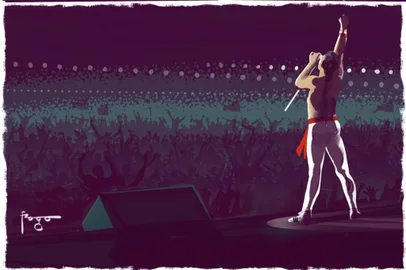Me sento em frente ao computador e olho para a tela em branco. Estou decidida a escrever algo a respeito do Dia dos Namorados, mas o quê? A clássica angústia dos colunistas. Antes que me venha a primeira palavra, aquela que puxa as demais, meu celular toca. É o Pedro. Ele está a 500 quilômetros, trabalhando numa cidade perto da fronteira com a Argentina, retornará daqui a dois dias. São três da tarde e ele ligou apenas para mandar um beijo, dizer que está com saudades. Essas coisas que acontecem entre... pois é, entre namorados. Ele tem 62 anos. Eu quase 60.
Cumpri o script da boa moça: tive o primeiro namorado “sério” na adolescência e casei com o segundo. Nosso casamento durou duas décadas, tivemos duas filhas e depois de uma separação amigável, emendei com outra relação que, entre altos e baixos, resistiu por oito anos. Separada novamente aos 52, achei que estava mais do que na hora de aproveitar minha juventude.
Dos 52 aos 57, namorei mais do que entre os 16 e 21. Foram relações curtas, que duraram de três a seis meses, mas nem por isso pequenas, desimportantes. Foi nessa etapa que consolidei meus vínculos fundamentais, que me estruturei para a liberdade possível e me assumi plenamente adulta, ou seja, abandonei as neuras e comecei a me divertir. Aprendi a me adaptar aos imprevistos, a recuperar sonhos deixados para trás e a renunciar a outros tantos, sem fazer drama. Foi quando tive certeza de que felicidade nada tem a ver com a reprodução de fórmulas consagradas pela igreja e pela sociedade, e sim com a manutenção de um estado de espírito tranquilo, com investimento em cultura e informação, com abertura para o novo, com a aceitação de quem se é, do jeito que se é, mas sem egolatria. Cada uma das minhas breves relações pós-50 anos foi uma viagem profunda de autoconhecimento, e quando encerrei o “tour”, achando que a vida já tinha sido generosa o bastante, escutei um sinal de WhatsApp. Era o amigo de um primo, o conheci aos 17 anos, nem lembrava seu rosto. Não chegou atrasado. Levei tempo para ficar pronta. Ainda bem que ele esperou.
Há três anos formamos um casal, mas não somos marido e mulher. Não moramos juntos. Não nos vemos todos os dias. Não há ciúmes e desconfianças. O compromisso maior não é um com o outro, e sim de ambos com a vida que acreditamos que vale a pena ser vivida: com consciência, desprendimento e respeito por aquilo que cada um construiu até aqui. Eternidade? Talvez ela não ultrapasse a próxima quarta ou quinta-feira. Em plena pandemia, somos dois sortudos vacinados e unidos contra o tédio. Sem pudor, dançamos no meio da sala, acumulamos rolhas de vinho, postamos fotos no Instagram e nos telefonamos a qualquer hora do dia, por nada – aquele nada absolutamente essencial.