
De sua Santos (SP) natal, “porto para o mundo”, como ele afirma, Sérgio Mamberti construiu uma carreira prolífica que inclui dezenas de espetáculos teatrais (“Encenei todas as peças de Shakespeare”, diz), telenovelas e filmes. Além de ator, dirigiu, produziu, escreveu e trabalhou no Ministério da Cultura por mais de uma década. No livro memorialístico Sérgio Mamberti, Senhor do Meu Tempo, um longo depoimento biográfico em primeira pessoa redigido pelo jornalista gaúcho Dirceu Alves Jr., ele lembra bastidores dessa trajetória que, sob certo aspecto, sintetiza as relações entre arte e política no Brasil dos últimos 60 anos. Alguns episódios Mamberti recorda na entrevista a seguir. Spoiler: há trechos saborosos envolvendo Porto Alegre, Plínio Marcos, José Serra, Brizola, Fernanda Montenegro e Patrícia Galvão, a Pagu, musa do modernismo e figura inescapável da cultura brasileira no século 20.
Por que um livro escrito em primeira pessoa, com o biógrafo assumindo a voz do biografado?
Eu tinha uma série de planos para comemorar meus 80 anos. Além das turnês com os espetáculos Um Panorama Visto da Ponte e Visitando o Sr. Green (que passou por Porto Alegre em 2019), planejei uma exposição de colagens (exibida na galeria São Paulo Flutuante em 2019) e este livro biográfico. Tudo de algum modo acabou interrompido com a pandemia, mas o livro já estava patinando desde antes. Eu não conseguia escrevê-lo. Aí pedi auxílio ao Dirceu, que havia acabado de lançar uma biografia do (ator e diretor) Elias Andreato. Fizemos encontros de quatro horas, duas vezes por semana, nos quais eu fazia relatos para ele. O projeto sempre teve o propósito de ser bem pessoal. E de reunir histórias contadas por mim – dizem que sou bom contador de histórias. Além disso, tive uma inspiração na minha mãe, que escreveu suas memórias dessa maneira após a morte do meu pai (Caderno de Lembranças, livro lançado por Maria José Duarte Mamberti em 1998). O jeito de ela narrar me inspirou muito. E o Dirceu foi muito sensível a esse meu propósito, sem essa capacidade de ele assumir a minha voz o livro não teria saído.
No prólogo, em um texto curto, a atriz Fernanda Montenegro escreve que o senhor é um “ator absoluto”. O que podemos entender disso?
É um orgulho ler isso vindo de Fernanda. Como ator, incorporo todas as minhas vivências. Uso a arte teatral como um veículo para me mostrar, para compartilhar o que sou, o que vivi, o que me constitui a partir do meu aprendizado. Esse é o grande objetivo do ator, no fim das contas. E constatar que Fernanda acha que consigo isso me enche de felicidade. Convivi com muitas atrizes, a Cacilda Becker, a Cleyde Yáconis, com tantos atores, também, mas a Fernanda sempre foi para mim um espelho, alguém para quem olhava buscando inspiração.
Ainda no texto do prólogo, ela escreve: “Nunca o vi sem um grande brilho nos olhos, nunca o vi sem a sagrada esperança ativa”. Qual o segredo para manter a esperança, mesmo em tempos difíceis?
Sempre acredito que a gente pode mudar para melhor. Parte da minha família veio da Sardenha (ilha italiana no Mar Mediterrâneo), mesma região de origem de familiares da Fernanda. Acho que ela também tem isso, e me parece que herdamos essa característica daí. Nós dois nos colocamos por inteiro no trabalho, no meu caso inclusive ampliando a atuação para a política. Busco tanto a melhora das condições de vida e de trabalho para todos que não posso ficar parado. Podemos estar na situação em que estivermos, eu me recuso a não acreditar na mudança para melhor. E é porque acredito que busco mudar as coisas. Sou militante político, sim, mas um militante que quer mudar o mundo por meio da cultura. O teatro é extremamente inspirador, mudou tudo em mim. Acredito que pode mudar nos outros também.
A arte ajudou a mudar muita coisa, e o senhor aborda algo nesse sentido no livro ao falar sobre quando interpretou Veludo, de Navalha na Carne, em 1967. Em que medida esse personagem foi importante?
Naquele momento, muitos personagens homossexuais eram caricaturas, e grande parte deles desprezados apenas por serem homossexuais. O Plínio Marcos (autor da peça) foi importantíssimo ao desmistificar esse tipo de figura no imaginário popular – e o fez com sua arte. Ele colocou os marginalizados em cena, sob os holofotes. Naquela época, eu havia acabado de ganhar o prêmio Saci, o mais importante de teatro no país, pela peça O Inoportuno (de 1964, dirigida por Antônio Abujamra). O reconhecimento veio no momento em que casei e estava com filho nascendo. Ouvi muito: “Mas você vai interpretar aquele veado? Isso vai destruir sua carreira!”. E isso mesmo no ambiente do teatro. Houve campanhas preconceituosas contra esse espetáculo. A primeira cidade para a qual o levamos fora de São Paulo foi Campinas (SP). Estávamos tão apreensivos quanto à recepção que deixamos um carro pronto para nos socorrer caso fôssemos agredidos. Depois, não, a coisa andou e fomos aclamados pelas plateias ao longo de mais de dois anos de apresentações.
O preconceito vem de longe. Mas evoluímos nesse sentido, não? Sim. A luta contra o preconceito se amplificou tanto que o próprio movimento LGBT+ ganhou novas letras, né. Tem muita gente lutando. E eu acho que, no Brasil, o Veludo e o Plínio Marcos estão na raiz dessa luta, fundamentalmente por mostrar o lado humano do personagem. Muita gente fala que Plínio tem muito palavrão. Mas esse realismo aproxima as pessoas desse universo que para muitos é diferente. E ele tem diálogos primorosos. Era um autor inovador. Na época do Navalha na Carne, as peças costumavam ter três atos, e esta tinha só um. Teve espectador perguntando se o ingresso cobrado seria inteiro ou só um terço...
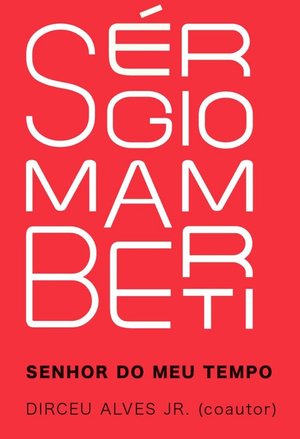
O senhor conta no livro uma história engraçada sobre o encontro da sua mãe com a mãe de Plínio Marcos.
Sim! Eu era muito jovem, ainda, e minha mãe, ao conversar com a mãe do Plínio, comentou com ela o quão receosa estava pelo fato de os dois filhos – eu e meu irmão Cláudio – termos escolhido a profissão de ator. A resposta da mãe do Plínio foi ótima, não tem como esquecer: “Maria José, levante as mãos para o céu: meu filho largou tudo para trabalhar no circo”.
Como foi ver o golpe militar em Porto Alegre, onde o senhor estava em 1º de abril de 1964?
Aquele era um momento de militância para toda a minha geração. Levei jornais com teses do Partido Comunista sobre as reformas de base na bagagem para ler durante a viagem a Porto Alegre, onde apresentaríamos O Inoportuno. Já se falava em golpe, mas eu não acreditava muito que ocorreria. A estreia seria em 31 de março, no Theatro São Pedro. Nesse dia, ao ir para o teatro, vimos a movimentação diferente nas ruas. Quando estávamos nos preparativos ouvimos tiros, barulho do povo na rua. Foi tudo ali, na nossa frente (o São Pedro fica na Praça da Matriz, mesmo endereço do Palácio Piratini), inclusive no início seguimos nos preparando como se nada estivesse acontecendo, e o povo resistindo lá fora (a resistência gaúcha ao golpe obrigou o então governador Ildo Meneghetti a transferir o governo do Estado para Passo Fundo até 4 de abril). Leonel Brizola abriu espaço para os artistas discursarem na época, via transmissão de rádio. Os artistas mais conservadores também eram contra (o golpe). Discursamos todos. Fomos nos dando conta aos poucos da gravidade da situação.
O senhor também narra outro episódio ocorrido na capital gaúcha, em 1961, quando, aos 21 anos, apresentou Os Fuzis da Sra. Carrar no Festival Nacional de Teatro de Estudantes.
Esse espetáculo marcou a estreia da Dina Sfat. A Sra. Carrar era interpretada pela Yara Amaral, e a Dina era secretária do Instituto Mackenzie, que nos levou a Porto Alegre para esse festival. Fomos de ônibus. O José Serra, hoje político mas na época estudante de teatro, estava no grupo. Foi incrível. Mobilizamos a plateia, que saiu com a gente do teatro (Salão de Atos da UFRGS) cantando músicas da revolução pela cidade, sempre em espanhol (a peça de Brecht aborda a resistência contra a ditadura de Francisco Franco na Espanha). Fomos carregados, um momento lindo. Até hoje, quando o Serra me encontra, ele vem cantando as mesmas músicas.
Patrícia Galvão, a Pagu, era jurada desse festival. O senhor conta que foi ali que percebeu o quanto ela estava mal em decorrência do alcoolismo.
Ali, naquele festival, ela ainda era jovem, tinha 50 anos na época, mas para mim era uma senhora, já aparentando muito cansaço. E, ao mesmo tempo, era uma menina, cheia de brilho. Ela era apaixonada por teatro, ainda tinha essa chama acesa naquele momento, embora bebesse o tempo todo, tomando gin desde de manhã. Ela chegou a me pedir para acompanhá-la até um boteco às 9h, estava tremendo e só parou depois de beber um copo de gin. Logo em seguida ela teve diagnosticado um câncer e veio a falecer no ano seguinte.
Como o senhor vê o atual avanço do autoritarismo, com pessoas chegando a pedir o retorno da ditadura?
Vejo o atual apelo ao autoritarismo com muita decepção. O Brasil teve um processo de abertura e de inegáveis conquistas democráticas desde o fim da ditadura, mas hoje deparamos com um retorno autoritário que é global. O país entrou em uma onda mundial. Eu diria inclusive que todo o processo de desrespeito a direitos humanos básicos nos levou à crise atual, que é sanitária e também social. Vejo no avanço do vírus uma resposta da natureza aos abusos que nós cometemos e que estão relacionados à ideia autoritária de se apropriar de tudo, usar tudo, manipular todos. Não consigo ver muito claramente o processo, mas me parece que as coisas estão interligadas. Somos egoístas. O egoísmo nos trouxe a essa situação. Devemos pensar mais no coletivo, na sociedade como um todo.
Como foi sua experiência “do outro lado do balcão”, saindo da criação para pensar políticas públicas no Ministério da Cultura durante o governo Lula?
No caso da minha geração, essa divisão entre a produção e a política cultural não é tão evidente. Sempre vimos esses dois âmbitos interligados. Sempre fomos muito politizados. A vanguarda da época em que comecei a fazer teatro era ligada ao Partido Comunista. E isso era motivo de grandes debates, porque o autoritarismo existe à direita e também à esquerda; o comunismo foi tremendamente autoritário em diversos locais e épocas. Os debates eram fortes, todos defendiam ferrenhamente seus pontos de vista, e isso se misturava com a criação artística. Por isso digo que, quando cheguei ao ministério, que foi quando Lula chegou à Presidência (em janeiro de 2003), era essa geração inteira que havia alcançado o poder. Tudo o que debatemos ao longo das décadas culminou no governo Lula. Na pasta da Cultura, algo que para mim era muito caro era a diversidade cultural. Me orgulho de ser o primeiro secretário da Identidade e da Diversidade Cultural do Brasil e quem sabe do mundo.
O senhor atuou em O Diário de Anne Frank (no teatro, 1977), em O Tempo e o Vento (novela da TV Excelsior de 1968), foi o mordomo da vilã Odete Roitman (em Vale Tudo, 1988), encenou os clássicos, contracenou com os maiores. Por que considera Dr. Victor, da produção infantil Castelo Tá-Tim-Bum (1994), o seu grande papel?
O que considero é que esse é o trabalho que concentra todas as ideias que estão em mim. E ele formou e segue formando gerações. Sou parado na rua por causa dele. Já vieram falar comigo em outros países por causa do Dr. Victor. No Xingu, os meninos indígenas vieram correndo a mim gritando “Tio Victor, Tio Victor”. Na Praça da República, um grupo de meninos cheiradores de cola me identificou devido a ele – disseram que viam Castelo Rá-Tim-Bum pelas vitrines das lojas! Esse personagem ficou em cartaz por mais de 20 anos, volta a todo instante, estará na TV Cultura em breve novamente no centro de um novo programa que ainda está em elaboração e que vai se chamar O Espelho do Dr. Victor. A satisfação que ele me traz é imensa. Única.









