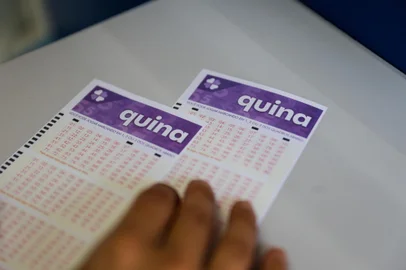Autor de 45 livros, o paranaense Mario Sergio Cortella, que completará 67 anos em 5 de março, é hoje uma das atuais referências no Brasil no campo da filosofia. Professor, doutor em Educação, escritor, palestrante e comentarista de rádio e televisão, o midiático filósofo que nasceu em Londrina (PR) faz questão de salientar que está em distanciamento social desde 16 de março de 2020, em São Paulo, onde mora. Um dos momentos de maior felicidade nesse período, conta, foi receber a notícia, por telefone, enquanto estava ao vivo em uma rádio, de que a mãe, a professora aposentada Emilia, 91 anos, havia recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19, em 9 de fevereiro. Ela mora a uma quadra da casa do filho, e os dois vinham se comunicando, na maior parte do tempo, pela janela. Nesta entrevista, citando vários artistas e pensadores gaúchos, Cortella analisa o primeiro ano da pandemia de coronavírus, fala sobre a vida, a morte, as lições que o período já trouxe e deixa um conselho para o país nas próximas eleições.
No seu livro Viver em Paz para Morrer em Paz (2017), o senhor comenta que “o homem não teme o que vê, mas o que não vê”. No caso da pandemia, acredita que isso se confirma, apesar de pessoas continuarem negando sua existência?
O impacto da pandemia no início de 2020, adensando para pior no decorrer do ano passado, trouxe uma primeira circunstância que lembra o título de um álbum da Adriana Calcanhotto: Nada Ficou no Lugar. O estremecimento do nosso cotidiano fez com que houvesse duas atitudes extremamente perigosas quando se juntam: uma certa descrença na doença, que afinal não podia ser notada diretamente, é “invisível”, e a tolice de supor que somos invulneráveis. O vírus nem é considerado vivo, mas é absolutamente danoso. O vírus não tem ética, isto é, não tem critérios de escolha. Ele não decide para onde vai. Isso está na natureza dele. Quem pode decidir e escolher o que fazer diante dele somos nós. Nós tememos muito aquilo que não vemos, mas, nesse caso, ficamos desatentos aos seus sinais, por mais que haja alertas muito expressivos. É que nossa possibilidade de mudança, de alteração, é um pouco mais complexa, como diz o gaúcho Apparício Torelly, o Barão de Itararé: “Tudo seria mais fácil se não fossem as dificuldades”. Algumas pessoas ainda criam a fantasia de que não há dificuldade, de que se trata de invenção. Isso não só retarda a possibilidade de enfrentamento como agrega periculosidade ao vírus. Se o vírus raciocinasse, não imaginaria que seríamos capazes de tantos descuidos e que, assim, a natureza dele se cumpriria com tanta facilidade.
Haverá uma mudança ética pós-coronavírus, com as pessoas preocupando-se mais ou menos com o coletivo?
Uma parte das pessoas alterará sua conduta. Mas essa parte não é tão expressiva. Se olharmos para a trajetória anterior da humanidade, veremos que momentos graves que gerariam, em princípio, uma mudança de conduta para melhor, não trouxeram esse resultado de forma mais imediata. Assim que a tempestade acalma, muitos saem novamente supondo que não haverá tanto efeito posterior da tempestade e que ela não voltará. Esse tipo de crença em algo que não tem sentido acaba gerando em vários momentos da história humana uma dificuldade de trazer uma memória mais imediata. Assim que há uma diminuição do sufoco, parte das pessoas relaxa em larga escala e, portanto, se distrai e se torna mais insegura. Há pessoas que aproveitarão a circunstância daquilo que tivemos e temos de viver, que é muito difícil, que é agonizante e agoniante, e tirarão lições positivas. Mas uma grande parte permanecerá no mesmo modo de ação no dia a dia. Pessoas que eram tolas antes, tolas permaneceram durante a pandemia e é provável que tolas continuarão. Charles Darwin, ao construir sua concepção em relação ao modo em que as espécies e a vida progridem, no século 19, lembrou algo que a gente nem sempre interpreta de modo correto. Darwin nunca usou a palavra “evolução” no sentido de melhoria, mas de mudança. Que, aliás, é o sentido original no grego antigo. A palavra evolução não é positiva ou negativa por si mesma. Tampouco desenvolvimento e progresso. Encrenca também progride, corrupção também se desenvolve. E, portanto, dizer que nós estamos evoluindo é uma crença meio mística numa positividade. Quando um de nós falece, o médico anota no prontuário “evoluiu para óbito”. Nesse sentido, a humanidade pode estar se, tolas e tolos continuarmos em várias situações, evoluindo para óbito. Alguém diria: “Mas isso não é nossa escolha”. Sim, é nossa escolha. Quem não tem escolha é o vírus. Nós temos.
O vírus não tem ética, isto é, não tem critérios de escolha. Ele não decide para onde vai. Isso está na natureza dele. Quem pode decidir e escolher o que fazer diante dele somos nós.
Alguns pensadores lembram que a humanidade passou por outros traumas coletivos e não evoluiu. outros, mais esperançosos, acreditam que vamos sair dessa melhores. Em que tipo de “corrente” o senhor se enquadra, entre os otimistas ou pessimistas?
Não sou triunfalista a ponto de imaginar que sairemos redimidas e redimidos, que teremos uma conversão ao mundo da bondade e da solidariedade. Mas também não sou catastrofista para supor que não haverá alterações de conduta de várias pessoas e de alguns governos que forem inteligentes, que aprenderão com essa lição. Pelo meio mais difícil, que é o dano, mas aprenderão. A humanidade é capaz, em algumas circunstâncias, de dar um passo além. Há mais de 70 anos que a gente busca negar o horror nazista. Aquela foi uma lição. Quem passou por processos como genocídios diz o tempo todo que não podemos esquecer, que não podemos deixar de lado aquilo que foi tão horroroso. O mesmo vale para outras situações na história humana. A gente conseguiu dar um passo adiante. O grande Ivan Izquierdo (1937-2021) produziu uma reflexão muito forte ao falar do papel do esquecimento na preservação da saúde mental: “Existe um esquecimento que é ruim, que traz maldade, porque se acaba correndo o risco de, colocando na penumbra o que já foi negativo, trazê-lo de volta num outro momento. Mas existe um esquecimento que é necessário”. Temos de sair da pandemia, temos de ter um controle maior sobre as circunstâncias de vida coletiva e não podemos levar na memória de modo contínuo tudo o que vivenciamos porque, do contrário, não damos o próximo passo. Por isso, há coisas que precisam ser trancadas num baú de memórias, mas há outras que a gente não pode esquecer. Na história humana, há momentos em que o aprendizado foi mais elevado do que o esquecimento proposital marcado pelo fingimento de que as coisas não tinham acontecido.
O senhor, então, fica em um meio termo entre o otimista e o pessimista?
Não. Sou um otimista crítico. Sou aquela pessoa que enxerga a possibilidade de fazermos o que é melhor, mas não acha que isso será automático, que virá conosco apenas aguardando as coisas acontecerem. Nesse sentido, ao contrário do que escreveu Lupicínio Rodrigues, não acho que “a felicidade foi-se embora”. A gente tem de colocar um ponto de interrogação e sermos capazes de reescrever e reinventar nosso trajeto. O otimismo crítico é aquele da esperança ativa, de quem se junta e vai buscar o melhor. Não é o da esperança que aguarda. Uma das frases que eu menos aceito é: “Por favor, alguém tem que fazer alguma coisa”. Essa expressão deve ser colocada como uma pergunta espelhada. De modo que, embora ninguém consiga fazer tudo, ninguém é incapaz de fazer algo para que as coisas melhorem.
A única maneira de lidarmos com tudo o que está acontecendo de modo que não seja traumático é sermos capazes de imaginar que, em todos os nossos momentos anteriores da vida, ultrapassamos fases não tão densas e danosas como esta, mas conseguimos fazê-lo. Afinal, não nascemos prontos. Vamos nos construindo dentro da nossa trajetória. A vida é um processo, e processo é mudança. Teremos de reaprender, refazer, recriar, mas faremos isso.
Há pesquisas e pesquisadores alertando para um aumento dos problemas de saúde mental durante a pandemia. Muita gente está com dificuldade de passar pelo período com as restrições, o isolamento, a sensação de medo... Já tem gente falando de uma outra epidemia: de ansiedade e depressão. Será que, como sociedade, agora vamos finalmente levar mais a sério esse tipo de doença?
Agora ainda não conseguimos olhar melhor para isso. Porque hoje o perigo do vírus é muito expressivo. As situações de transtornos depressivos de maneira geral ainda não são tão notadas porque ficam dispersas em meio a essa outra agrura que estamos vivendo. Mas os lutos que serão vividos, que não só são lutos em relação a perdas de pessoas, mas a todas as perdas, de emprego, da condição econômica, do convívio, dos projetos, do tempo em isolamento, sem dúvida, deixarão cicatrizes. Não podemos fingir que isso não virá à tona. O surto possível de transtornos depressivos tem uma possibilidade muito grande de eclodir. E aí, nas várias instâncias de cuidados sociais, é preciso que não se subestime a condição depressiva que algumas pessoas terão. Será necessário entender que talvez não estejamos diante apenas de demonstrações de fraqueza, mas do resultado de uma série de circunstâncias que são funcionais, no campo da mente, que são orgânicas, no campo químico, e que não podem ser desprezadas. Então, se agora a emergência é cuidar para evitar a contaminação, o passo seguinte no campo da saúde pública e das políticas em geral será lidar com a saúde mental.
Como podemos superar as mudanças trazidas pela pandemia e entender que aquela vida de antes já não é mais a mesma? Ela poderá voltar a ser?
A vida nunca é do mesmo modo. Ela é de modos diversos. Mas a aceleração das mudanças foi muito impulsionada neste momento. De 16 de março de 2020 até a data de agora estou em isolamento social quase completo. Tive de me reorganizar e mesmo reinventar o meu trabalho para que pudesse fazê-lo de modo remoto, para que minha produção e convivência com as pessoas com as quais eu trabalho se desse de outra maneira. Sou professor há 46 anos. Imagine o quanto que tive de alterar o modo de ensinar, a convivência com as novas gerações, a chegada de tecnologias. Sempre mudei, mas nunca tive de mudar tanto num tempo tão comprimido. Por isso, a nossa dificuldade maior quando do apaziguamento pandêmico será nos darmos conta de algo que não foi digerido direito. Nós não deglutimos, não conseguimos refletir tanto sobre a vida que levávamos e que passamos a levar. Em março, lanço um livro novo que busca também analisar essas questões todas nossas, mas especificamente ligadas ao mundo do trabalho. Um livro inspirado no estupendo paraibano Geraldo Vandré que se chama Quem Sabe Faz a Hora – Competências Certas em Tempos Incertos. A única maneira de lidarmos com tudo o que está acontecendo de modo que não seja traumático é sermos capazes de imaginar que, em todos os nossos momentos anteriores da vida, ultrapassamos fases não tão densas e danosas como esta, mas conseguimos fazê-lo. Afinal, não nascemos prontos. Vamos nos construindo dentro da nossa trajetória. Os idosos têm uma expressão que nos ajuda, serve para meditarmos, quando diziam que “quando não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe”, ou “não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe”. A vida é um processo, e processo é mudança. Teremos de reaprender, refazer, recriar, mas faremos isso. Vou citar um exemplo muito pessoal. Minha mãe, Emília, está a um quarteirão e meio do meu apartamento. Ela fará 92 anos, e foi vacinada em 9 de fevereiro. Ela nasceu em 1929, ano da grande crise econômica, quando meus avós espanhóis, que estavam no Brasil desde o final do século 19, quebraram porque eram da área do comércio. Minha mãe nasceu uma década depois de a gripe espanhola levar 50 milhões de vidas, 10 anos depois do fim Primeira Guerra Mundial, que levou vários parentes. Quando minha mãe tinha 10 anos, estourou a Segunda Guerra, na qual morreram 55 milhões de pessoas. E depois se viveu o terror de uma guerra nuclear que poderia extinguir a humanidade de modo conclusivo. Quando ela já era mãe e quase avó, tivemos a crise do petróleo, a inflação estupenda no Brasil, e momentos em que o terrorismo se deu de vários modos. Agora, com ela já bisavó, vivemos um mundo de violência e brutalidade. Quando falo para ela “mãe, tá difícil”, ela diz assim: “Cê não viu nada!’. É um sinal de alento nestes tempos difíceis.
O negacionismo tem de ser levado a sério. Não pode ser lidado de modo folclórico. E a maneira de enfrentá-lo é com provas, com o concreto. E com a responsabilização.
O senhor costuma citar o personagem Riobaldo, de Grande Sertão: Veredas, para quem “viver é muito perigoso”. É mesmo?
Riobaldo diz isso várias vezes em Grande Sertão: Veredas, e temos de lembrar que Guimarães Rosa era médico. Portanto, ele estaria, se vivo estivesse, provavelmente envolvido num trabalho de busca de proteger a vida. Das várias vezes em que Riobaldo diz, numa delas é um pouco mais inclemente porque ele diz que “viver é muito perigoso, sempre acaba em morte”. Nesse momento, ele está dando um sinal que serve para o nosso tempo. A consciência da nossa mortalidade ficou muito mais evidente na pandemia. Algumas pessoas esquecem de que a morte não é uma ameaça, mas uma advertência de que não somos infinitos. E que, portanto, nós temos de cuidar para que a vida que temos, enquanto a temos, não seja banal, inútil, fútil, descartável. De modo algum, entendo a morte como ameaça. Ela é apenas uma condição de qualquer ser vivo. Nesse sentido, é preciso entender que esse perigo não significa uma impossibilidade de enfrentá-lo. Viver é perigoso, mas enfrentar o perigo é preciso. Como lembra Mario Quintana: “Um dia... Pronto! Me acabo. Pois seja o que tem de ser. Morrer: que me importa? O diabo é deixar de viver”. E deixar de viver não é algo que aconteça quando se morre. Deixa-se de viver quando se vive de modo banal, egoísta e tolo. Nesse sentido, insisto: viver é muito perigoso, mas a gente faz aquilo que deseja e aquilo que pode para que este perigo seja enfrentado, e a vida, enquanto der, não cesse.
Que lições devemos tirar desse período? é possível tirá-las ainda em meio à dor e à tristeza?
Podemos tirar três grandes lições deste período. Em filosofia, a gente costuma dizer que quem menos sabe da água é o peixe. Estamos, ainda, muito mergulhados neste momento para entendê-lo. Então, ainda não dá para olharmos para todas as lições. Mas três são nítidas. A primeira é que precisamos ter cautela com a nossa arrogância enquanto humanidade. É preciso mais humildade. Não somos capazes de todas as coisas, nem com a velocidade que a gente imagina. Nações altamente poderosas, com a capacidade destrutiva de fazer com que o planeta desapareça se utilizarem todo o seu armamento num determinado tempo ou de modo concomitante, são incapazes de liquidar num tempo mais veloz um adversário que nem é visível. A segunda lição é o quanto a ciência colaborativa e o trabalho cooperado são decisivos. De fato, não haveria como diminuir o horror produzido à nossa volta não fosse a força que a cooperação oferece. Se cada local buscasse achar a sua saída exclusiva, individual e localizada, não se produziria o resultado inédito que se conseguiu em ciência até agora. Terceira lição: havia muitas coisas que estavam na penumbra. Não estávamos vendo o quanto havia de sofrimento cotidiano para muitas pessoas que, independentemente da pandemia, já tinham suas dores, suas feridas, em relação à condição de vida. Veja o acesso à tecnologia, por exemplo. Quantos alunos estão tendo dificuldades com o ensino remoto por não disporem de aparato tecnológico. Há uma ausência brutal de condições de existência de vários tipos que a pandemia acabou trazendo à tona.
Em 2020, o senhor lançou o livro Felicidade: Modos de Usar junto a Luís Felipe Pondé e Leandro Karnal. Hoje é mais difícil ser feliz?
A felicidade é uma circunstância eventual. Não é uma presença contínua. Ela não é um evento futuro. Quem diz “um dia eu vou ser feliz” terá uma grande chance de não sê-lo, porque fica aguardando, tal como em Esperando Godot, alguém que não virá e não chega. Uma pessoa que, no momento como este, estiver o tempo todo feliz, não é feliz; ela é tonta. Está alienada em relação ao que a circunda. Mas uma pessoa que for infeliz o tempo todo está perdendo ocasiões em que a vida dela poderia vibrar. Não dá para ser feliz o tempo todo, mas não dá também para ter a escolha da amargura e da melancolia. Mesmo que se tenha muito mais incômodos do que sofrimento, como pode ser o caso atual com as restrições de circulação e de convivência social.
Que impacto a sociedade pode ter diante de lideranças que incitam o negacionismo, fazem falas anticiência e dão corda para movimentos conspiratórios? É uma pergunta para além do impacto inicial óbvio de ter gente que entra na onda se recusando a se vacinar, por exemplo: podemos colher algo a longo prazo, uma sociedade paranoica ou algo do tipo?
Aderir ao que ameaça a vida das comunidades humanas é grave. Mais ainda quando vem daqueles que precisam exercer a liderança. O fato de haver várias nações com líderes que não têm preparo para fazê-lo tornou muito mais expressivo este momento ruim. Por outro lado, também serve como alerta para que se entenda que o negacionismo tem de ser levado a sério. Não pode ser lidado de modo folclórico. E a maneira de enfrentá-lo é com provas, com o concreto. E com a responsabilização. Isso é, pessoas que, por conta de uma atitude despreparada, fizeram com que as sociedades com as quais elas têm responsabilidades públicas ficassem desprotegidas, não podem ficar impunes em relação ao que fizeram. Falo de várias lideranças mundiais que desqualificaram a pandemia. O Brasil, especificamente, terá de sair deste momento com uma noção mais nítida de que a democracia tem alguns mecanismos de proteção que ajudam bastante. Bom, mas nenhum de nós que em 2018 depositou o voto na urna imaginaria que uma pandemia poderia ocorrer. A gente não imaginava, mas tínhamos de levar em conta que, quando escolhemos uma liderança, esta terá tarefas e responsabilidades. A longo prazo, não sei se ficaremos paranoicos, mas mais atentos e atentas nós precisamos ficar. Afinal, como dizem alguns, “confie em Deus, mas amarre bem os seus cavalos”. Porque, de repente, alguma coisa pode vir pela frente.