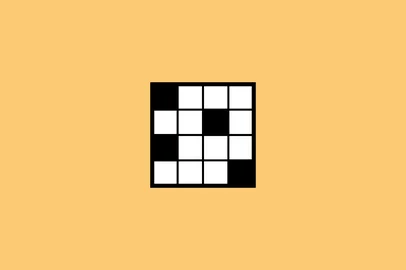Aos 62 anos, Scholastique Mukasonga é a escritora mais famosa de Ruanda. Nascida na província de Gikongoro ela era pequena quando começaram as primeiras tensões entre hutus e tutsis que três décadas mais tarde eclodiriam no genocídio praticado pelos primeiros contra os segundos. Estudante no sofisticado internato de Notre Dame de Citeaux, ela conviveu com o preconceito por ser tutsi. Quando o massacre teve início, Scholastique não vivia mais em Ruanda havia duas décadas. Ela e um de seus irmãos, André, haviam sido enviados pela fronteira do Burundi pela mãe, para preservá-los da tensão crescente. Em 1994, uma orgia de sangue resultou em 800 mil mortos ao longo de cem dias. Ao fim das hostilidades, ela havia perdido 27 familiares, incluindo seus pais e seus irmãos menores.
Scholastique tornou-se uma escritora conhecida transformando essa experiência no livro Baratas (2004), um relato da sua tentativa de compreender, uma década depois, o que levou à tragédia. O livro forma um tríptico com os romances A Mulher dos Pés Descalços (2008), uma elegia a sua mãe, e Nossa Senhora do Nilo (2012), novela sobre um grupo de alunas de um liceu de alta classe. De passagem por Porto Alegre para atividades na Feira do Livro, Scholastique conversou com GaúchaZH sobre as marcas do genocídio, a reconciliação e reconstrução do país e o discurso anti-imigração ao redor do mundo.
Seu primeiro livro, Baratas, narra a história de uma mulher que 10 anos depois do genocídio em Ruanda está acertando as contas com a memória de seus parentes e com o destino de sua família. a senhora poderia falar sobre esse processo?
De fato, esses 10 anos foram o tempo necessário para eu ter esse "clic" e sentir essa vontade de escrever essa história, uma narrativa que fala principalmente sobre como a explosão de ódio e a escalada da discriminação que existiram naquele período começa nos anos 1960. É algo retirado das minhas lembranças, um livro 100% autobiográfico. É o livro que eu sentia que tinha a obrigação de escrever. Normalmente, eu não tenho um projeto definido para meus livros, mas esse eu sabia que precisava escrever, sobretudo com tudo o que estava acontecendo no país em 1994. Depois do genocídio, tive notícias, em Paris, da morte de muita gente de minha família. Então eu tinha esse grande número de mortos, mas não tinha os corpos. Escrever esse livro foi uma forma de ressuscitar como memória os corpos desses mortos no papel. Por isso costumo dizer que esse livro é um túmulo de papel para todos esses mortos que eu não pude sepultar.
Foi uma forma então de elaborar o luto?
Não. Não é exatamente a palavra luto. Quando usamos essa palavra, estamos nos referindo a uma coisa natural. Quando falamos do genocídio em Ruanda, estamos falando de uma situação específica e particular, um massacre em que a vida das pessoas foi tomada à força. A necessidade de lembrar dessas pessoas é a única coisa que me faz levantar de manhã e seguir adiante, lutando por meio da escrita. Na verdade não é fazer um luto, é ter a força, a partir dessa memória, de continuar seguindo em frente a partir desse flashback do passado. O luto parece trazer uma ideia de esquecimento. O que eu faço é lembrar e relembrar a vida de todas aquelas pessoas. No início, tive mesmo a impressão de que deveria fazer o luto, a partir do primeiro livro, Baratas, passando pelo A Mulher dos Pés Descalços e Nossa Senhora do Nilo. Mas aí senti como se estivesse roubando o luto das pessoas à minha volta. Não era de fato uma questão de fazer o luto, era de apresentar um contraditório. O que eu deveria fazer era trazer por escrito a memória daquelas pessoas e daqueles acontecimentos, porque quando você esquece, está matando as vítimas uma segunda vez. Não era o luto, era o contrário disso, era reviver o passado.
Quando o genocídio em Ruanda explodiu, em 1994, muitos países da comunidade internacional, alheios ao que se passava no país, se disseram surpreendidos pela escalada da violência. Seus livros reconstroem os antecedentes desse processo. É sua reconstituição de um processo histórico?
Na verdade, eu sou uma escritora atípica porque nunca tive um processo muito claro em tudo isso. Comecei com a autobiografia, com minhas memórias. Depois que passei aos contos e romances, deixei um pouco esse espaço da memória, que poderia ser um tanto incômodo às vezes, para trabalhar com a ficção. Aí eu tive uma liberdade um pouco maior de lidar com o tema. No meu primeiro livro escrito nesses moldes, Nossa Senhora do Nilo, foi quando pude finalmente ter a liberdade de brincar com a distância daquele tempo. Eu escrevi esse livro na praia, e ali eu podia ver esses personagens como se eles morassem no outro lado do Canal da Mancha. Pude de fato me transportar para aquele outro tempo, mas dessa vez com o prazer que a ficção me proporciona. Há três personagens que aparecem nesse livro que representam facetas minhas. Uma delas, em particular, Gloriosa, representa tudo o que eu vivi na escola em que estudei, Notre-Dame de Citeaux, mas eu pude brincar com a liberdade da ficção e descrever aquelas cenas com um elemento de humor.
Nossa Senhora do Nilo é um romance sobre um liceu de classe alta em que um homem branco, antropólogo excêntrico, diz a uma das protagonistas que ela, tutsi, descende da nobreza egípcia. É uma alegoria do papel do colonialismo europeu no acirramento das diferenças étnicas no país?
Foi um livro que eu escrevi em três níveis. O primeiro foi esse que mencionei, do prazer da escrita. O segundo, o desse passado num internato que eu reconstruo. E, por fim, o que pra mim é a questão principal: esse é um livro sobre reconciliação. Aparentemente a gente pode ter a ideia de que é um livro brutal, mas na verdade, quem penetra no seu interior percebe que há ali uma mensagem de reconciliação dos personagens e que também se coloca para a Ruanda de hoje em dia. O Monsieur Fontenaille está ali para representar personagens reais, como os que começaram os conflitos étnicos com a adoção da carta de identidade étnica criada pelos belgas em 1961. Mas há também o personagem de Virginia, com o qual eu quero que, além dessa brutalidade que existe no livro, da qual todos são um pouco culpados, no fim se busca ainda uma reconciliação possível. Virginia é tutsi, e no final é salva graças a um hutu, o que mostra uma mensagem de esperança que eu quis enviar para Ruanda.
E como Ruanda pôde fazer essa conciliação?
Ruanda foi uma terra que sempre fascinou os exploradores que apareceram por lá, a começar pelos alemães. O que surpreendeu muito aos europeus que conheceram o país era a existência de um poder central muito forte naquelas terras. Havia de fato um rei, uma organização política muito potente na qual o povo podia se amparar e que precisava ser considerado em qualquer política de ocupação. A questão étnica foi uma bom pretexto. Tutsis e hutus originalmente tinham diferenças de ofício. Os tutsis eram pastores e criadores de rebanhos. E os hutus eram lavradores, cuidavam dos campos e das colheitas. Mas com a chegada dos europeus começaram a circular lendas sobre a separação entre os dois. Os tutsis eram descritos como muito mais altos, gigantes, ferozes, quase brancos. Hoje há uma preocupação em quebrar essa identificação entre etnias e reforçar que somos todos ruandeses. De tanto se repetir essa ficção de separação entre os dois povos, acabou-se mudando a realidade objetiva, o que terminou em sangue.
Um genocídio não se faz da noite para o dia. Leva anos. Em Ruanda, levou 30 anos, de 1960 a 1994. Três décadas em que se fez a manipulação do status dos seres humanos. Eu me lembro de ser tratada não como ser humano, mas como barata.
Mas como se faz a conciliação na prática, depois de um dos maiores traumas já registrados na história de qualquer país?
É muito simples, e ao mesmo tempo é muito perigoso eu afirmar que é muito simples, porque eu vou ter então que demonstrar que é. Essa reconciliação tem de ser baseada na reinclusão dos sobreviventes e dos que foram deportados do país. Porque essas pessoas chegaram ao fundo da situação: um genocídio não se faz da noite para o dia. Leva anos. Em Ruanda, levou 30 anos, de 1960 a 1994. Três décadas em que se fez a manipulação do status dos seres humanos. Eu me lembro de ser tratada não como ser humano, mas como barata. Os tutsis foram tão condicionados nesse pensamento que eles próprios passaram a se enxergar como baratas. Eu mesma, quando mais nova, me olhei no espelho e não me reconheci como ser humano. E com essa circunstância, vinha também uma aceitação de que talvez devêssemos ser erradicados. O que surpreendeu algumas pessoas foi o fato de que em 1994 muitos tutsis não lutaram, pareciam haver aceitado e até mesmo esperarem a própria morte, porque foram condicionados a isso por 30 anos.
À frente dos tutsis que aceitavam essa possibilidade de serem mortos havia os hutus, que também não viam seus vizinhos como seres humanos. Foram justamente os sobreviventes desse processo que fizeram e mostraram que era possível a conciliação.
A primeira coisa que foi pedida depois que o genocídio acabou foi que as crianças não vivessem mais essa situação, que se pudesse encorajar as pessoas a criarem essa unidade. Hoje, Ruanda de fato conseguiu fazer essa reaproximação a partir de quem sobreviveu. Um exemplo prático foi o que foi feito em julho de 1994, e foi chamado de "genocídio das carteiras de identidade étnica". Antigamente, os ruandeses carregavam carteiras de identidade dizendo quem era tutsi e quem era hutu. A primeira medida da reconciliação foi abolir isso. Não se vê mais essa separação.

Hoje, Ruanda é um país com bons indicadores econômicos, mas com um governo chefiado desde 2000 pelo mesmo presidente, Paul Kagame, e que às vezes é acusado de autoritário e repressivo. Também tem 60% de presença feminina no parlamento. Como essas realidades se conjugam?
É uma questão ambígua. Como você mesmo comentou, 60% do parlamento é composto por mulheres. E em outros aspectos da sociedade, Ruanda também é um país modelo na questão da paridade homem-mulher. Eu não sou política, sou uma ruandesa com os olhos bem abertos para a realidade à minha frente. Muitas vezes o que há com relação à situação do governo em Ruanda é que se distorce o que está acontecendo porque há um hábito de se falar mal ou se colocar contra. Há pessoas que estão como impermeáveis à mudança. Acho que há um bom governo agora em Ruanda. Quando houve o genocídio, fomos simplesmente abandonados como povo. Aquilo foi um golpe violento na nossa dignidade. E agora, há um governo que conseguiu colocar Ruanda de novo em uma direção a seguir. Há uma expressão francesa segundo a qual não se pode fazer omelete sem quebrar alguns ovos. Foi necessário o governo ser um pouco mais duro em algumas decisões para conseguir ir a alguma direção. Tem que se ter cuidado para não se confundir autoritarismo com rigor. As pessoas de fato precisavam pegar juntas para reconstruir o país. E outro ponto que não se fala é que Ruanda é um país em que não há corrupção no governo.
É possível um país sem corrupção no governo?
Um exemplo que posso dar é meu irmão, André. Ele é médico. Morou muito tempo no Senegal, tinha uma casa muito boa, seus filhos iam para a escola num bom ônibus escolar, ganhava um bom salário. Ele voltou para Ruanda no início dos anos 2000 e tudo mudou. Na verdade, ele vinha de um sistema que era herança de um governo colonial, em que ele, como funcionário do governo, tinha bom carro, casa etc., e depois, quando ele voltou assim como muitos voltaram para Ruanda com a ideia de pegar juntos e reconstruir o país, não havia mais nada disso. Ele se mudou para uma casa bem mais modesta, que não era gratuita, ele agora a paga, não é bancado pelo Estado com todos os privilégios que de certo modo tinha. Foi nesse momento que o governo de Ruanda percebeu que precisava fazer isso, deixar para trás esse sistema colonial do privilégio de uma classe para juntar recursos e construir as ruas, as estradas e, sobretudo, as escolas. E meu irmão, mesmo perdendo aquele padrão de vida, não se sentiu mal, porque havia a noção maior de que todos estavam trabalhando juntos para de fato mudar o país. Ruanda se tornou um país em que é exigida responsabilidade de todos os seus cidadãos de tentar mudar a realidade da nação.
Parte da condição humana é sempre haver alguém para construir e um outro para destruir. Eu escrevo sobre coisas trágicas e terríveis. Mas são essas coisas que também podem servir para acordar as pessoas quando elas estão quase dormindo achando que está tudo bem.
Seu livro Nossa Senhora do Nilo está sendo adaptado para o cinema, certo?
O livro inspirou o diretor afegão Atiq Rahmi, que se mudou para Ruanda, está lá desde janeiro trabalhando na adaptação. Ele já está filmando. Levou também os atores europeus do elenco. Para mim, o que mais me encantou nesse projeto foi a ideia de Rahmi de usar atrizes locais, formadas no próprio país, como protagonistas. Minha grande ambição é que seja um filme ruandês, que consiga abordar Ruanda e seu povo. E claro, uma segunda ambição é ver a obra no Festival de Cannes. Ruanda passa agora por uma nova explosão da francofonia. O filme será rodado com vários atores francófonos, sobretudo as jovens protagonistas. E atualmente, a presidente da Organização Internacional da Francofonia (OIF) é uma compatriota minha, Louise Mushikiwabo, a primeira mulher africana à frente da organização. Assim como eu, como escritora, ocupei vários espaços em que era a primeira mulher africana ali.
A senhora conta em Baratas que a imigração decidida por sua mãe salvou sua vida e a de seu irmão. Como vê a ascensão internacional de uma extrema-direita nacionalista e de discurso anti-imigração?
Em primeiro lugar, eu condeno esse discurso, porque é contrário aos direitos humanos. É algo contra a própria humanidade e deve ser repelido. Sabendo que não se deve confundir otimismo com ser ingênuo, temos que ter a força do otimismo para lutar contra essa ascensão. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que Trump é o presidente, a recente movimentação eleitoral mostra que pode existir um impulso de resistência, e que isso pode ser um pretexto de união. É uma pena que seja assim, mas parte da condição humana é sempre haver alguém para construir e um outro para destruir. Eu escrevo sobre coisas trágicas e terríveis. Mas são essas coisas trágicas e terríveis que também podem servir para acordar as pessoas quando elas estão quase dormindo achando que está tudo bem. E aí elas despertam sabendo que precisam ir para o combate contra esses movimentos de negação do ser humano. Foi o que aconteceu em Ruanda, em que vi um pequeno país renascer das cinzas.
Para ler Scholastique
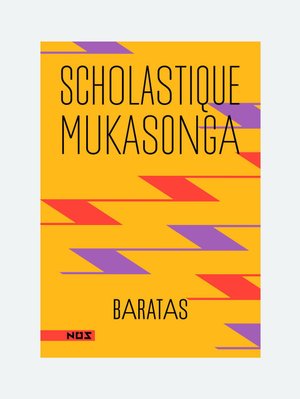
Baratas — A Memória Pessoal e Coletiva das Vítimas do Massacre Tutsi pelos Hutus, em 1994
- Editora Nós
- 180 páginas
- R$ 40
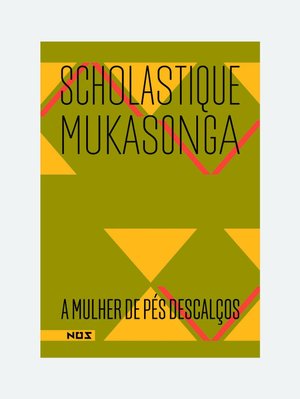
A Mulher de Pés Descalços
- Homenagem de Scholastique a sua mãe, Stefania
- Editora Nós
- 180 páginas
- R$ 35 em média
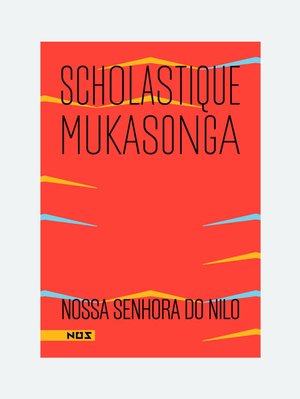
Nossa Senhora do Nilo – O Cotidiano das Internas de um Liceu de Alta Classe
- Editora Nós
- 264 páginas
- R$ 45 em média