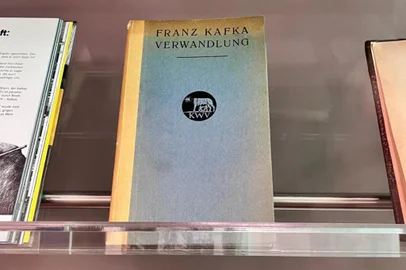Por Luiz Mauricio Azevedo
Pesquisador, pós-doutorando na USP, editor-executivo na editora Figura de Linguagem e autor de “Estética e Raça: Ensaios sobre a Literatura Negra” (Sulina)
No Brasil, durante muito tempo, o termo autora negra foi uma espécie de oxímoro. Desde a face imaginada da romancista Maria Firmina dos Reis à fisionomia oprimida da brilhante Maria Carolina de Jesus, todas as representações de autoria feminina nacional afrodescendente foram, na realidade, reflexos dolorosos daquilo que, como sociedade, não estávamos dispostos a aceitar. Ser uma autora negra representava colocar-se contra a lógica das coisas, contra as suposições do mundo do livro, que é – como todos os mundos que regem o mundo – branco, impiedoso e seco.
Muitos apostavam que as coisas jamais mudariam, mas o capitalismo é o império da autoinvenção e absorve, como uma esponja nova, toda força que se destina a destruí-lo. Assim, foi possível (pela ação dos movimentos sociais ou pela vitória da meritocracia, cada um chame de acordo com seu referencial teórico) fazer nascer um novo Brasil, onde o que era antes vergonha e constrangimento é agora orgulho e regozijo.
O ponto mais evidente dessa transformação no tecido social é a filósofa Djamila Ribeiro. O que impressiona nela não é tanto o ineditismo de suas realizações objetivas (500 mil exemplares de livros vendidos, presença midiática de alta voltagem e uma imagem de altivez que faz seu troféu do Jabuti parecer apenas um souvenir de turista em um aparador maciço), mas o fato de que seu desempenho parece ser fruto de um raríssimo encontro entre capacidade de mobilização das competências individuais e noção dos poderes produtivos da coletividade organizada. Tudo isso se junta para conceder à pensadora a condição de uma autora-celebridade, de quem paradoxalmente se espera muito espetáculo e pouca disposição à transparência subjetiva.
Talvez por isso seu novo livro surpreenda tanto. Em Cartas para Minha Avó, o que aparece não é a celebridade do ativismo negro, mas a artesã emocional, dedicada a costurar uma linha que una sua dura identidade de fúria – forjada no passado difícil em Santos (SP) – ao imenso mar de experiências sociais ofertadas em um presente cada dia mais solar e mais melífluo do que a matéria-prima da qual ela acredita ter sido feita.
Do ponto de vista formal, a despeito do que o título possa sugerir, não se trata de um romance epistolar. O livro é um delicado manifesto liberal em que a autora esmiúça acontecimentos de sua vida através do exame de uma memória caudalosa, que vai, na melhor tradição proustiana, construindo, com ternura, sua máquina de beleza, indignação e ego. O resultado é uma profunda e honesta história de redenção, não apenas da autora, mas da escrita como dispositivo capaz de recriar a vida através da narração, legando a todos nós, traumatizados ou não, novas formas de inventar aquilo que nos inventou.
As tais cartas são, na verdade, capítulos que se desenvolvem ao longo das 200 páginas de uma diagramação confortável e elegante feita por Flávio Peralta. A sequência de perdas de Ribeiro (primeiro a avó, depois a mãe e então o pai) lembra – um pouco na forma e muito no conteúdo – o texto de Joan Didion, em seus inesquecíveis O Ano do Pensamento Mágico e Noites Azuis, obras nas quais a literatura encontra a única universalidade possível: a do sofrimento. O miolo é acondicionado sob uma bela capa criada por Giulia Fagundes, que traz um frágil guarda-chuvas sem tecido, cujas cúpulas côncavas e convexas são sustentadas por uma lança, ofertando um objeto que parece mais vulnerável do que protetor. A aba de apresentação, assinada por Conceição Evaristo, completa os elementos paratextuais, provando que há celebração – e não angústia – na literatura afro-brasileira produzida por mulheres.
Por fim, os destinatários das Cartas para Minha Avó somos nós, pois a literatura é um espelho onde nos tornamos os remetentes das mensagens que queremos receber.
O livro
Cartas para Minha Avó, de Djamila Ribeiro. Companhia das Letras, 200 páginas, R$ 34,90 (impresso) e R$ 23,90 (e-book)