Por Diana Lichtenstein Corso
Psicanalista, autora, entre outros, de “Fadas no Divã: Psicanálise nas Histórias Infantis” (2006)
Em A Nova Infância em Análise, Celso Gutfreind demonstra que paciente mesmo tem que ser o psicanalista e pacientes têm que ser os pais, pois o trabalho é mais lento do que gostariam. Infelizmente é assim, já que somos imediatistas, mas frequentemente precisamos reconstruir nosso começo, e isso não acontece num estalar de dedos. Felizmente é assim, porque uma grande lição da vida é de que para tudo há processos com etapas, prazos de amadurecimento, incompatíveis com a voracidade pelo instantâneo.
Somos como um romance, por isso a psicanálise é um trabalho de narrativas longas. Para mostrar como o exercício dessa clínica é da ordem da prosa (poética), Celso segue a tradição freudiana, de explicar suas ideias contando sua experiência clínica e, por que não, também sua vida pessoal.
Apesar das pretensões científicas acalentadas por Freud, a consistência da teoria psicanalítica prova-se mesmo nos efeitos produzidos em cada pessoa que cruza com ela. Isso costuma vir através do encontro com um psicanalista, mas também pode ocorrer com algo lido, do tipo que nos deixa cismados. As histórias psicanalíticas de Celso fazem isso. Vamos a uma delas.
Trata-se de um menino com uma inteligência opositora, embotada pelo excesso de tecnologia, com a qual tenta suprir a carência parental. Ele recorre a truques para trazer seu tablet à consulta. Privado na sessão de seu habitat virtual, o garoto precisará de um revólver de lego para se defender, enquanto o analista recorre a um colete à prova de balas feito de almofada para sobreviver. Apesar disso, Celso será eliminado, e, mesmo morto, terá que enfrentar um segundo combate.
O ambiente dessa luta será outro: a arma magicamente transforma-se num tablet de mentirinha, onde o jogador retoma seu lugar de guerreiro virtual. Convidado a assistir à mesmice dos games, agora ao menos no território do faz de conta, Celso propõe que comam pipocas, como num cinema. Mas não quaisquer: são feitas com as cabeças dos mortos do jogo. Encomendam as iguarias a uma cozinheira imaginária, à qual o menino pede muito sal e manteiga, enquanto o analista solicita que venham com muitos cadáveres.
Irritadiço na brincadeira, tal como seu paciente costuma ser na vida real, o analista mostra-se briguento, xinga e ameaça de morte a funcionária por causa de um erro que ela sequer cometeu.
– Não sei esperar. Não sei o que fazer com a raiva! Diz o analista.
Agora é o garoto que precisa lidar com um adulto descontrolado, que o transforma num improvisado doutor da raiva. Com um toque mágico de varinha na cabeça do analista, reestabelece-se a ordem para que eles possam, a seguir, ocupar-se de cardápios macabros.
Os ingredientes são sangue e vísceras, de vítimas de envenenamentos, explosões e atropelamentos. Os pratos eram: suflês de cadáver estripado, lombo de morto degolado, além de frutos de gente morta e apodrecida.
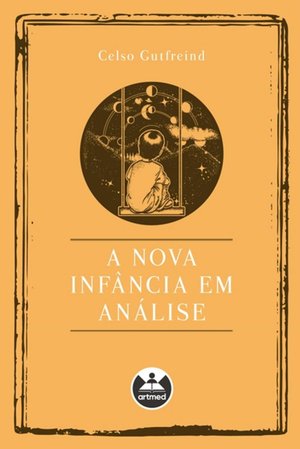
Não espere que essa sublimação da fúria produza imediata paz no menino, que mata na tela para suportar a vida real. Na sequência, o analista será assassinado repetidamente, para desta forma fazerem os papéis de pai e filho zumbis. O garoto precisava dar conta de um pai que parecia, ou se fazia de morto. Não importa quantos tiros desse no seu dispositivo virtual, esse jeito de morto que os vivos pareciam ter ao seu redor continuava insuportável. Já com um pai zumbi de mentira, um filho pode, quem sabe, avivar-se.
Essas dramatizações lúdicas resolvem todos os problemas de um paciente difícil? Certamente não, mas o livro nos explica como, ao desenvolver esses recursos complexos de imaginação, uma criança torna-se observadora de si mesma, de tudo que a cerca, e capaz de construir o que o autor chama de “espaço narrativo”. Poder contar-se permite protagonizar soluções para os enigmas da vida. Ou bem nós escrevemos nossa história, ou ela fará de nós seus marionetes.
Mas o que há de novo na infância?
Há muita pressa para que todos pareçam apresentáveis aos olhos dos outros, multiplicados ao infinito nas redes. Isso vale também para os filhos, cujos pais impacientam-se para ver-se bem representados através deles.
Telas são imprescindíveis para esse teatro de ilusões, já que na realidade é tudo lento, imperfeito e trabalhoso.
Celso mostra como nasce um contador de histórias, mesmo a partir do frenético teclar ou apertar botões de uma criança. Nem que seja necessário encená-las em telas imaginárias.
Pode-se levar a virtualidade à vida, escapando dos dispositivos eletrônicos onde ela está aprisionada. Psicanalistas não são só pacientes, são otimistas militantes.








