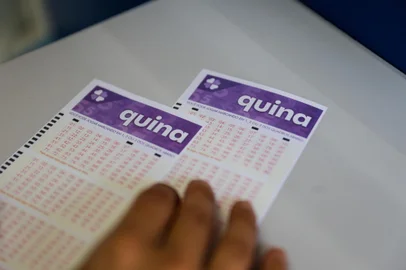Ela não deixa a psicanálise no divã. Apesar de um jeito mais introvertido, quase tímido, Maria Homem, 52 anos, não se recolhe ao consultório e difunde a prática de Freud em uma série de vídeos na internet, em que compartilha reflexões sobre a sociedade, o masculino, o feminino e as relações humanas. Nesta entrevista concedida a GZH, uma das principais psicanalistas do país, autora de livros como Lupa da Alma e Coisa de Menina? fala sobre a política brasileira, a vida durante a pandemia, a solidão do isolamento, as perdas pela doença e as novas e velhas formas de amar. Também admite a falta que sente de Contardo Calligaris, seu parceiro de vida e profissão, morto pelo câncer em março deste ano e ao lado de quem, diz ela, seria muito mais interessante acompanhar a CPI da Covid pela televisão.
A pandemia nos mostrou que o ser humano se adapta a condições tristes de vida, a milhares de mortes diárias, a lideranças que subestimam uma crise sanitária. Como sairemos desse trauma?
Será que houve um trauma para todos? A gente precisaria entrar em um acordo para assumir que fomos atravessados pela seta do trágico, que está por trás do trauma. Muitas vezes, a gente tem estratégias para recusar o evento traumático, e é isso que estamos vendo no Brasil. Estamos vivendo um acontecimento traumático, que tem a magnitude de ser transformador, aquele evento que você atravessa e não é mais o mesmo que era antes. Como país, nação, deveríamos aceitar que há um evento com essa magnitude e que é atravessado por morte, luto, pelo não saber, por medo, ameaça, discussão, debate, radicalização das diferenças. Ele tem várias camadas de sofrimento, é multitraumático. Só que uma parte das pessoas fica tão atarantada que pode dizer: “Não está acontecendo nada e não é esse o problema”. E a outra parte faz um trabalho duplo, de lidar com o vírus, com a morte, com a corrupção, e ainda com o outro que recusa. É muito trabalhoso lidar com o caos e com as mentes que recusam o caos. Como atravessaremos o trauma? Só tem uma saída, que é humanizar, elaborar, discutir, compartilhar a dor, as mudanças, o luto, o ficar junto em casa e ver isso interferir no trabalho, no casamento, no corpo. A gente deve elaborar, fazer cultura, conversar, contar como foi. Isso é arte: quando você tem coragem de compartilhar sua experiência.
Chegamos ao ponto de ter lideranças negacionistas e demonstrando pouca afeição diante das vidas perdidas, inclusive no Brasil. É só um período passageiro da humanidade?
Estamos em uma mudança cultural e civilizacional profunda. Tem a ver com uma mudança de paradigma patriarcal que envolve muita coisa: uma lógica fálica, hierárquica, de privilégio, uma lógica piramidal, do “sangue azul”, de nobreza, na qual o rei é o representante de Deus na Terra. Se faz um outro conceito de humano que não é o conceito onde todos são iguais perante lei. Claro que nós somos únicos, singulares, ninguém sente do mesmo jeito, mas todos temos o direito de sentir, se expressar e agir do nosso jeito. Só que tem uma resistência a isso, que se traduz em movimento racista, patriarcal, machista, em imposição de signos de força, como a arma, a gangue, a milícia, a tribo, o clã, a família, o pastor, o padre, o deus. Há várias camadas envoltas no bolsonarismo, no trumpismo, na supremacia branca, no Putin, no Erdogan, nos mentores desse chamado tradicionalismo. É uma corrente que visa destruir tudo o que está aí para, em um futuro – não agora, mas em um futuro – erguer algo que tem muito da nostalgia de uma instância pré-moderna. Mas há uma grande transformação que é irreversível. A gente não vai mais conseguir achar legítimo colocar o corpo de um negro em um tronco e chicotear. A gente não vai mais achar natural falar para uma mulher: “Te cala, não vota e não tenha propriedade, siga teu pai e depois teu marido”. Pode haver a destruição que houver, a idade das trevas que quiser: não vai funcionar. Podem até destruir a Terra, mas não vamos voltar para esse passado.
O isolamento social foi um dos maiores desafios da pandemia. Por que ficar sozinho é
amedrontador?
A gente tem medo da gente mesmo. É isso o que mais traz angústia. Toca-nos uma consciência da própria condição humana, que Freud chamou de desamparo estrutural. Somos muito frágeis. A vida tem duas forças profundas: o impulso à vida e a finitude. Cada vida é limitada e frágil, porque pode terminar, falecer, e ela não faz o trabalho sozinha, precisa de outros. Você é sempre pequeno, e mesmo que crie estrutura míticas transcendentais que venham te amparar – Deus, por exemplo – ainda assim você vai voltar à terra. Ao pó retornará. Vamos fazer o quê, então? Ligação com o outro. Há uma angústia nesse elo: o que ele vai achar de mim, se falei bobagem, enfim, todas as angústias do outro. É a própria condição humana que é problemática. Depois, há a conexão consigo mesmo, todas as dúvidas e sofrimentos do próprio ser. Então tudo é problemático.
Há várias camadas envoltas no bolsonarismo, no trumpismo, na supremacia branca, no Putin, no Erdogan, nos mentores desse chamado tradicionalismo. É uma corrente que visa destruir tudo o que está aí para, em um futuro, erguer algo que tem muito da nostalgia de uma instância pré-moderna. Mas há uma grande transformação que é irreversível. Podem até destruir a Terra, mas não vamos voltar para esse passado.
Passar mais tempo sozinho poderia ser um convite à interiorização, mas parece que as pessoas fazem o contrário, usando, por exemplo, as redes sociais. Como se viver só fosse possível quando compartilhado.
É como se a gente perdesse uma oportunidade. A gente vive perdendo oportunidades: de se humanizar, de se transformar em pessoas um pouco mais interessantes, mais cultivadas, mais corajosas. Mas a gente faz tudo ao contrário: tem um medo tão profundo, uma covardia de base. Então, em vez de vermos a verdade, a gente foge dela, e fica cada vez mais falso, mais ficcional. A gente está perdendo oportunidades. O livro que lancei no ano passado, Lupa da Alma, tem essa tônica. É estruturado em sete capítulos: vai do eu até a morte, passando pelos ciclos individuais, a relação com o outro, a parceria afetiva e sexual, depois os conflitos entre pais e filhos, a relação com amigos, trabalho, cidade, o global e a morte. Tudo seria uma oportunidade para sabermos um pouco mais como poderíamos viver juntos de maneira menos suicida. Estamos vivendo no paradigma do medo, do ataque e do contra-ataque. A gente está se armando até os dentes. A gente tem medo do outro, não sabe sentar, conversar e negociar.
A covid-19 chega sem avisar e de repente tira a pessoa de seus entes queridos. Mas você viveu uma perda diferente, uma perda anunciada, lenta, que é a morte pelo câncer. Como foi perder o Contardo enquanto ele ainda estava vivo?
Assim como você falou: é uma morte anunciada. Na verdade, tive duas experiências profundas de perda. Uma foi uma morte abrupta, repentina, quando eu era jovem, que foi a do meu pai. Foi muito difícil, é um tipo de trauma. É muito denso, você muito jovem e uma figura tão importante morrer de maneira abrupta... O que fazer com esse buraco? Li o livro da Rosa Montero sobre a Marie Curie, chamado A Ridícula Ideia de Nunca Mais te Ver (2019). A Marie Curie também teve essa perda: o companheiro foi atropelado. É a seta do trágico. E agora tem essa segunda experiência, igualmente intensa, mas diversa, porque foi tendo um saber cada vez mais claro... Como você disse, a perda é gradual. Imagina, o Contardo, uma potência, um homem fora da curva, com uma capacidade de pensar, produzir, falar, elaborar, de ir e vir, e de repente vai havendo uma perda gradual disso. Foram meses, um período relativamente longo, mas nos últimos seis meses... É difícil ver um corpo humano, para além de ser ele, o homem que você ama, é difícil ver a vida se esvaindo, se despotencializando. É difícil.
É como se a gente perdesse uma oportunidade. (A pandemia) Seria uma oportunidade para sabermos mais como viver juntos de maneira menos suicida. Estamos no paradigma do medo. Estamos armados até os dentes.
Contardo era o psicanalista mais famoso do Brasil. Agora, Maria Momem está só, ganhando espaço e notoriedade como psicanalista. Como é se desvincular da figura dele?
Acho que sempre existiu uma Maria Homem desvinculada de Contardo Calligaris. Sempre fiz o meu próprio caminho e sempre fui muito discreta em relação ao laço com o Contardo. Ele até brincava com isso: “Por que você não quer me assumir, tem vergonha de mim?”. Aí eu dizia: “Não é isso, você é muito famoso e eu trabalho na mesma área, então não faz sentido. Tenho o meu orgulho, o meu nome, o meu caminho. Não quero me aproveitar do seu nome”. Lógico, as pessoas do meio sabiam há anos. Mas o grande público só soube que a gente era “pareado” quando ele morreu e eu fiz um texto para elaborar a perda. Muita gente disse: “Nossa, não sabia que vocês eram um casal”. Não sabia porque eu não queria que soubesse. Sou discreta. Então discordo da pergunta, deu para perceber?
Mas a pergunta está respondida.
Agora, como é seguir seu próprio trabalho sem uma grande interlocução... É um vazio imenso, uma falta que vai ficar sempre aí. Para mim e para muita gente, tanto que a perda do Contardo foi uma comoção nacional. Muita gente vai sempre sentir falta dele, porque ele era aquela potência reflexiva, analítica, de estilo, a forma de colocar as coisas, as iradas... Ele tinha uma capacidade analítica ímpar, uma cultura imensa. Como escreveu o Walter Salles (cineasta) na Folha de S. Paulo, citando o pensador do Mali Amadou Bâ: “Quando alguns homens morrem, é como uma biblioteca em chamas”. Me faz falta essa biblioteca toda, essa interlocução privilegiadíssima. Seria mais interessante acompanhar a CPI da Covid com ele. Um leitor da realidade que lia com você o livro do mundo. Isso vai me fazer falta.
Você faz vídeos falando sobre amor e relacionamentos. Há uma questão que atravessa gerações: como amar sem perder a liberdade. As relações abertas se tornaram uma possibilidade. Você acredita nelas?
Só acredito em uma relação aberta. Ela precisa ser sexualmente poligâmica para ser aberta? Não sei. Precisa ser necessariamente monogâmica para ser romântica? Não sei. Mas aberta no sentido de uma abertura de cada um para o mundo. Cada subjetividade não se realiza em si mesma com um único objeto, isso é uma ficção. É mais interessante uma relação de amor, de corpo, quando é você inteiro ao lado dessa pessoa, quando você está à vontade, quando você se exerce. Se sua fantasia, eroticamente falando, é compartilhar com várias pessoas, seu corpo, o corpo do outro, assistir coisas, variar objeto para estar vivo sexualmente... Não sei, cada um vai ter sua resposta. Se a monogamia é complicada – e ela não é tão frequente quanto a gente imagina – então a monogamia não funcionou. A relação não monogâmica funciona? Como? É o que estamos vivendo. Cada um vai fazer do seu jeito.
Alguns psicólogos e psicanalistas falam que os romances da ficção são responsáveis por fantasiar nossa ideia de amor: as histórias têm altos e baixos e terminam com o casal junto. Na vida real, é depois do “the end” que muitas relações acabam.
A literatura e qualquer forma de narrativa. O cinema também faz isso. A escolha dos elos relacionais é muito interessante, porque está ligada à liberdade, só que não é o “eu” que escolhe propriamente. Tem o inconsciente, atravessado por identificações que você não controla. Você casa com um e vive com outro, porque ele não era aquilo que você achou. Você desenhou uma parceria e depois diz: “Nossa, ele me enganou”. Mas você se enganou também. A gente cria, fantasia, e faz isso juntos.
Seria mais interessante acompanhar a CPI da Covid com o Contardo. Um leitor da realidade que lia com você o livro do mundo. Isso vai me fazer falta.
Sim, mas a literatura traz a ideia de que o amor é intenso, só que uma relação longa não é sempre intensa, ela entra em uma zona de conforto que não é abordada na ficção.
Entendo esse argumento, mas não sei se compraria esse discurso. Se você tem uma conexão profunda com você mesmo, não tem marasmo. O humano é inquieto por natureza. Se você achou trincheiras básicas para se esconder da angústia – e normalmente as trincheiras são o trabalho e a família – e entrou em um ciclo de marasmo, ok se esse acordo funciona para você, ótimo. O detalhe é que, às vezes, você acha que a estabilidade e a segurança funcionam, e depois se surpreende com você mesmo ao ver que não está feliz. Isso que te angustia, que não te preenche, é a inquietude do ser humano. Nunca é sem graça se a gente tem conexão com a gente mesmo. Sempre terá algo novo para contar, para descobrir. O outro é um parceiro nesse percurso que é sempre individual. Por isso eu disse que qualquer relação é inevitavelmente aberta. Você está sempre aberto para você mesmo, para o mundo, e o outro vai acompanhando. A vida não é sempre a mesma, a gente muda. Como é envelhecer, se aproximar da morte, ter mais experiência e mais dinheiro do que tinha aos 20 anos? Como é perder a saúde? Como é olhar essa ampulheta da vida? Vamos juntos? A vida não para. Então nunca me vi nesse marasmo.
Tem se falado bastante em relações tóxicas. Há muita gente nesse tipo de relacionamento em função de uma busca por intensidade. Como alcançar a intensidade fugindo da toxicidade?
A incompletude é um conceito importante. A gente pode se tranquilizar e assumir a nossa própria incompletude. O que seria uma completude, fazer uma liga sujeito-objeto, eu e o outro? Mesmo quando você está com fome, quer comer aquilo e come, isso vai durar pouco. A insatisfação é vida, ela move. A falta move. Do que estamos falando? A dialética do desejo e da falta. Para você desejar, tem que ter algo de uma não completude, e que é interessante. Agora, o que você espera que o outro te dê? Uma completude plena, total? Isso é imaginário. Não existe outro que te complete o tempo todo. A gente talvez esteja errando na própria ideia de completude e incompletude, vazio e preenchimento. Será que não estamos esperando muito do outro? É a própria modernidade. Quando ela nos deu o direito de escolher e construir a nossa vida, fazer o que a gente quer, a alquimia que vai te levar ao nirvana profundo, ao ápice do desejo... É falsa essa narrativa. Não existe parceiro que te complete o tempo todo de tudo o que você quer. O que não quer dizer que você não possa ter uma parceria incrível, com uma interlocução muito rica, uma pessoa que te dá vontade de ficar perto, grudada nela, ao mesmo tempo em que você vive sua vida, faz tuas perguntas, faz tuas descobertas, faz a tua história. A viagem é sempre individual. A viagem radical humana é sempre solitária. É sempre você com você mesmo. Não tem como viver de parzinho.
Você é muito apegada à literatura desde cedo. Ouvir tantos dilemas de pacientes é uma forma de suprir a necessidade de histórias?
A psicanálise e a literatura têm tanta coisa em comum, tanto no receber quanto no produzir. Uma coisa é a história, e outra é a própria arte da palavra, ouvir a palavra. É uma conexão com o mundo, com o outro, com a descoberta. Quando você escuta alguém, é uma história, mas é uma vida, uma postura subjetiva. Tanto que, para a clínica, muito mais importante do que a história é a posição do sujeito dentro da história. O que ele elabora, o que ele atravessa. O que nosso herói, nossa heroína, está descobrindo nesse caminho? Sem dúvida, a psicanálise e a literatura fazem uma grande parceria
Como seria se a sociedade investisse tanto em terapia e análise quanto investe em academia?
Seria incrível. Fica a dica para o SUS, hein? Os planos de saúde já estão fazendo esse cálculo. Você vai economizar, veremos menos cirurgia, menos violência, menos loucura. Temos que, urgentemente, investir na mente. Está se entendendo que é mais barato. E muito mais interessante, né? Sou suspeita... Adoro corpo, adoro movimento, mas pensar, elaborar, simbolizar... A gente é esse ser que sente, pensa, fala, se expressa. Por que não dar espaço para isso ser ampliado e não só silenciado, recalcado? Isso é uma violência que gera violência, que gera destruição, ignorância, dor, sofrimento, dor de barriga e todos os tipos de dores, né?
Terminamos aqui?
Na dor? No momento, acho que é um bom fim.