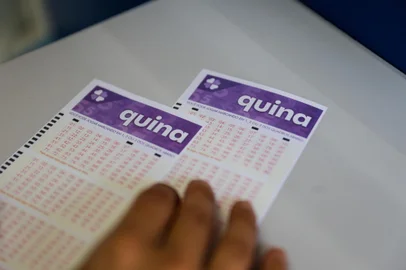Primeiro historiador a integrar a Academia Brasileira de Letras (hoje divide o “posto” com Celso Lafer), o mineiro José Murilo de Carvalho construiu uma obra sólida e referencial analisando a História do Brasil a partir das relações sociais estabelecidas no país. Também cientista político e professor da UFRG, Carvalho, 81 anos, é um estudioso da identidade nacional conformada desde os tempos do Império com base nas imposições das elites brasileiras e no exercício da cidadania ao longo das décadas.
A Formação das Almas: o Imaginário da República no Brasil (1990) e Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República que Não Foi (1986) são exemplos de como conjugar conteúdos profundos burilados em pesquisa acadêmica com linguagem acessível e leitura prazerosa. Nos últimos anos, dedica-se a interpretar o Brasil em textos curtos, reunidos em publicações como O Pecado Original da República (2017). A seguir, ele responde a questões sobre a situação atual do país e a encruzilhada representada por este 2020 pandêmico recheado de dificuldades e situações atípicas sob uma perspectiva histórica.
O ano de 2020 foi atípico e de dificuldades para muita gente por conta da pandemia e de suas consequências, tanto do ponto de vista da saúde quanto da economia e da própria organização social. Parece ser consenso, por exemplo, que a pandemia aumentará a desigualdade brasileira, que já é uma chaga do país, como o senhor deixa claro em vários de seus livros. Como vê este momento? Pelo seu caráter sui generis, 2020 pode ter sido um ano definidor ou redefinidor de algo?
A pandemia do coronavírus é uma calamidade, mas, em termos comparativos, está longe de ter a letalidade da gripe espanhola, que segundo estimativas pode ter chegado a 50 milhões de mortos – para citar apenas um dos vários casos de pandemias mais desastrosas que a humanidade já enfrentou ao longo da História. Daí, não diria que o ano foi definidor ou redefinidor de algo. Prefiro usar outra palavra: agravador. Pelo lado econômico e social, 2020 viu agravarem-se a crise financeira e a oferta de empregos. Politicamente, a herança disso será ambígua. O auxílio financeiro emergencial, estendido a 66 milhões de pessoas no país, deu alguma popularidade ao governo entre os beneficiados, afastando, por enquanto, as ameaças à sua sobrevivência. Mas esse efeito pode desaparecer, uma vez extinto um auxílio que as finanças não podem manter por longo tempo. Por outro lado, a postura do presidente em relação à pandemia e à vacinação joga na oposição pessoas de renda mais alta e com maior escolaridade. O ano agravou diversas situações que vinham se estabelecendo até então.
Em O Pecado Original da República, uma coletânea de artigos recentes sobre o Brasil, o senhor aborda a desigualdade e também a representatividade da população no âmbito político como desafios para o amadurecimento do Brasil como nação. O que os novos eventos, a exemplo da atual pandemia, da ascensão de Jair Bolsonaro ao poder e do cenário de comunicação instantânea e pós-verdade, podem trazer nesse sentido? Em outras palavras, como fica o amadurecimento do Brasil diante do que vimos em 2020?
Nossa democracia está sob severo teste, sobretudo no que se refere à relação entre os poderes. Ironicamente, o poder tradicionalmente menos bem avaliado, o Legislativo, melhorou sua imagem nos últimos tempos, particularmente em 2020. O Executivo tornou-se fonte de instabilidade graças aos ataques aos outros dois poderes. O Judiciário perdeu credibilidade pelo excesso de interferência e pelo exibicionismo de seus ministros. Felizmente, o receio inicial de danos à democracia advindo da excessiva presença militar no governo e da politização das Forças Armadas arrefeceu. Declaração recente do comandante do Exército deixou claro o perigo que isso representaria para as próprias corporações militares. Minha impressão é a de que o risco a curto prazo de uma ruptura institucional foi muito reduzido, embora a postura das Forças Armadas como garantidoras da harmonia entre os poderes ainda indique que continuamos a ser uma república tutelada.
O auxílio emergencial alcançou 66 milhões de pessoas. O que fazer com esses 66 milhões de desempregados, subempregados e não empregáveis? Como incorporar essa massa de cidadãos, crescendo numa média de 2% ao ano? Somos o nono país mais desigual do planeta. A desigualdade é nossa grande e trágica pandemia, diante da qual os males do coronavírus empalidecem. Essa é a pandemia que põe em risco nossa viabilidade como nação.
Em A Formação das Almas, o senhor atenta para a importância dos símbolos e das questões cotidianas na constituição de uma identidade coletiva. Dado que vivemos em um momento de aceleração, em que o que é a grande notícia de um dia pode ser facilmente esquecido no dia seguinte, e também de aproximações (a internet nos dá a sensação de que as distâncias diminuíram), as identidades coletivas tendem a mudar ou, justamente por isso, a se fortalecerem?
A globalização dos mercados, a oligopolização da mídia eletrônica e a criação de blocos regionais já vêm corroendo há algum tempo o poder dos Estados nacionais, em que pesem surtos esporádicos de nacionalismo. As identidades nacionais vão-se apagando. A nossa nunca foi muito forte. Só começou a se formar durante a Guerra do Paraguai (1864-1870). Temos um Estado que abriga várias nações, que o digam paulistas, gaúchos, pernambucanos, baianos etc. Como dizia Nelson Rodrigues, a pátria no Brasil só se materializava quando a Seleção de futebol entrava em campo: ela era a pátria de chuteiras. Pesquisa de opinião feita na década de 1990 mostrou que a grande maioria dos entrevistados dizia ter orgulho do Brasil, mas citava apenas, como motivo de orgulho, as belezas naturais, o Rio Amazonas, as florestas, as praias, o céu azul. Ora, como observou uma vez Machado de Assis, nós não criamos essas coisas; elas não são mérito nosso. Na realidade, vamos sistematicamente destruindo matas, secando rios, poluindo as praias e os ares.
Um dos grandes temas de 2020 foi o racismo, a partir de casos como o de George Floyd e o de João Aberto Freitas. Ainda falando sobre os símbolos de uma nação, houve a problematização, por exemplo, dos monumentos de pessoas públicas identificadas com o racismo, sendo o caso de Bristol (Reino Unido) o mais midiatizado nesse sentido. Qual a sua opinião sobre esses monumentos e o que esse levante social significa do ponto de vista histórico?
A História se reescreve constantemente. Como disse Galileu sobre a Terra depois de ser forçado a renegar o heliocentrismo: eppur si muove, ou seja, “mas ela se move”. Mudam-se os valores, os costumes, as instituições. A escravidão é um desses casos. Por séculos foi aceita no mundo inteiro. A partir do século 18 passou a ser contestada no Ocidente, mas sobreviveu nas práticas e nos preconceitos. Quanto aos monumentos, creio que a postura mais sensata seria levá-los para os museus, que é o seu lugar. O racismo, a homofobia, a misoginia caminham, embora lentamente, para o museu da História. Os positivistas ortodoxos brasileiros achavam que o mesmo aconteceria com os exércitos, mas creio que se precipitaram.
A humanidade já viveu anos turbulentos e impactantes em vários sentidos. Na sua opinião, 2020 é um ano importante nesse sentido? Como, na sua avaliação, o ano de 2020 entrará para a História? E como é possível conjecturar que sentiremos os impactos do que vivemos em 2020 a longo prazo?
Já houve várias catástrofes bem maiores na história da humanidade, inclusive na área de pandemias. Mas creio que muitos concordam em admitir que haverá algumas consequências importantes derivadas da crise sanitária atual. Uma delas, parece-me, será a inexorável valorização da ciência, tanto pela rapidez inédita com que se chegou à produção de vacinas quanto pelo protagonismo da Organização Mundial da Saúde (OMS) na avaliação das pesquisas e na orientação das políticas de combate à pandemia. Falou-se muito em pesquisas científicas em 2020, comunicou-se muito sobre isso ao longo do ano. Trata-se de uma boa consequência do que vivemos neste ano que está acabando. A consequência mais importante, no entanto, sobre a qual também parece haver consenso entre quem se propõe a pensar sobre o tema, é a que se refere à natureza do trabalho. O home office, que já dava os primeiros passos antes do início da pandemia, ganhou enorme avanço, em vários locais do mundo. Dificilmente se voltará totalmente ao trabalho presencial como o conhecíamos antes. O home office poupa gastos das empresas, reduz os incômodos do deslocamento dos trabalhadores, incentiva a permanência em casa. Pelo lado negativo, pelo menos no caso de países como o Brasil, de baixa qualificação da mão de obra, o home office pode limitar as oportunidades de emprego para muitos, assim como os algoritmos já estão afetando o mercado de trabalho até de profissionais liberais. Há um novo ajuste que se avizinha.
Como o senhor acredita que historiadores do futuro avaliarão o que ocorreu no mundo em 2020?
Olha... É maldade pedir a um historiador que fale sobre o passado do futuro. Já nos basta a dificuldade de interpretar o passado do presente!
Como alguém que pesquisou o Brasil do início da República, o senhor vê algum tipo de paralelo entre a chamada Revolta da Vacina do início do século 20 e os movimentos antivacinação deste início de século 21? Por que, mais de cem anos depois, a vacinação parece ter voltado a ser um tabu para certos setores da sociedade?
A reação da população em 1904 era compreensível. O conhecimento científico sobre as causas, a transmissão e o tratamento das doenças era bem menor. Os médicos positivistas do Rio de Janeiro chegaram a combater a vacina sob o argumento de que o Estado não a podia impor aos cidadãos. E boa parte da reação à vacina deveu-se à maneira drástica com que foi imposta, sem uma campanha de explicação e convencimento. Lembremo-nos de quanto tempo demorou para convencer as pessoas dos males do cigarro. Hoje, a ciência avançou muito, e as informações são abundantes. Era de se esperar menor reação. Ela se deve em boa parte graças à atitude irresponsável do chefe de Estado. Mas a questão da obrigatoriedade não é simples. Há um lado filosófico na questão: até onde vai a liberdade individual? No caso do cigarro, a descoberta do fumante passivo ajudou no convencimento e na aceitação da restrição a seu uso com base no argumento de que o direito de uma pessoa é limitado pelos direitos das outras. Se alguém não se vacina, está pondo em risco não só a própria saúde, mas também a saúde dos outros. Mesmo assim, será difícil impor a vacinação. Porém, podem-se introduzir penalidades aos que se recusarem, com base no argumento de que estão colocando em risco a saúde dos outros.
A reação da população em 1904 (na chamada revolta da vacina) era compreensível. Hoje, a ciência avançou muito, e as informações são abundantes. Era de se esperar menor reação. Mas a obrigatoriedade não é simples. Há um lado filosófico na questão. Porém, podem-se introduzir penalidades aos que se recusarem, com base de que estão colocando em risco a saúde dos outros.
O senhor está entre aqueles que, de modo mais otimista, acham que o período pós-pandemia será de mais altruísmo e solidariedade entre as pessoas ou entre os que acreditam que a experiência vivida neste ano de 2020, em essência, não nos afetará como seres sociais?
Haverá, sem dúvida, alterações nas relações sociais, mas por outras razões. O grande aumento no trabalho na base do home office deve permanecer e aumentar. Muitas universidades já adotam o contato virtual para reuniões, defesas de teses, conferências e mesmo aulas. Muito disso continuará. Em consequência, as pessoas permanecerão mais tempo em casa, o que pode ser positivo. Mas, ao mesmo tempo, o home office reduzirá em muito a convivência extradoméstica e aumentará o isolamento social, o que pode ser negativo. Mais ainda, o trabalho e o estudo a distância exigem melhor treinamento, o que poderá ser um fator a mais a reduzir o emprego de muitos. Ao lado dos desempregados e dos subempregados, teremos os não empregáveis. O mais importante é que a pandemia afetou e continuará a afetar por algum tempo o crescimento econômico, que já era pífio. Os gastos de alguns bilhões em auxílio emergencial têm efeito positivo, mas não poderão ser sustentados por muito tempo. E o nosso problema máximo, que a pandemia agravou, é a desigualdade social, que o auxílio não afetará. O auxílio alcançou 66 milhões de pessoas, quase 60% da população. O que fazer com esses 66 milhões de desempregados, subempregados e não empregáveis? Como incorporar essa massa de cidadãos, crescendo numa média de 2% ao ano? Nosso Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para 2019 nos coloca na 84ª posição no ranking das nações. Somos o nono país mais desigual do planeta. Os 10% mais ricos respondem por 42% da renda do país. Só o Qatar nos vence nessa inglória disputa. A desigualdade é nossa grande e trágica pandemia, diante da qual os males do coronavírus empalidecem. Essa é a pandemia que põe em risco nossa viabilidade como nação.
Com base em tudo o que o Brasil aprendeu nesses anos de História, que lições podemos tirar que nos indiquem um caminho para dirimir a desigualdade? Em que tipo de medidas práticas o senhor acredita?
Nossa desigualdade é estrutural. Tem origem no tipo de colonização: portugueses produzindo em grandes propriedades para o mercado internacional usando mão de obra escrava indígena e africana. Ficamos nisso por quatro séculos, variando do açúcar para o gado, para o ouro, para o café, para a borracha. Só houve alguma mudança com a imigração de trabalhadores livres, mas ela se limitou ao Sudeste e ao Sul. A abolição da escravidão foi feita sem política de integração dos libertos pela educação e pelo emprego. Formou-se aos poucos um campesinato dependente dos grandes proprietários, sem escolas e sem leis trabalhistas, até o século 20. A industrialização gerou uma classe operária militante, mas limitada aos grandes centros e sem a força política das que surgiram nos países europeus. Foi-se aos poucos acumulando uma grande massa de excluídos. Como somos também um país sem revoluções sociais, a redução da desigualdade só poderia vir da atuação de partidos de esquerda que adotassem políticas redistributivas. O antigo PTB tentou, mas deu no que deu. O PT só conseguiu fazer políticas distributivistas de natureza paternalista. O grande mistério é que a incorporação das massas ao sistema político pelo voto não tenha resultado na formação de governos de esquerda redistributivistas que deslocassem, por exemplo, por impostos sobre a renda, a herança, os dividendos, recursos dos mais ricos para os mais pobres. A faixa máxima do Imposto de Renda (IR) é de 27,5% no Brasil, quando nos Estados Unidos é de 35% e, na Holanda, de mais de 40%. Esse tipo de medida não é aprovado no Congresso, apesar da grande inclusão eleitoral. Os representantes eleitos por pobres não representam os pobres. Se o crescimento econômico é baixo, se a representação não funciona, enfim, se não conseguimos redistribuir, não haverá saída, estamos bloqueados.