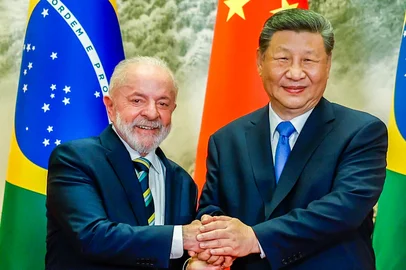Da tragédia em Moçambique, palco no ano passado um de seus maiores desastres naturais de sua história - a passagem do ciclone Idai -, o médico gaúcho Antônio Flores, de Porto Alegre, migrou para outro front, desta vez da pandemia de coronavírus no Amazonas, Estado brasileiro com a maior taxa per capita de mortalidade por covid-19. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 1.691 novos casos, totalizando 66.864 infectados e 2.710 mortes.
Durante um mês, Antônio, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com residência em infectologia pelo Hospital Conceição, coordenou em Manaus as atividades da organização Médicos Sem Fronteiras, entidade internacional acostumada a atuar em zonas de catástrofe. Quando as equipes chegaram, os hospitais a capital estavam lotados e as equipes, exaustas. Em entrevista à coluna, ele conta como foi o trabalho de salvar vidas em regiões distantes, no interior da Amazônia, e com o desafio de ajudar populações mais vulneráveis como migrantes e indígenas.
Quais são as principais dificuldades no enfrentamento do coronavírus no Amazonas?
O norte do país já tem o sistema de saúde mais fragilizado, mesmo antes da pandemia. A gente tem uma região de difícil acesso, geograficamente com uma distribuição de serviços de saúde mais concentrada em Manaus, com dificuldade de acesso no interior. No momento em que chega uma epidemia, a resposta já é dificultada por esse sistema de saúde fragilizado, com menos hospitais e leitos de UTI. Isso gerou o colapso do sistema de saúde. Manaus tornou-se a maior preocupação dentro do Brasil.
As imagens de covas coletivas percorreram o mundo, tornaram-se emblemáticas da situação brasileira.
O Amazonas se tornou um símbolo da crise no mundo e no Brasil. Quando a gente começou a ver na Europa os sistemas de saúde colapsarem, houve uma resposta a isso. Aqui, vimos um sistema de saúde frágil, em Manaus e no Amazonas, e essa resposta é mais demorada. Acaba sendo mais doloroso porque é um sistema que já era frágil e não consegue responder de forma adequada. Então, temos essas imagens: os sepultamentos coletivos, em massa. Foram momentos dramáticos no Amazonas.
Faltam médicos, hospitais, equipamentos?
Há redução da rede de serviços de saúde, concentradas em Manaus. Começamos a ver casos no interior, em São Gabriel da Cachoeira, em Tefé. A dificuldade para transportar os pacientes é enorme. Havia cidades, como Tabatinga, que tinham uma taxa de mortalidade altíssima. Isso não se deve só ao vírus, mas ao sistema de saúde. A taxa de mortalidade no Amazonas varia de cidade para cidade. Quanto mais perto de Manaus, menor. Não porque o vírus fosse mais suave, mas porque o sistema de saúde estava justamente concentrado naquela região. Imagina: há cidades com acesso somente ou de avião ou de barco.
Como o vírus chegou a essas cidades com acesso tão difícil? Em outras regiões, observa-se a propagação com mais facilidade em grandes aglomerações urbanas.
O vírus começa nas zonas urbanas. Em Manaus, os casos começam nos bairros mais ricos, porque são pessoas que viajaram e tiveram contato com o vírus. Ao longo das semanas, a gente vê se disseminar para a periferia. No Amazonas, há populações ribeirinhas, indígenas. Nem toda população indígena é isolada, há as semiurbanas, muitas populações móveis, que vão até o perímetro urbano para fazer compras ir ao médico e voltam para as comunidades. Existe uma grande mobilidade.
São situações onde pessoas estão excluídas do acesso à saúde, onde os sistemas se fragilizam, onde se tem o caos. Em uma pandemia, a gente tem essa necessidade de adaptar os serviços, de adaptar a vida sem ter todas as ferramentas.
O que senhor viu nos hospitais?
A gente via alguns hospitais com dificuldade de adaptar os fluxos. Em um dos hospitais, uma emergência cirúrgica estava recebendo pacientes de covid, tamanha era a sobrecarga do sistema. Onde normalmente se recebia acidentes e outros traumas, o hospital estava recebendo covid. Com a questão dos EPIs (equipamentos de proteção individuais), houve dificuldade inicial. De 2 mil funcionários, 700 foram afetados. Significa que o controle de infecção foi dificultado pela falta de EPIs. Víamos pessoas sofrendo de burnout, de esgotamento, porque elas já vinham há meses nessa situação. Foi bastante dramático.
Algo das suas experiências anteriores, como em Moçambique, pode ser aplicado à crise de covid-19?
Em Moçambique, também havia um sistema de saúde frágil, uma cidade que sofreu muito com o ciclone (Beira). A covid-19 expõe as disparidades, as desigualdades. Na Europa, em nações como Espanha e Itália, o sistema de saúde colapsou, mas foram países que responderam. Quando há um sistema de saúde frágil, a gente vê que isso vai respingar, refletir e cronificar em populações mais vulneráveis - populações que já estavam excluídas de acesso à saúde no interior, indígenas, ribeirinhas. Elas vão sofrer mais porque o serviço não vai chegar lá, a resposta vai demorar. É algo em comum com o que a gente vê, trabalho na MSF: chegamos nos lugares onde há disparidades, e a covid expõe isso muito claramente.
MSF está acostumada a trabalhar em zonas de conflito. Muitos comparam a luta contra a pandemia a uma guerra. Há semelhanças?
MSF está acostumada a trabalhar em situações extremas. O que dá para comparar, muito cautelosamente, é são situações onde pessoas estão excluídas do acesso à saúde, onde os sistemas se fragilizam, onde se tem o caos. Em uma pandemia - algo que não se tem frequentemente -, a gente tem essa necessidade de adaptar os serviços, de adaptar a vida sem ter todas as ferramentas. E isso gera os problemas que gente vê: pessoas morrendo, decisões sendo tomadas de forma não consensual. A gente vê o que está acontecendo com a resposta brasileira, onde existe uma mensagem que é difusa, não é coesa. Uma pandemia em uma região vulnerável vai causar instabilidade, vai exacerbar a vulnerabilidade das populações. Esse talvez seja o paralelo que dá para traçar com uma guerra.
Como ocorre a propagação do vírus nas comunidades indígenas?
As comunidades indígenas estão vulneráveis em função dessas dificuldades geográficas, do sistema de saúde, que é diferenciado. Existem outras políticas para a saúde indígena. Mas as comunidades se mobilizam, têm lideranças e buscam muito apoio. No entanto, a capacidade de resposta acaba ficando com o sistema de saúde e governos. Existe a necessidade de olhar para essas comunidades, porque elas estão tentando se mobilizar. No entanto, os recursos que têm são limitados. Populações indígenas mais remotas não têm o mesmo nível de acesso ao sistema de saúde. Esse é um dos motivos pelos quais MSF começou a montar hospitais provisórios, a abrir leitos em cidades do interior, justamente para dar apoio a essas populações.
O uso de máscaras tem sido uma medida importante de prevenção. O equipamento é aceito pelas comunidades indígenas?
Varia muito. Há um bairro no entorno de Manaus que abriga 20 etnias indígenas. Varia de acordo com a comunidade. As populações semiurbanas, que estão mais perto da cidade, tendem a adotar as medidas de prevenção mais cedo. No entanto, as populações mais remotas recebem informação e medidas de proteção mais tarde. Por isso, é importante a gente responder olhando para elas de forma mais precoce. Porque são essas populações que vão ficar mais afetadas depois.
MSF ficou com a gestão de 48 leitos hospitalares, sendo 12 de UTI e uma ala de 36 leitos para pacientes em estado grave no hospital 28 de agosto. Como foi essa experiência?
A gente assumiu um andar, e fizemos a cogestão: demos apoio técnico, reforçamos as equipes, que é o que normalmente MSF faz. Nesse andar, para 36 leitos para casos moderados, eles não tinham profissionais. Então, a gente assumiu para aumentar essa capacidade. Para os 12 leitos de UTI, eles tinham equipe reduzida, o que se reflete em qualidade de cuidado, em sobrecarga das pessoas. A gente aumentou a equipe, com plano de futuramente aumentar esses leitos.
Como é a abordagem em relação aos migrantes venezuelanos?
A partir de Roraima, eles acabam chegando ao Amazonas. Há população indígena venezuelana e os migrantes não indígenas. Nos abrigos, há população muito variada. Começamos uma atividade de triagem dos sintomáticos com isolamento desses para reduzir a disseminação da infecção dentro dos abrigos.
Em algumas partes do mundo, dormitórios e abrigos são locais propícios para o surgimento de novos surtos. Em Manaus, isso também preocupa?
Essa foi uma grande preocupação que tivemos. Iniciamos essas atividades nos abrigos, e vimos a dificuldade em isolar as pessoas dentro do próprio prédio. Por isso, abrimos um centro de observação e isolamento fora, como se fosse outro abrigo, para transferir essas pessoas, para que tivessem melhores condições de vida. O plano é abrir um segundo abrigo para essa população porque, de fato, são populações que já vivem aglomeradas e isolá-las dentro do abrigo é bastante difícil.
A testagem massiva é uma das práticas fundamentais de países que conseguiram conter o coronavírus. Há alguma perspectiva no Amazonas?
A questão da testagem e rastreamento de contatos é o grande gargalo da resposta brasileira, e isso não é diferente no Amazonas. A capacidade de testagem é bastante limitada no Brasil, tanto que se tem testado basicamente os pacientes graves e internados e óbitos. Isso impede o controle efetivo da epidemia. No Amazonas, a gente tem visto a mesma coisa. Estamos explorando possibilidades de testagem. A gente sabe que existem máquinas que fazem PCR de tuberculose, e existem cartuchos para esses equipamentos que testam covid. É uma coisa que estávamos tentando entender, é uma estratégia da MSF em nível mundial. Sabemos que o Ministério da Saúde tem interesse em fazer essa testagem, é uma das possibilidade. A outra é aumentar a capacidade de insumos do Lacen (Laboratório Central). Esse é um ponto cego da resposta brasileira.