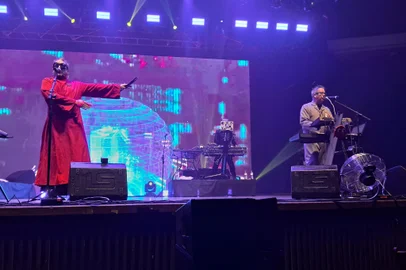Se o objetivo é dar publicidade a uma causa ou conferir um aspecto espetacular ao fim de um regime, nenhum gesto é mais eficaz do que decapitar uma estátua de bronze ou transformar uma escultura de pedra em um punhado de detritos a serem rapidamente varridos para baixo do tapete da História.
É sempre difícil ficar indiferente à destruição de um monumento público, por menos que ele nos diga respeito. A sensação de triunfo ou descontentamento, porém, pode variar conforme as circunstâncias históricas e o ponto de vista do observador. Quando os bustos de Lenin começaram a cair junto com o regime soviético, no início dos anos 1990, minha sensação era a de que a História estava andando para a frente. Quando os talibãs explodiram estátuas gigantes de Buda no Afeganistão, no início dos anos 2000, parecia que estávamos acelerando vertiginosamente para trás, rumo à sutileza ideológica da Idade da Pedra.
Varrer as imagens de Franco das ruas de Barcelona depois da morte do ditador espanhol parecia apenas natural e óbvio no final do século 20, mas quanto mais as figuras históricas se distanciam no passado, mas difícil é distinguir erros e crimes imperdoáveis de atitudes circunscritas aos valores de uma época. Nem sempre os heróis são os homens mais honrados de seu tempo, assim como nem sempre (quase nunca) a honra é o valor que as sociedades escolhem eternizar em bronze. Ainda assim, a História não é um terreno imóvel onde se podem plantar personagens supostamente heroicos com a convicção de que seu lugar na posteridade está assegurado. Um erro em bronze pode ou não ser um erro eterno. Que o digam todos aqueles bustos que um dia experimentaram a glória das praças e hoje repousam, aos pedaços, nos porões do ostracismo.
Nos últimos dias, nenhuma estátua tem se sentido segura sobre seu pedestal. A onda de ataques a monumentos que celebram a memória de traficantes de escravos e colonizadores, nos Estados Unidos e na Europa, reflete não apenas o momento histórico polarizado e discussões nunca feitas com a devida seriedade sobre o racismo, mas também uma certa descrença no lento timing da política convencional e do debate público. A urgência na destruição de estátuas, além de funcionar como uma espécie de catarse coletiva, reflete a falta de disposição para buscar o cansativo confronto no plano das ideias – o que, no final das contas, por mais justas que sejam as causas, não deixa de ser melancólico. Não apenas porque a emoção coletiva nem sempre é um juiz muito sensato e confiável, mas porque considerar o diálogo impossível ou simplesmente dispensável vem se tornando um dos poucos consensos da nossa época.