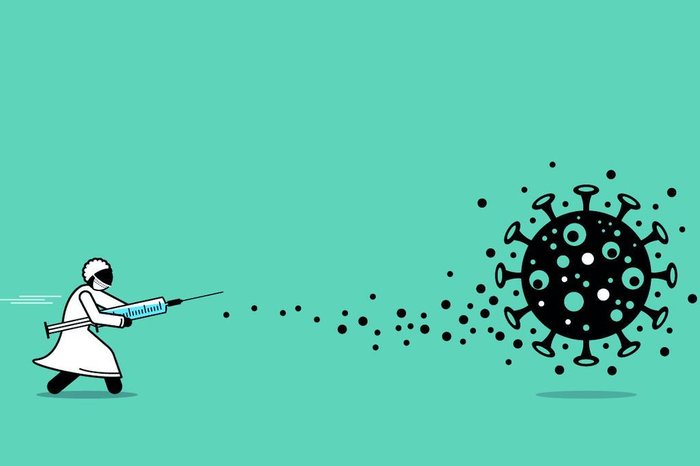
O avanço do novo coronavírus deu início a uma corrida mundial por uma vacina. Mas nem todo o dinheiro do mundo parece capaz de encurtar os prazos mais otimistas firmados pelos cientistas, que giram em torno de um ano. Isso significa que uma vacina poderia chegar apenas depois do declínio da pandemia. Mais lógico, então, concentrar as esperanças em medicamentos, correto? Não exatamente. Caso encontrado, um tratamento eficaz para a covid-19, doença causada pelo vírus, salvaria muitas vidas, mas talvez não interrompesse o contágio, visto que até indivíduos assintomáticos o transmitem.
Por isso, a prevenção passa agora pelo isolamento social e, no futuro, pela vacina, especialmente se o novo coronavírus tenha vindo para ficar – como a gripe, por exemplo. Para o cientista Ricardo Gazzinelli, especializado em doenças infecciosas, a vida só voltará ao normal com a vacina:
– Podemos falar que agora estamos controlando a transmissão com o isolamento, só que a maior parte da população não está imune, então o vírus vai ficar indo e voltando. Assim que surgir um foco, teremos de atuar rapidamente. Esperamos que o isolamento possa acabar até junho, mas o problema vai durar mais. A melhor forma de controle de uma doença infecciosa é diminuir a taxa de transmissão, e a vacina é a principal ferramenta para isso – afirma o pesquisador, que coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas (INCT-V) e lidera uma das principais pesquisas brasileiras para desenvolver a vacina, trabalho que envolve ainda a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
A vacina alcança o que especialistas chamam de “imunização de rebanho”, quando a quantidade de pessoas imunes na sociedade é tão grande que interrompe o ciclo de contágio, protegendo também os não imunizados e erradicando a doença. Isso também pode acontecer naturalmente. Em teoria, se uma parte significativa da população contrair o vírus, ganhará imunidade e, por tabela, protegerá a todos.
A proporção de uma população que precisa ser vacinada para atingir a imunidade “de rebanho” varia de acordo com a doença. Para o sarampo, é de 95%; para a poliomielite (menos contagiosa), 80%. Quando essas taxas não são alcançadas, as doenças ressurgem. O sarampo, que estava em vias de ser erradicado em 2010, provocou 110 mil mortes no mundo em 2017. É por isso que a Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou o movimento antivacina como uma das 10 ameaças à saúde mundial em 2019.
A imunologista e colunista de GaúchaZH Cristina Bonorino enxerga certa ironia no momento:
– É surreal. Se fosse enredo de filme, não seria tão claro. Estamos vindo de uma onda de antivacinação para um momento em que todo o mundo quer uma vacina.
Parece que o coronavírus não tem taxa de mutação tão alta, então a imunidade induzida por ele ou por uma vacina deve persistir por anos.
RICARDO GAZZINELLI
Coordenador de pesquisa que envolve INCT-V, Fiocruz e UFMG
Cristina coordena o Laboratório de Imunoterapia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), que hoje está trabalhando em parceria com colegas da universidade e do Hospital Moinhos de Vento para compreender como pessoas são naturalmente imunes ao vírus, o que pode levar ao desenvolvimento de uma imunoterapia como as que já existem para câncer e ebola.
O novo coronavírus é bem menos contagioso do que o sarampo, por isso especialistas calculam que cerca de 60% da população teria de ser imunizada para que todos estivessem protegidos. Mesmo assim, a conta continua assustadora.
– O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então no mínimo 120 milhões teriam de ficar imunes e, portanto, se infectar. Como temos uma taxa de mortalidade de 2%, 2,5 milhões de pessoas morreriam. Se houver sobrecarga hospitalar, a mortalidade passaria para 10%, ou seja, 12 milhões de pessoas – calcula Gazzinelli.
Foram números assim que convenceram Donald Trump e Boris Johnson a implantar o isolamento social nos EUA e na Inglaterra após alguma relutância. Permitir que toda a população contraia o vírus seria superlotar hospitais e arcar com milhões de mortes. Além disso, as novas gerações teriam de passar pelo mesmo processo. Caso uma vacina jamais fosse encontrada, a população seria forçada a adquirir a imunidade “de rebanho” por infecção.
– Há sempre a possibilidade de uma vacina não funcionar. Nesse caso, teríamos de ter um pronto-atendimento mais eficiente para evitar as fatalidades e, com isso, estabelecer a imunidade de rebanho. Neste momento, é algo impensável – comenta Gazzinelli.
União contra o tempo
Felizmente, no mundo inteiro, forças econômicas e políticas estão se aliando para impulsionar o trabalho da ciência. Segundo o virologista Renato Astray, diretor do Laboratório Multipropósito do Instituto Butantan, em São Paulo, questões econômicas são frequentemente os fatores determinantes para a produção de uma vacina. Um exemplo está na luta contra o ebola.
– A vacina de ebola que existe hoje poderia existir há muitos anos, porque o antígeno já era conhecido há muito tempo, mas quem iria investir em uma vacina que seria aplicada nos países pobres? Os países pobres nem compram as vacinas, quem compra é o projeto Gavi (da Fundação Bill e Melinda Gates) e a Unicef, que entregam de graça para eles – diz Astray.
Com o interesse global no combate ao coronavírus, governos também devem acelerar a aprovação da vacina por agências regulatórias, outra etapa tradicionalmente demorada. Assim, restam os desafios de ordem científica. São eles que atravancam a vacina para o HIV, por exemplo.
– A vacina mais promissora que já existiu falhou retumbantemente nos ensaios clínicos porque as pessoas que tomaram ficaram mais expostas à infecção do que aqueles que não tomaram – explica Astray.
O HIV desafia os cientistas pois é um vírus altamente mutável. A boa notícia é que, embora o novo coronavírus sofra mutações, elas não parecem ser significativas a ponto de exigir muitas mudanças na vacina. Por isso, Gazzinelli está otimista:
– Com HIV e influenza, a taxa de mutação é alta, e aí o vírus passa a não ser reconhecido pela resposta imunológica. Com a gripe, todo ano estudamos o vírus que está circulando e fazemos a vacina. Parece que o novo coronavírus não tem essa taxa de mutação tão alta, então a imunidade induzida por ele ou por uma vacina deve persistir por anos, como a da febre amarela. Essa é a expectativa, embora, em biologia, as coisas às vezes tomem uma direção diferente.
É raro percorrer todas as fases da liberação (de uma vacina) em menos de 24 meses. Em situações de grande necessidade de saúde pública e dependendo dos resultados nos primeiros testes, é possível liberar em prazos menores.
MANOEL BARRAL-NETTO
Professor da UFBA, pesquisador da Fiocruz
Em média, uma vacina leva 10 anos para ser levada ao público. É um processo cuidadoso, como explica o professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pesquisador da Fiocruz Manoel Barral-Netto:
– Esse tempo é variável. As vacinas contra vírus com proteção mediadas por anticorpos costumam ser mais rápidas. Mas é raro percorrer todas as fases da liberação em menos de 24 meses. Em situações de grande necessidade de saúde pública e dependendo dos resultados nos primeiros testes, é possível liberar em prazos menores.
A vacina geralmente consiste em injetar uma versão atenuada do vírus ou partes dele no corpo, em dose baixa, para provocar a produção de anticorpos. Uma vez gerados, os anticorpos podem ser mobilizados de novo pelo sistema caso a pessoa seja atacada pelo vírus.
O desenvolvimento da vacina é relativamente rápido, pode levar uns três meses. O que demora são os testes, essenciais para garantir a eficácia e evitar prejuízos às pessoas. Geralmente, são aplicados primeiro em animais, depois em um grupo pequeno de pessoas e enfim, num grupo maior. Cristina Bonorino alerta para o que pode acontecer caso essas etapas não sejam respeitadas:
– Em uma das vacinas para a dengue, houve pessoas vacinadas que desenvolveram doença quando encontraram o vírus. Ainda não entendemos completamente como o vírus da dengue interage com o sistema imune, nem todas as respostas imunes para controlar a infecção com segurança. Daí a importância de fazer pesquisa básica na biologia dos vírus, em paralelo à aplicada em vacinas.
Há um trabalho com macacos. Todos ficaram bons, mas os imunizados ficaram com pulmões piores do que os que não foram imunizados. É por isso que se deve ter cuidado: algo pode dar muito errado no final.
RENATO ASTRAY
Virologista do Instituto Butantan
Alguns estudos com coronavírus apontaram que até mesmo depois de provocar melhora a vacina pode levar a uma piora da doença. Astray cita um exemplo:
– Há um trabalho com macacos que foram imunizados com a proteína spike (que dá a forma de coroa ao vírus) e, no final, todos ficaram bons, mas os imunizados ficaram com pulmões piores do que os que não foram imunizados. É por isso que se deve ter cuidado: algo pode dar muito errado no final.
É por esse motivo que especialistas relutam quando jornalistas perguntam sobre prazos. Para o virologista do Butantan, um ano é uma previsão arriscada. Um ano e meio envolve presumir que o conhecimento existente hoje sobre a doença é o suficiente, mas a humanidade tem poucos meses de estudos sobre a covid-19. As vacinas mais avançadas se baseiam em conhecimento adquirido com o sars, ou Sars-coV-1. Até hoje não se sabe ao certo, por exemplo, como o organismo se torna imune ao coronavírus, batizado de Sars-CoV-2.
– O mais realista é a partir de cinco anos. Aí você tem tempo de testar, inclusive o teste clínico de fase 3, em que você aplica vacina e placebo em um monte de gente e, ao final de um tempo, descobre se as pessoas imunizadas tiveram doença mais fraca do que as não imunizadas ou as que não contraíram a doença. Esses testes costumam demorar de um a dois anos – esclarece Astray.





