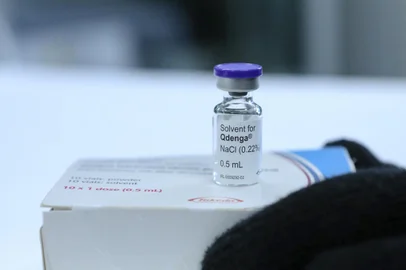Uma das linhas de pesquisa na busca por terapias para o novo coronavírus no Brasil virá de um lugar inusitado: a sala de autópsia. Os trabalhos começaram na última quarta-feira (25), quando chegou o primeiro corpo de um paciente do Hospital de Clínicas com diagnóstico da covid-19 ao serviço de verificação de óbito, ligado à Faculdade de Medicina da USP. Era um jovem de 37 anos, obeso, com diabetes tipo 2 e gordura no fígado.
Desde então, foram autopsiados quatro corpos com a confirmação da doença e outros três sob suspeita. A proposta é reunir 30 casos, com autorização expressa dos familiares e do comitê de bioética, para a primeira publicação dos resultados dessas autópsias. O objetivo é criar um biorrepositório de tecidos dos mortos pela doença, que possa ser compartilhado com a comunidade científica internacional e ser usado em estudos sobre os mecanismos da infecção.
— Somos os únicos ou um dos poucos no mundo que estão coletando de forma sistemática esses tecidos para estudar não só a biologia da doença do ponto de vista de acometimento e mecanismos, mas também para fornecer uma base para futuras alternativas terapêuticas— diz o patologista Paulo Saldiva, professor da USP e coordenador do projeto.
Estão sendo coletados tecidos de cérebro, coração, pulmão, baço, intestino e pele usando uma técnica de autopsia minimamente invasiva, criada pelo grupo há seis anos.
— A gente sabe que a doença pega o pulmão, mas há manifestações sistêmicas em outros órgãos. Como é no coração, no cérebro? — questiona.
Uma sala foi totalmente adaptada para atender às exigências sanitárias e evitar o risco de contaminação dos profissionais que vão lidar com esses corpos. Todos usam roupas especiais.
— É meia hora para se vestir e 20 minutos para se desvestir, para não se contaminar durante o período — diz ele.
O trabalho estava previsto para começar na próxima semana, mas teve que ser antecipado.
— Os corpos começaram a chegar antes. Montamos o programa "Tivirus", e começamos a nos virar para adaptar a plataforma de imagem em um ambiente estéril, obedecendo às normas e barreiras sanitárias — afirma.
O corpo é embalado com plástico (semelhante ao sistema de aeroportos para proteger as malas). Depois, é colocado em um aparelho de ressonância magnética com um ultrassom guiado por técnica percutânea. São feitas pequenas incisões por meio do plástico e retirados fragmentos dos órgãos e tecidos afetados pela doença.
— Usando a embalagem e o ultrassom guiado, não vamos às cegas e, sim, direto ao órgão doente — explica.
Ele lembra que a Covid-19 ainda é uma doença sobre a qual todo mundo está aprendendo.
— Para entrar, o vírus precisa reconhecer uma molécula do epitélio respiratório. Quando ele reconhece, joga uma bomba que fura a parede da célula e a sequestra. Precisamos estudar a patogenicidade desse vírus, porque o genoma dele é 80% distinto de outros que causaram epidemias como a Sars e a Mers — afirma.
Com estudos usando métodos in situ (material retirado da autópsia) e moleculares, ele acredita que será possível entender como o vírus entra no corpo e todas as alterações que vai causando no organismo.
— Se compreendermos melhor os receptores envolvidos, podemos buscar eventuais enzimas que os inibam — diz.
Informações passadas pela família da vítima (autópsia verbal) também permitem um cruzamento de informações sobre a patogênese do vírus, as características genéticas do hospedeiro e outras condições sociais, como o estado nutricional da vítima e se ela pôde se afastar do trabalho na fase inicial da doença.
— É estudar a biologia da doença como deve ser feito — defende.
Estratégia parecida foi usada durante a epidemia da febre amarela, segundo Saldiva. Somando os esforços da autópsia e da bancada do laboratório, foi possível adequar o manejo de terapias e diminuir a taxa de mortalidade de pacientes graves de 90% para 30%.