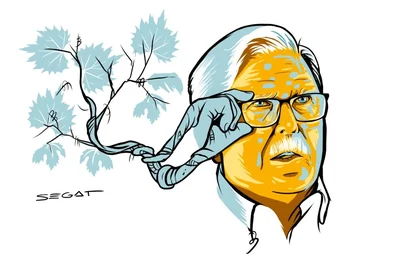Uma frase atribuída ao ator Marlon Brando diz: “Não importa com quem você se case, sempre acorda casado com outra pessoa”. É um pensamento duro, mas acho-o ilustrativo da passagem de Libra para Escorpião, que estará a ocorrer no céu nos próximos dias.
Se olharmos o zodíaco como é de fato, mais como um símbolo de contínuas etapas da nossa vida e não como uma sequência de signos isolados, veremos que após a experiência libriana do encontro com o outro sempre vem a fase escorpiana de aprofundamento. No aquoso signo da fusão, cada parte envolvida na relação precisará abrir-se um tanto em nome de algo maior, a dois. É como na canção do Gil: a semente de ilusão tem que morrer para germinar.
Sem a coragem de despir corpo e alma para o outro, a relação não avança — estaciona ao sabor de reservas e segredos, torna-se uma estrutura oca, defensiva. Por isso Escorpião rege a morte e suas vertentes, vide crises e depressões, no difícil trabalho de eliminar — ou apenas tornar consciente — o que já não é necessário, para ressignificar a vida, mesmo que isso doa demais.
Ah, então sofrer perdas é preciso? Qual o sentido disso? Convém deixar que essas questões sejam respondidas, ou não, no signo seguinte, Sagitário, como sugere o zodíaco. E que depois uma verdade maior floresça conforme a transformação havida. Mas antes, nas águas profundas do Escorpião, o que a vida quer da gente é coragem (valeu, Rosa!) para suportar as travessias.
Esse tema é um dos eixos narrativos do lindo filme Até que a Música Pare, dirigido pela gaúcha Cristiane Oliveira e rodado aqui na região da Serra. O luto pela perda de um filho e a saída de casa de outro disparam o vazio da relação de um casal maduro.
Chiara, a mulher, vivida por Cibele Tedesco, sustenta em silêncio a função de resistente matriarca que lhe destina sua cultura. Alfredo, o marido, papel de Hugo Lorensatti, ocupado com entregas comerciais pelos arredores, preserva-se na aparente dureza que dele esperam. Como quebrar essa redoma de dor reprimida?
A saída é sagitariana, de alcance ético, filosófico. O questionamento dos conceitos que nortearam e formataram condutas de uma vida abala as estruturas do casal. Se somos do tamanho do que vemos, como diria o poeta Pessoa, o que somos se modifica quando vemos mais e além. E então Chiara descobre que, como na citação do começo, esteve casada há décadas com outra pessoa.
Um dos tantos méritos do filme é a forma delicada e poética com que trata o espinhoso tema do luto, ali ampliado por decepções outras envolvendo a relação do casal. Seria aquele amor feito um grão, capaz de ressuscitar do chão? Poderia haver mais compaixão? Que mortes em si mesmos deveriam Chiara e Alfredo provocar em prol de uma nova vida?
Mas chega de astrologar e filosofar, preciso aproveitar o resto de espaço para recomendar efusivamente o filme. Não apenas pelos ganchos apontados, mas também pelo retrato cuidadoso de aspectos naturais e culturais da Serra gaúcha. Cada paisagem, cada detalhe cenográfico, as redes de relações sociais, tudo transpira verdade. De tão bem retratada a aldeia, a história tinha mesmo que soar pronta para tocar o mundo.
Aliás, desde O Quatrilho a Serra não é tão fielmente espelhada no cinema. O enredo se ambienta entre descendentes de italianos, com direito à fala do Talian, o dialeto local já reconhecido como patrimônio. Nas asas da linguagem, Cibele, Hugo e outros atores do grupo teatral Míseri Coloni voam ainda mais leves e à vontade em suas performances. Senti um orgulho danado deles, e saí do cinema louco para comentar as muitas camadas do filme. E feliz por confirmar o quanto a arte nos cura no trato de nossas sombras e limitações.
Quem não viu, que procure saber quem é Filomena. Por fim, uma confidência paroquial. A cada rosto conhecido em cena, tive ganas de gritar: olha o Jonas! Olha a Cleri! Olha a Magali!