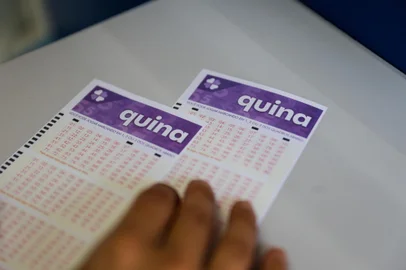Sempre que vou a São Paulo e pego um táxi tão logo desço em Congonhas, acontece a mesma coisa: basta eu entrar no veículo, dar o endereço ao motorista, e ele já pergunta: “É gaúcha, não é?”. O sotaque nunca nega. Na verdade, parece que quando eu saio aqui da Serra gaúcha, meu sotaque fica ainda mais carregado. Linguistas, antropólogos e psicólogos podem atestar com ciência o que eu percebo por experiência individual: minhas marcas identitárias (a forma como eu falo, por exemplo), minha cultura e minhas raízes se acentuam quando viajo para fora – e o “fora” não necessariamente significa ir para outro país.
Muitas vezes me sinto estrangeira dentro do próprio Brasil, mas quase sempre de um jeito bom, no sentido de estar aberta ao novo, às trocas, ao compartilhamento do que há de comum em meio aos diferentes. Uma dessas conversas de táxi na capital paulistana foi memorável para mim: o taxista era um senhor cearense na casa dos 60 anos que, ao saber que eu morava na região da uva e do vinho na Serra gaúcha, me contou que ele próprio cultivava parreiras na serra do Ceará. Para quem não sabe – como eu não sabia –, há serras úmidas lá, que são o Maciço de Baturité, também conhecido como Serra de Baturité, a Serra da Meruoca, a Serra de Uruburetama, a Serra de Maranguape e a Serra do Machado.
Tudo o que eu imaginava sobre o Ceará antes dessa conversa era agreste e praia. Mas as belas e detalhadas descrições do taxista criaram para mim outra imagem a respeito da paisagem cearense: picos de quase mil metros de altura, pomares de frutas doces, uvas de boa qualidade, pequenas vinícolas que começam a prosperar. Ele me fez várias perguntas sobre os vinhedos daqui, eu fiz várias perguntas sobre os vinhedos de lá, falamos de família, de trabalho, de férias, de comida. Foram 45 minutos no trânsito congestionado de São Paulo que passaram voando graças à conversa boa que tivemos: um cearense e uma gaúcha, buscando um interesse inicial em comum – a paixão por uvas e vinhos – para falar de outras coisas que nos aproximavam e nos conectavam. As diferenças de origem que existiam entre nós, em vez de empecilho ao entendimento, se colocaram na conversa como tempero, e é assim que deveria ser, sempre, entre dois indivíduos.
Mas, infelizmente, alguém poderia olhar para dentro daquele táxi e ver apenas “um nordestino e uma sulista” nos tirando nossa identidade local, e principalmente, nossa humanidade. É inegável que cearenses e gaúchos sofrem de um tipo de xenofobia do qual pouco se fala, que é a clara tentativa de apagamento de suas tradições. Os poderes centrais há séculos tentam nos rotular em grandes grupos artificialmente homogêneos passando a nos declarar como “nordestinos” ou, mais recentemente, “sulistas”, sempre num tom pejorativo.
Quando falo em “poderes”, não me refiro apenas ao Estado e ao governo, mas a grupos socioculturais majoritários e urbanos que tentam impor, de cima para baixo, sua visão de mundo. Tentam nos rotular para controlar certas narrativas e posicionamentos. Mas não vai dar certo: resistiremos.