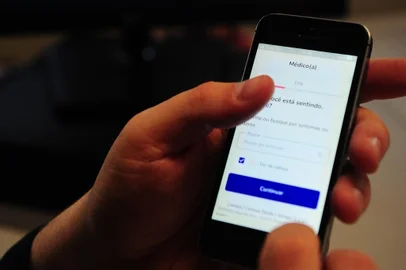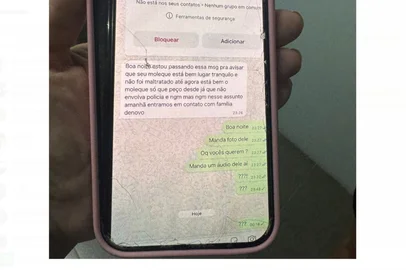Desde que Eduardo Cunha colocou em funcionamento as engrenagens do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o deputado estadual Ibsen Pinheiro (PMDB) passou a ser procurado por interlocutores interessados nos detalhes do processo que ele comandou em 1992 e que resultou na queda de Fernando Collor:
- Estou dando mais entrevistas agora do que no tempo do Collor.
Se estivesse no lugar de Cunha, Ibsen pensaria um pouco mais do que em 1992 antes de despachar favoravelmente a petição dos juristas Miguel Reale Jr. e Hélio Bicudo. A cautela de hoje não seria apenas pela diferença de peso dos signatários do pedido contra Collor, os presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcello Lavenère, e da Associação Brasileira de Imprensa, Barbosa Lima Sobrinho:
- Eu não vejo clareza na configuração de crime de responsabilidade e no nexo causal entre a presidente que o praticou e o resultado. E o ambiente político popular também não é igual.
Aos 80 anos, dono de uma memória prodigiosa e conhecido pelas frases de efeito, Ibsen planeja escrever um livro. Ainda não sabe qual será a estrutura, mas escolheu o título: Os inocentes não têm cúmplices. É uma referência ao inferno que viveu depois de ter o mandato cassado, em 1994, com base em acusação falsa, divulgada pela revista Veja e corrigida só 10 anos depois.
Leia a entrevista a seguir:

Quais são as diferenças e semelhanças entre o impeachment de Fernando Collor, que o senhor comandou há 23 anos, e o processo atual contra a presidente Dilma Rousseff?
Primeiro, as semelhanças. Estamos vivendo uma crise política. À época também havia uma crise politica. Collor tinha uma característica semelhante à presidente de hoje, que é a falta de jeito ou de gosto para o ramo político. Não menciono isso nem como defeito nem como virtude, mas é uma característica. Esses dois elementos contribuem para que o processo ande. A baixa popularidade dos dois também é outro ponto em comum.
E as diferenças?
Eu não vejo clareza na configuração de crime de responsabilidade e no nexo causal entre a presidente que o praticou e o resultado. Não há uma clareza disto como havia em 1992. E também percebo que esta diferença se completa com uma outra: o ambiente político popular também não é igual. A presidente de hoje é minoritária, mas o de então estava isolado. Dilma tem ainda uma base significativa, que é o PT, a presença de Lula. Hoje, é um apoio minoritário o sentimento popular, mas não é praticamente zero como se tornou Collor.
Em setembro de 1992, em meio a uma onda de manifestações pelo país, o então presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, recebeu das mãos do presidente da OAB, Marcello Lavenère, o pedido de impeachment de Fernando Collor.
Foto: BD ZH
No processo contra Collor, em que momento o senhor teve convicção de que o crime de responsabilidade estava configurado?
No momento em que apareceu a impressão digital dele em algumas questões até menores, como a reforma da Casa da Dinda, o Fiat Elba comprado com dinheiro da campanha, a Operação Uruguai. Naquele momento, episódios de significado menor, isoladamente, compunham o quadro do nexo entre a figura do presidente e o crime de responsabilidade.
O que foi decisivo para o impeachment?
Um componente essencial no processo de impeachment é o sentimento popular. Não é só opinião pública, que esta parece uma opinião fria, colhida por pesquisa. Não, estou falando do sentimento popular. Lembro de um erro histórico, quando o presidente convocou as pessoas a saírem de verde e amarelo e as pessoas saíram de preto. Será que o PT não está cometendo um erro semelhante ao convocar a sua militância às ruas? Se há alguma hipótese de manifestação espontânea, ela pode surgir pelo revide. Claro que é uma comparação sempre arriscada, porque as coisas não aconteceram, mas eu também, embora esteja falando sobre o passado, não consigo resistir à tentação de olhar um pouco para a frente.
Se hoje fosse o presidente da Câmara e coubesse ao senhor analisar o pedido feito pelos juristas Miguel Reale Junior e Hélio Bicudo, o senhor daria andamento ou escreveria "arquive-se", como fez com tantos outros no governo Collor antes de aceitar o da OAB e da ABI?
Eu acho que nesse quadro de hoje, eu demoraria um pouco para acolher ou para arquivar o pedido de Bicudo e Reale.
Demoraria porque precisaria analisar mais profundamente ou porque esperaria pelo sentimento popular?
Um pouco de cada coisa. Quem acha que o processo de impeachment é um processo penal, está errado. E quem acha que é um processo popular, também está errado. Se não houver os dois componentes, não está completo o quadro. O que me levou a decidir pelo acolhimento do pedido do impeachment do presidente Collor não foi só a expressão dos signatários. Isso pesou também, mas o clima nas ruas também pesou. E eu tive a percepção, naquele momento, que nós estávamos em uma crise política que corria o risco de transformar-se em uma crise institucional. Se não houvesse a intervenção da Câmara naquele episódio, alguma intervenção ocorreria.
Hoje o senhor vê algum risco institucional?
Se o canal não for o canal político, se as forças políticas não arbitrarem esta crise, elas serão a primeira vítima.
Em 1992, a relação entre Collor e o vice, Itamar Franco, era diferente da de Dilma Rousseff e Michel Temer? Como o senhor interpretou a carta de Temer para Dilma?
A carta é irretocável como desabafo e pela qualidade dos registros do presidente Temer, o presidente do PMDB.
Não é ato falho o senhor chamá-lo de presidente?
O presidente Temer, do PMDB. Ele foi exemplar ao apontar os fatos que comprovam que teve um tratamento de vice decorativo e em alguns casos até com atitudes presidenciais que implicaram mais do que descreve ou até quase um gesto de afronta. Como, por exemplo, excluí-lo da visita do vice-presidente dos Estados Unidos. Isso é até uma questão protocolar. Vice com vice, não é? Se o presidente do partido está mirando na Presidência da República, mais proveitoso seria o silêncio. Que, aliás, tem um exemplo histórico: Itamar Franco.
Se a gente fosse pensar nos momentos que antecederam o impeachment, Itamar também parecia um vice decorativo. Ninguém lembra de um momento em que Itamar tenha sido protagonista, na curta gestão do Collor.
No futebol, ninguém liga para vice-campeão. Vice é vice. Voltando à carta, eu acho que ela é muito bem escrita e tem um bom fundamento e conteúdo de desabafo, até para o vice-presidente da República preservar a sua história. Como jogo pelo poder, não me parece o adequado, até por isso eu acho que não foi um jogo pelo poder.
Mas nas entrelinhas não tem ali uma tentativa de se descolar do governo?
Eu acho que sim, mas isso já foi feito e muito bem feito com o documento Uma Ponte para o Futuro. E isso se presta para dizer que é uma boa proposta para o governo. Se acha boa a proposta, pratique. Se não pratica, é porque não quer superar a crise. A carta e o documento produziram esse efeito de dizer que o PMDB não está colado necessariamente no governo. O vice-presidente, neste quadro, é prejudicado por duas atitudes extremas: uma é abraçar a presidente e afundar junto, se for o caso. Não é positivo. A outra, conspirar. Também não é positivo.
O senhor tem a convicção de que Temer não conspira contra a presidente?
Olha, hoje eu não sei se sobra alternativa. Depois da carta, depois do ambiente que se criou, é difícil você achar qualquer força política que vai conseguir praticar uma espécie de neutralidade. Acho muito difícil agora. Acho que até aqui não há nenhum sinal de conspiração. Mas agora ele se tornou polo da questão. Até sob um aspecto positivo para o processo de impeachment. Está deixando de ser Eduardo Cunha versus Dilma. Está passando para o imaginário de que é a presidente e o vice-presidente.
Esta não seria uma motivação suficiente para o Temer escrever a carta?
Pode ser. Se foi, foi uma boa jogada. Mas ainda acho que ele cuidou da biografia e de colocar ao público algo que lhe deu sofrimento ao longo da convivência. Especialmente do primeiro mandato.
Por que alguém que se sente assim tão desconfortável, concorre à reeleição na mesma chapa?
Nós sempre temos que levar em conta o temperamento e a personalidade de Michel Temer. Ele nunca foi de rupturas. O PMDB queria continuar a coligação e melhorá-la. Não é fácil para nós, do Rio Grande, falarmos disso, porque nós rejeitamos essa coligação por maioria. Nós ficamos com o Eduardo Campos. O Campos morreu, aí nós ficamos com Marina. A Marina não foi para o segundo turno, nós ficamos com o Aécio. Qualquer solução, para nós do Rio Grande do Sul, era melhor que a coligação nacional. Mas ela venceu.
Após tentativa frustrada de eleger-se deputado federal Ibsen retorna à política como vereador, em 2004
Foto: Ricardo Duarte, Agência RBS


O senhor se considera amigo de Temer, amigo de "tomar vinho", como diria o ex-ministro Padilha?
Ah, sim, porque fizemos isso. E fizemos uma coisa que aproxima muito as pessoas, principalmente os parlamentares: as viagens comuns. Fomos a várias comitivas parlamentares na mesma viagem. Me lembro que uma vez em Paris, caminhávamos na calçada, e alguém nos chama em um carro: "Ibsen, Michel!", era o ministro Eros Grau, do Supremo, que tem apartamento em Paris e onde fomos jantar. Tenho e sempre tive com o Michel Temer uma convivência de muita proximidade, até porque, dentro da bancada, também andávamos nas mesmas linhas.
O senhor disse que não estão bem claros os fundamentos para a identificação do crime de responsabilidade da presidente Dilma. As pedaladas fiscais não são suficientes?
Não, isso é uma zona gris, por que, tecnicamente, qualquer despesa que não tem autorização legislativa é uma violação da regra orçamentária e do fundamento constitucional.
O auxílio-moradia dos magistrados seria um tipo de pedalada?
Esse aí é flagrante. Isso seria um caso gravíssimo e claríssimo de crime de responsabilidade. De quem? Do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.
No impeachment do Collor, o condutor do processo era o senhor, que tinha a confiança absoluta dos seus pares. Hoje, é Eduardo Cunha, um homem cercado de denúncias por todos os lados. Isso pode impactar no resultado?
Eu acho que pode, sim. A presença do presidente da Câmara, questionado do modo como ele está sendo, é um fator poderoso contra o sucesso do processo de impeachment. Porque o governo não precisa ganhar essa batalha, basta não perder de goleada. Se o governo tiver 172 parlamentares votando com ele ou ausentes, porque a ausência aí é contra o impeachment, ele matará o processo no plenário de Câmara. Ninguém imagina como se conduzirá o presidente da Câmara, mas eu não me surpreenderia, se no entendimento, possa ocorrer o seu afastamento e a preservação do seu mandato.
A possibilidade de Cunha renunciar é uma percepção sua, um sentimento, ou é uma informação de bastidor?
Não é uma informação. Suponho que o presidente da Câmara não cogita falar sobre isso, mesmo que eventualmente pretenda renunciar. Duvido que ele fale sobre isso, mas não duvido que o faça. Estou vendo que só tem um modo de afastar um presidente da Câmara. Embora alguns achem que podem afastá-lo judicialmente, pessoas que não percebem que o poder Judiciário também tem limitações constitucionais. Como vai afastar um presidente da Câmara? O único modo de afastar o presidente da Câmara é tirando-lhe o mandato.
A renúncia é um ato unilateral e depende muito do perfil da pessoa. Fala-se que Dilma também poderia renunciar, que ela abreviaria essa crise renunciando. O senhor que conhece bem os dois, vê alguma possibilidade real de renúncia?
Eles não têm o perfil do renunciante. Mas não está vedado a quem tem esse perfil renunciar também. Ocorre especialmente se a renúncia se torna o único caminho. Por exemplo, o Collor é um antirrenunciante por definição mais do que esses dois somados. Se você quer um exemplo nacional de antirrenúncia, é Fernando Collor. E renunciou. Claro que ele renunciou quando já estava naufragando, né? Na véspera da votação no Senado. Eu acho que se as condições se aproximarem disso, não se pode excluir a renúncia.
A decisão do ministro Luiz Fachin, que suspendeu a comissão na Câmara depois de toda aquela confusão, seria uma intervenção indevida do Judiciário no Legislativo?
O limite é claro, mas nem sempre é observado. O Judiciário comum interfere em um processo de afastamento de um deputado, detonando um processo. Por exemplo, uma prisão em flagrante. Está na Constituição. E o plenário da casa confirma ou não. Houve agora com o Delcídio. Acho que o ministro Fachin concedeu a liminar para definir se o procedimento está correto, se pode o plenário designar porque a sustentação é de que aos líderes cabe a designação.
Hoje, como em 1992, se discute muito o rito. O senhor tomou decisões que hoje certamente seriam contestadas.
Decidi a partir do fato concreto. Tomei uma decisão que não passaria no Judiciário, que é como se chamariam os deputados para a votação. O regimento interno dizia que a votação nominal seria com base no mapa, de baixo para cima, do Rio Grande do Sul até o Amapá, ou de cima para baixo. Quem queria derrubar o Collor, queria votação de baixo pra cima, sairia ganhando. E o Collor e seus aliados queriam do Norte para o Sul. No dia da votação, os líderes do governo foram à residência oficial onde eu morava me perguntando se estava tudo pronto para a votação. Eu decidi algo que só o secretário geral ficou sabendo. E anunciei apenas na hora da votação que seria em ordem alfabética.
Ficou famosa a resposta que o senhor deu a uma senadora australiana, dias antes da votação, de que era impossível obter dois terços para cassar o primeiro presidente eleito depois de 30 anos e que seria mais fácil conseguir a unanimidade. Esse raciocínio valeria hoje?
O sentido permanece atual hoje. Haverá dois terços para destituir a presidente Dilma? Se precisar catar voto no plenário, não chega a dois terços. Agora, se não precisar catar voto, ela vai ficar só com os amigos leais, íntimos, próximos, como ficou Fernando Collor: poucos.
Em fevereiro de 2015, o peemedebista, suplente de deputado estadual, assume uma vaga na Assembleia
Foto: Vinicius Reis, Divulgação

O senhor, logo depois do impeachment, entrava em um avião e era aplaudido. Entrava em um restaurante e era aplaudido de pé. Dois anos depois, conheceu o inferno no seu processo de cassação. Como foi descer do céu ao inferno e depois se recuperar nesses anos todos?
De fora, alguns podem reproduzir isso que você disse. Estava no céu e vim para o inferno. Do inferno eu me lembro, do céu, não. Não lembro de ter estado no céu.
Mas o senhor se tornou uma das pessoas mais populares do país depois do impeachment e era citado como provável candidato a presidente em 1994.
Falavam que eu seria o presidente da República, mas eu nunca acreditei nisso. Primeiro que o Rio Grande do Sul tem grande dificuldade de cogitar um presidente. Só percebi depois do que eu passei no meu inferno que muita gente achava que eu poderia ser. Tirei algumas lições pelo o que eu passei. Várias lições. Uma delas é de que o ódio só faz mal ao hospedeiro. Percebi também, como ensinamento, que os inocentes não têm cúmplices. Inocente fica sozinho. Dreyfus, Cristo... não têm cúmplices. Quem tem cúmplices, geralmente tem no cartório alguma anotação. Assim, também o processo pelo que passei, me deixou outro ensinamento. Na vida pública, você não pode ter prestígio sem poder. Sem o poder, você é vulnerável. Eu saí da presidência para a minha bancada de parlamentar. Se fosse o líder da bancada, não teria sofrido um processo de cassação, ainda que a acusação desmentida fosse verdadeira. Se fosse líder, estaria no gabinete que escolhia os réus, e não na bancada dos escolhidos. Também li, acho que em Santa Tereza de Ávila, que o sofrimento melhora os bons e piora os maus. Como eu me sinto melhor, eu me classifiquei como bom. E eu tive uma graça que é muito rara. Uma reparação em vida.
Na CPI dos Anões do Orçamento, Ibsen se defende das acusações que culminaram na sua cassação, em 1994
Foto: BD ZH
O senhor se refere ao reconhecimento do jornalista Luís Costa Pinto, de que a reportagem que embasou a capa da revista Veja contra o senhor estava assentada em dados falsos?
"Até tu, Ibsen", foi a manchete da revista Veja. Eu tive sorte. Porque eu não poderia imaginar que o jornalista que ensejou aquela capa daria um depoimento, 10 anos depois, para informar que simplesmente a revista se enganou por três zeros. Aquilo foi um resgate, não foi a decisão do Supremo. Até porque a decisão do Supremo tem pouca repercussão.
Passados mais de 20 anos, o senhor acredita que só foi cassado porque ganhou notoriedade com o impeachment?
Duvido que tivesse sido capa. A mesma inverdade poderia ser uma notinha no Radar. Mas aí não produziria o efeito. Acho que o efeito é essa conjugação. Muita exposição positiva e nenhum poder. Não acho que a Veja tenha feito aquilo para me prejudicar. Foi mais irresponsabilidade. E a parte que mais me chocou foi quando o jornalista advertiu e o controlador advertiu, mas o editor disse: "A capa já rodou". Agora acabou.