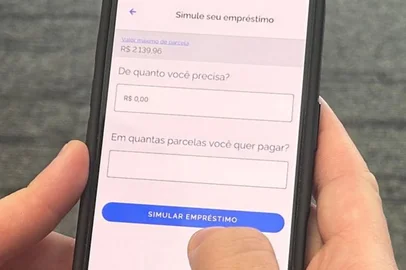A fuga sem precedentes de mega-anunciantes que decidiram retirar seus anúncios do Facebook, Twitter e Instagram (que pertence ao Facebook) nos últimos dias coloca as gigantes de tecnologia no banco dos réus da opinião pública mundial, levantando questionamentos sobre transparência, responsabilidade social de empresas e plataformas e o tênue limite entre liberdade de expressão e discursos de ódio e racistas.
Até esta quarta-feira (1º), pelo menos 240 marcas globais, como Unilever, Coca-Cola, Adidas e Verizon, entre outras, informaram que não pretendem gastar com anúncios nas redes sociais — em especial no Facebook — até que elas se comprometam com políticas eficazes para barrar a disseminação de mensagens com conteúdo tóxico ou informações falsas.
Segundo uma pesquisa da Federação Mundial de Anunciantes, um terço das 58 principais empresas do mundo pretende aderir ao boicote — no total, elas investem US$ 100 bilhões em marketing. O movimento, ligado à campanha Stop Hate for Profit, foi iniciado por grupos de direitos civis dos Estados Unidos, como a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP, principal organização do movimento negro dos EUA), a Liga Anti-Difamação (ligado à comunidade judaica) e os Sleeping Giants.
A ação já ocorria em território americano havia semanas, mas ganhou forte impulso na sexta-feira (26), quando a Unilever (dona de marcas como sabão em pó Omo, maionese Hellmann's e sabonete Dove) decidiu deixar de anunciar no Facebook e foi seguida, em um movimento inédito no mercado de mídia e publicidade, por outras gigantes, como Honda, Coca-Cola, Ford, Microsoft.
O pano de fundo dessa decisão passa pela própria concepção das redes sociais, plataformas criadas no início dos anos 2000 que, supostamente, conectariam as pessoas e estimulariam um debate livre e saudável. No entanto, junto com os novos canais de comunicação, que ecoaram anseios de populações reprimidas por regimes ditatoriais do Egito, da Líbia e do Irã, por exemplo, cresceu a disseminação de notícias falsas e de discursos de ódio que não apenas colocam em risco a democracia como pulam muitas vezes do campo virtual para o real. Em 2019, um militante de extrema-direita atacou uma mesquita na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, matando pelo menos 51 pessoas. Boa parte dos assassinatos foi transmitido ao vivo, pelo próprio atirador, pelo Facebook.
O movimento Stop hate for profit (parar de ter lucro com redes de ódio) surgiu na esteira da morte do negro George Floyd por um policial branco, este ano, e foi turbinado por grupos da sociedade civil que passaram a pressionar marcas a deixar de investir propaganda nas redes sociais.
A base do problema está na chamada mídia programática: as empresas compram espaço publicitário por meio de intermediários que, então, posicionam os anúncios em centenas de milhares de páginas. Os anunciantes nem sempre escolhem cada um dos sites em que vão aparecer nem monitoram onde o anúncios são veiculados. Isso significa que, mesmo sem saber, uma grande marca de produtos esportivos pode estar presente em um site supremacista branco, que defende a morte de negros, ou de recrutamento de pessoas para atos terroristas. Mais: a propaganda de um brinquedo ou de um refrigerante pode, de repente, estar associado a conteúdos pornográficos.
Por anos, as plataformas de redes sociais se defenderam dizendo que são apenas espaços de livre-discussão para as pessoas publicarem o que bem entenderem — ou seja, elas não se responsabilizam pelo conteúdo que o internauta posta. Porém, cresce a pressão para que gigantes como Google, Facebook e Twitter assumam responsabilidade sobre o que está dentro de seu ambiente.
— Enquanto formuladores de política tentam há anos frear os discursos de ódio, plataformas como Facebook não têm comprometimento real em resolver o problema e continuam ganhando dinheiro com conteúdo de ódio. Agora, que os anunciantes estão retendo seus orçamentos é interessante ver que o Facebook pode realmente mudar suas políticas. Infelizmente, isso sugere que receitas são muito mais importantes que valores e responsabilidade social — avalia Wout van Wijk, diretor-executivo da News Media Europe, principal órgão representativo dos veículos de comunicação da Europa, com mais de 2,4 mil jornais, emissoras de TV, rádios e sites de notícias.
O fenômeno que sacudiu o mercado publicitário e tirou o sono de Mark Zuckerberg representa, na opinião de outro especialista, o professor de Canais Digitais da pós-graduação da ESPM-SP Alexandre Bessa, a chegada de um momento de maturidade para as redes sociais.
— O Facebook vai ter de se posicionar se é um veículo de comunicação com jurisprudência sobre o conteúdo veiculado dentro dele ou se é uma ferramenta. Por enquanto, a empresa diz ser uma ferramenta, mas a sociedade está exigindo que ele seja um veículo — afirma.
Especialista em ataques virtuais, o advogado Fabiano Machado da Rosa explica que nem nos EUA, onde a primeira emenda da Constituição é princípio basilar, a liberdade de expressão é um direito absoluto.
Calúnia, difamação e injúria, incitação à violência e pornografia infantil são questões que limitam a liberdade de expressão e ponto.
FABIANO MACHADO DA ROSA
Advogado
— Há limitações. Calúnia, difamação e injúria, incitação à violência e pornografia infantil são questões que limitam a liberdade de expressão e ponto — esclarece o profissional, que já defendeu o ator Wagner Moura e a ex-nadadora Joanna Maranhão em processos de crimes contra a honra.
Também no Brasil, liberdade de expressão pressupõe responsabilidade, que só existe quando aqueles que exploram economicamente a divulgação de conteúdos respondem pelos danos causados a terceiros. É o que prevê a Constituição em seu artigo 5º, que trata das garantias individuais.
— Provedores de internet são empresas privadas e vivem da exploração econômica de suas atividades. Têm regras de funcionamento próprias, que atendem a seus interesses comerciais. Não é razoável que queiram permanecer imunes às leis que regrem o convívio social. Quem aufere lucros violando direitos de terceiros tem de responder por seus atos — afirma o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Paulo Tonet Camargo.
Quem aufere lucros violando direitos de terceiros tem de responder por seus atos.
PAULO TONET CAMARGO
Presidente da Abert
Caio Barsotti, presidente do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp), entidade que assegura boas práticas comerciais entre anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação, afirma que a preocupação com o local onde as marcas estão sendo expostas deveria servir de princípio aos grandes dirigentes de empresas.
— Esta situação, infelizmente, não deveria surpreender. Muitos dirigentes de marketing trocaram indicadores de performance em detrimento do ambiente em que eles expunham sua marca e passaram a olhar apenas a performance— argumenta.
Polêmica na relação Facebook e Trump
Não é de hoje a crescente desconfiança sobre o comportamento predatório de gigantes da internet, imersas em acusações de uso de dados pessoais, falta de controle dos discursos de ódio, apropriação de conteúdo alheio e práticas desleais de concorrência. Em julho do ano passado, a Comissão Federal de Comércio (FTC), órgão que regula as práticas comerciais nos Estados Unidos, aplicou uma multa de US$ 5 bilhões ao Facebook por violação de privacidade.
Antes, seu fundador e CEO, Mark Zuckerberg, depôs por cinco horas no Congresso americano, respondendo a questões sobre regulação, uso de informações dos usuários e o escândalo da Cambridge Analytica, que incluiu vazamento de dados de milhões de americanos antes das eleições nos EUA em 2016. Na ocasião, o executivo pediu desculpas e prometeu investir em medidas de proteção dos dados dos usuários da rede social. Iniciativas, de fato, foram tomadas de lá para cá, mas são insuficientes para conter a disseminação de conteúdos tóxicos, na opinião de grupos da sociedade civil que pressionam marcas a abandonar o investimento em publicidade nas redes sociais.
O gigantesco boicote de multinacionais americanas foi acelerado por dois episódios em meio à pandemia de coronavírus — a morte do negro George Floyd por um policial branco, que deflagrou uma onda de protestos nos Estados Unidos e no Exterior, no campo virtual por meio da hashtag BlackLivesMatter, e a campanha eleitoral americana, durante a qual as notícias falsas difundidas nas redes sociais podem ter impacto.
A diferença de tratamento entre Twitter e Facebook sobre o comportamento do presidente dos EUA, Donald Trump, nas redes sociais escancarou o racha entre as duas empresas do Vale do Silício — que terminou por alavancar a debandada das grandes marcas.
Em maio, Trump escreveu no Twitter duas mensagens. Uma delas dizia que as caixas de correio seriam roubadas e as cédulas de votação, usadas na eleição presidencial, seriam fraudadas. Em outra, ele atacou o governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmando que o político estaria enviando cédulas a milhões de pessoas. Em resumo, sugeria que o sistema eleitoral americano seria fraudulento.
As duas mensagens foram sinalizadas pelo Twitter como duvidosas, e pela primeira vez os tuítes de um presidente americano receberam um selo de alerta aos usuários. Já a empresa de Zuckerberg discordou da atitude do concorrente, afirmando que o Facebook não deveria se posicionar como "árbitro da verdade" do que é dito e compartilhado pelas pessoas. Quando Trump postou a frase "quando começam os saques, começam os tiros", sugerindo uma resposta violenta da polícia às manifestações raciais, o Facebook optou por não fazer nada. O Twitter indicou, de novo, que o post era uma incitação à violência.
Segundo o jornal The Washington Post, após as mensagens incendiários de Trump, houve um telefonema entre o presidente americano e Zuckerberg. O CEO do Facebook teria dito a Trump que os posts colocaram a empresa em uma posição difícil.
— A origem disso está na relação de Zuckerberg e Trump nas eleições de 2016. Isso é uma ferida aberta nos EUA. As redes sociais, que foram fundamentais na Primavera Árabe, como a última frente de defesa da liberdade contra regimes autoritários, viram suas máscaras caírem não só pelo uso das redes sociais pela consultoria Cambridge Analytica, mas quando ficou evidenciado que havia um funcionário do Facebook trabalhando na campanha de Trump — afirma o advogado Fabiano Machado da Rosa.
É impossível afirmar com exatidão o quanto as notícias falsas foram determinantes no resultado do pleito de 2016, nos Estados Unidos. Mas há fortes suspeitas de que a empresa de Zuckerberg teria sido, no mínimo, complacente com a campanha republicana ao não retirar do ar mensagens com informações falsas disseminadas por assessores de Trump e pelo próprio candidato. Documentos internos do Facebook obtidos pelo Post dão conta de que a empresa favorece o republicano desde 2015. O precedente fora aberto quando o então candidato Trump postara um vídeo propondo a proibição da entrada de muçulmanos nos EUA. Executivos do Facebook se recusaram a removê-lo.
As tensões cresceram desde a morte de Floyd. Funcionários do Facebook chegaram a organizar uma greve virtual contra a política da rede para as postagens de Trump: "O discurso de ódio que defende a violência contra manifestantes negros feito pelo presidente dos EUA não justifica a defesa sob o pretexto de liberdade de expressão", escreveu um funcionário em um quadro de mensagens internas da empresa.
As preocupações sobre as plataformas, no entanto, fermentam há anos. A Liga Anti-Difamação, por exemplo, há muito pressiona para que o Facebook considere a negação do Holocausto uma forma de discurso de ódio.
Tirar anúncios do Facebook é uma decisão difícil para empresas, porque trata-se de um veículo de marketing eficiente e detentor de muitos dados sobre os consumidores que ajudam a direcionar os anúncios — o chamado microtargeting. Cerca de 98% do faturamento total do Facebook é proveniente de publicidade — US$ 17,4 bi dos US$ 17,7 bi no primeiro trimestre. Sua plataforma conta com 2,3 bilhões de usuários, que registram diariamente suas preferências, detalhes de seu dia a dia que permitem extrair características de seus perfis comerciais. Por outro lado, a chamada mídia programática é uma das maiores fontes de receita de sites e influenciadores de extrema direita.
Os motivos para aderir ao boicote são muitos. Algumas companhias veem uma oportunidade de receber atenção positiva por assumir uma posição sobre questões relevantes (e debates necessários) da sociedade : uma luta moral, que vale a pena. Outras temem a associação de sua marca a conteúdo tóxico. E há ainda aquelas associadas a ideais progressistas, que se associam ao Partido Democrata, que vê no negacionismo da pandemia por Trump, que resultou em milhares de mortos, e na reação do presidente diante da morte de Floyd uma chance histórica de retomar a Casa Branca em 3 de novembro.
Movimentos em rede focam no financiamento
Por enquanto, poucas marcas no Brasil aderiram ao movimento #StopHateForProfit, mas, segundo especialistas, isso deve ocorrer nos próximo dias. Por enquanto, duas multinacionais, The North Face e, Coca-Cola, que deixarão anunciar no Facebook nos Estados Unidos, replicarão, no Brasil, a decisão de suas matrizes. Hershey afirma que, "a depender da postura do Facebook em relação às demandas do movimento, a companhia avaliará uma expansão para os demais mercados". Natura e Magazine Luiza estão avaliando os movimentos. Natura fará reuniões para tomada de posicionamento. GaúchaZH apurou que Magazine Luiza ainda vê o debate como algo restrito aos Estados Unidos.
Desde o anúncio das gigantes americanas, nas últimas semanas, o braço brasileiro do movimento Sleeping Giants, uma das organizações responsáveis pelo movimento em território americano, tem pressionado as filiais dessas empresas por meio de publicações no Twitter a também deixarem de anunciar nas redes sociais. O grupo, que nasceu há quatro anos nos EUA, chegou ao país em maio. No perfil na rede social, criado em 18 daquele mês, apresenta-se como "uma luta coletiva de cidadãos contra o financiamento do discurso de ódio e das Fake News".
Em pouco mais de um mês de atuação, o administrador da conta brasileira, que mantém o anonimato, estima ter impedido a captação de cerca de R$ 448 mil por parte de sites que promovem notícias falsas e discursos de ódio. Para tanto, replica o modelo americano de pressão: identifica a publicidade de grandes marcas em sites que publicam fake news, printa as páginas e joga nas redes sociais, marcando as empresas e pedindo que removam o anúncio para, dessa forma, desmonetizar esses canais.
Um dos casos mais conhecidos envolveu o Banco do Brasil, que, por ordem do Tribunal de Contas da União (TCU), suspendeu parte de suas campanhas digitais em sites, blogs e redes sociais após denúncia do Ministério Público de Contas (MPC).
Na terça-feira (30), o movimento comemorava a adesão da Vans do Brasil ao movimento no país. E classificava a empresa @usebrusinhas como a primeira empresa 100% brasileira a se juntar à StopHateforProfit. As adesões mostram, na opinião de Alexandre Bessa, professor de Canais Digitais da pós-graduação da ESPM-SP, que o movimento de boicote das marcas às redes já começou no Brasil.
Caio Barsotti, presidente do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp), que reúne os principais anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação do país, afirma que é questão de dias para que uma grande marca brasileira anuncie sua decisão de deixar de investir em publicidade nas redes sociais como o Facebook, seguindo o exemplo do fenômeno americano. Para o dirigente, a regulamentação das redes sociais passa pela identificação dos usuários (algo retirado pelos senadores do texto final do texto-base do projeto sobre fake news em discussão no Congresso Nacional, por exemplo), por responsabilização das plataformas e conscientização das empresas anunciantes.
— Toda a vez que se faz um investimento, expõe-se uma marca ao consumidor. É preciso ter cuidado para que ela não seja associada a conteúdos que gerem afastamento da marca. Se gerar afastamento, o consumidor não vai querer comprar o produto que se tem para vender. E esse ativo, a marca, vai perdendo valor ao longo do tempo — argumenta.
Paulo Tonet Camargo, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert), concorda que, em se tratando do peso das marcas globais, em breve a campanha de boicote atingirá redes sociais no Brasil:
— Se por um lado gasta-se tempo e milhões de reais em publicidade para construir uma marca de credibilidade e reputação, por outro, poucos segundos (dentro da dinâmica de uma rede social e do vínculo da marca com o conteúdo inapropriado) podem ser suficientes para manchar a sua reputação.
Segundo ele, as marcas não podem — e as empresas, evidentemente, não querem — estar associadas a conteúdos de ódio, racistas ou que desinformem a população.
— No rádio e na televisão, por exemplo, a empresa (anunciante) tem a garantia de que sua marca não terá esse problema de estar associada a conteúdo indevido. As emissoras são responsáveis pelo conteúdo que divulgam, e seguem rigorosas regras impostas na legislação e de autorregulamentação publicitária. É importante, portanto, que avancemos na discussão sobre a corregulação dessas plataformas — diz.
A Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) afirmou, por meio de nota, que "em um momento onde a sociedade repele fake news e canais que alimentam o ódio e o racismo, as agências devem sempre buscar a união com os anunciantes visando associar marcas de prestígio a um ambiente (digital ou não) que valorize a ética, a transparência e o respeito". Sandra Martinelli, presidente-executiva da Associação Brasileira de Anunciantes (APA), afirma que a entidade repudia "toda e qualquer comunicação não transparente que propague informações distorcidas e discursos de ódio". E destaca que a entidade não interfere ou discute temas comerciais da relação dos anunciantes e suas contratações de mídia ou outros serviços.
Exemplos pelo mundo
Alemanha — Aprovou uma lei em 2017 que obriga as plataformas a tirar do ar conteúdo com discurso de ódio. A multa às gigantes pode chegar a 50 milhões de euros, caso descumpram o prazo repetidas vezes.
França — O país aprovou em junho legislação que inclui racismo, pornografia e outros tipos de conteúdo entre os que devem ser retirados das plataformas, além de discursos de ódio.
União Europeia — No ano passado, o bloco deu sinal verde a um pacote de reformas de direitos autorais na internet que visa responsabilizar juridicamente as plataformas por conteúdos divulgados. Cada país tem dois anos para implementar as novas regras em nível nacional. Em junho, a Comissão Europeia anunciou novas diretrizes para as empresas de tecnologia enviarem relatórios mensais sobre como estão lidando com o fluxo de desinformação a respeito do coronavírus.
Estados Unidos — Sede das principais empresas de internet, o país tem uma das legislações mais permissivas, baseadas na famosa Primeira Emenda, que assegura a liberdade de expressão. Uma lei de 1996, chamada de Lei da Decência das Comunicações, reassegura que a liberdade de expressão seja cumprida também na internet e isenta as plataformas de responsabilidade pelo que seus usuários publicam.
Brasil — Tramita no Senado e na Câmara o Projeto de Lei 3.063, de 2020, de autoria dos deputados Tabata Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES) e do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). A chamada lei das fake news, cujo texto-base foi aprovado no Senado na terça-feira (30), prevê que plataformas como Facebook, Twitter e Instagram deixem claro aos usuários por que apagaram as postagens e deem às pessoas a possibilidade de contestar quando um conteúdo for retirado. As redes sociais passam a ser obrigadas a identificar conteúdos impulsionados e publicitários, com identificação da conta responsável pela ação ou do anunciante. Publicidade do governo não poderá ser publicada em sites e perfis que promovam atos de incitação à violência contra pessoa ou grupo em razão de sua raça, gênero, orientação sexual, origem, religião ou preferência política. Agora, os senadores avaliam propostas em separado à matéria, que podem alterar o texto final. Após finalizada essa parte, o projeto será encaminhado para a Câmara dos Deputados.
Contrapontos
Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Facebook Brasil informou:
"Investimos bilhões de dólares todos os anos para manter nossa comunidade segura e trabalhamos continuamente com especialistas da sociedade civil para revisar e atualizar nossas políticas. Nos abrimos para uma auditoria de direitos civis e banimos 250 organizações supremacistas brancas do Facebook e Instagram. Os investimentos que fizemos em Inteligência Artificial nos possibilitam encontrar quase 90% do discurso de ódio proativamente, agindo sobre eles antes que um usuário nos denuncie, e um relatório recente da União Europeia apontou que o Facebook analisou mais denúncias de discurso de ódio em 24 horas do que o Twitter e o YouTube. Temos mais trabalho para fazer e continuaremos trabalhando com grupos de direitos civis, Garm (Global Alliance for Responsible Media) e outros especialistas para desenvolver ainda mais ferramentas, tecnologias e políticas para continuar essa luta".
Google e Twitter também foram procurados, mas não haviam enviado posicionamento ou atendido a solicitações de entrevista até o momento da publicação da reportagem.