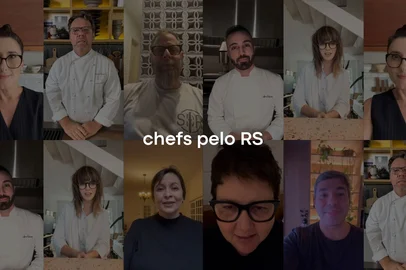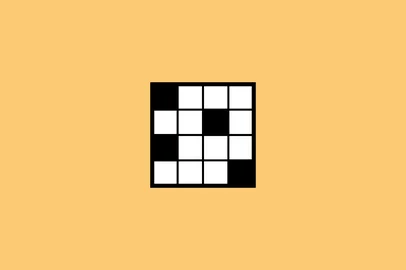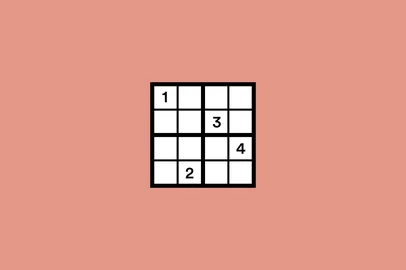*Texto por Luiz Américo Camargo, crítico gastronômico e autor do livro Pão Nosso
Quem observa o cenário atual da coquetelaria pode ter a impressão de que sempre foi assim, vibrante. Errado: na década de 1980, até mais, não era fácil achar um gim-tônica bem feito em São Paulo, por exemplo. Os limitadores: carência de matéria-prima adequada, de expertise, de demanda do público. Hoje, examinando o que se avançou, constato que nunca bebemos tão bem.
Fazendo uma rápida digressão, o que havia era basicamente a coquetelaria de perfil tradicional, restrita a alguns bares, restaurantes e hotéis. Lembremos que, até o começo dos anos 1990, os frequentadores de restaurantes pediam à mesa uísque, dry martini, caipirinha. Eis que abriu-se o mercado do vinho, com mais e melhores rótulos, e vários estabelecimentos aboliram os drinks, diante do interesse por tintos, brancos e afins.
Depois de uma recente redescoberta de destilados, licores e que tais, cada vez mais, a carta de vinhos convive com a de drinks (e com a de cervejas). Mais ainda: os restaurantes vêm tratando seus bares com capricho e autonomia. Servindo novos goles em simples balcões ou em ambientes à parte, chefs e restaurateurs perceberam que um bom coquetel atrai novos clientes e não entra em conflito com a venda de refeições.
Nesse quesito, destaco trabalhos como os da Casa do Porco, do Tuju e do Esquina Mocotó, em São Paulo. E, particularmente, o do Jiquitaia. Reconhecidos por sua comida brasileira urbana e autoral, os irmãos Marcelo e Nina Corrêa Bastos inauguraram um bar no mezanino da casa que ocupam, em SP. De novo, acertaram no tom. Em atmosfera cordial apresentam uma bem sacada seleção de bebidas e petiscos que vale a visita. Longe de roubar atenções da casa-mãe, o bar fez o contrário: segundo os proprietários, a novidade aumentou o movimento do jantar.