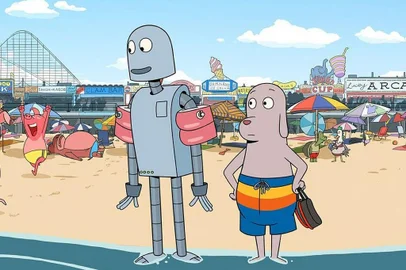Um grupo de ativistas indígenas e pesquisadores estava comemorando um aniversário, reunido ao redor de um pequeno fogareiro, quando seus integrantes notaram as chamas engolfando um prédio a mais de trinta metros de distância.
– É o museu pegando fogo! Acho que ainda dá para apagar jogando água – gritou José Urutau Guajajara, membro da tribo Tenetehára-Guajajara que passara mais de 10 anos pesquisando o patrimônio de seu povo nos arquivos do Museu Nacional.
Quando eles finalmente chegaram ao palacete centenário, sede do maior registro do mundo da cultura e história dos indígenas brasileiros, o incêndio já consumira o interior do prédio, sobre o qual se erguia uma densa coluna de fumaça. Duas vezes Guajajara tentou correr para dentro do edifício, mas foi contido pelos guardas. Depois, foram os amigos que o seguraram. Juntos, eles viram centenas de milhares de documentos, artefatos e obras de arte serem reduzidos a pó na noite de 2 de setembro.
Foi uma perda monumental para historiadores, arqueólogos e cientistas brasileiros, mas a destruição dos artefatos e documentos de pesquisa indígenas, incluindo relíquias de tribos consideradas extintas, representou um golpe pessoal para os descendentes dos primeiros habitantes do país, que há décadas lutam para preservar sua herança e as terras ancestrais.
– É como se fosse um novo genocídio, como se massacrassem todas essas comunidades indígenas de novo, porque era ali que nossa memória residia – resume Guajajara.
Para muitos brasileiros como ele, o desastre era uma tragédia anunciada.
De uns anos para cá, o Brasil se empenhou ao máximo para se apresentar ao mundo como um país progressista. Preparando-se para sediar a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, investiu bilhões em estádios de última geração, equipamentos esportivos e projetos públicos imponentes que o mostravam como uma nação avançada e capaz. Talvez nada ilustre melhor e mais claramente esse impulso de se apossar do futuro – quase sempre às custas do passado – como o contraste entre o Museu do Amanhã, construção futurista projetada por Santiago Calatrava, e outros locais históricos do Rio de Janeiro.
A criação do arquiteto espanhol, que dá a impressão de pairar como uma nave espacial branca e brilhante sobre a Baía da Guanabara, foi inaugurada em 2015, a um custo de US$ 59 milhões, com um orçamento anual de US$ 4 milhões. E fica a apenas alguns quarteirões de espaços cruciais para o entendimento das origens brasileiras: o porto, que já foi o mais movimentado comércio de escravos das Américas, e uma vala comum, onde os corpos dos escravos eram simplesmente despejados. Esses locais recebem pouca atenção e verba do governo; a área das docas, promovida pela Unesco a Patrimônio da Humanidade, está suja e abandonada.
Quando Guajajara e seus amigos viram o fogo no Museu Nacional, estavam reunidos no que restara do Museu do Índio, abandonado há décadas. Os bombeiros há muito tempo já tinham avisado que o risco de incêndio no prédio do Arquivo Nacional, ali perto, era imenso. Mas mesmo entre esses exemplos, a negligência com que era tratado o Museu Nacional foi a que mais doeu e revoltou os pesquisadores que trabalhavam ali sem as mínimas condições.
O subfinanciamento crônico resultou em uma fiação elétrica improvisada, infiltrações no telhado e cocô de morcego respingado nas paredes e prateleiras. Uma colônia de cupins forçou o fechamento de uma exposição sobre dinossauros no fim de 2017. Chegou ao ponto de não ter dinheiro para pagar o pessoal da limpeza, quando mais para instalar um sistema de combate a incêndio.

Para o historiador e antropólogo Antonio Carlos de Souza Lima, os políticos brasileiros sempre encararam a cultura como mercadoria, preferindo investir em áreas com potencial lucrativo.
– Eles veem a cultura como um negócio, e não como a alma deste país – lamenta.
A coleção de artefatos indígenas do Museu Nacional incluía 40 mil itens pertencentes a mais de cem grupos étnicos, entre eles peças delicadas recolhidas durante expedições a áreas amazônicas remotas nos séculos 19 e 20. De acordo com os pesquisadores, a máscara feita pela tribo tikuna que foi entregue de presente para Dom Pedro I provavelmente era a peça mais antiga; eles acreditam que ela tenha sido recolhida por cientistas bávaros em 1821.
Havia também um cocar feito por membros da tribo munduruku, exibido pela primeira vez em 1882. Talvez a perda mais grave para os pesquisadores de temas indígenas tenha sido a coleção do etnólogo alemão Curt Nimuendajú. Nascido Curt Unckel em Jena, em 1883, Nimuendajú foi adotado por membros da tribo guarani, no Estado de São Paulo, que lhe deram o novo nome, cujo significado é "aquele que cria seu próprio lugar".
Ele morreu entre os tikuna, em 1945, deixando para trás um verdadeiro tesouro em notas, cartas, diários de expedições e um mapa que criara um ano antes de sua morte, detalhando a localização e os idiomas dos grupos com que fora se encontrando.
– A cada ano ele fazia uma nova expedição. Foi o principal etnólogo do Brasil – revela João Pacheco, curador da mostra etnológica nos últimos 20 anos.
O mapa original foi copiado, e uma versão adaptada foi publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
– Mas havia outro, único, onde ele foi fazendo as correções. E esse se perdeu – diz Tânia Clemente, linguista do Museu Nacional.
A coleção também incluía gravações em áudio de líderes indígenas mortos há muitos anos, e registros escritos sobre línguas que há muito se extinguiram, incluindo o mura e o tupiniquim. Tais documentos representavam uma ligação preciosa com o passado para aqueles brasileiros que queriam descobrir ou entender melhor suas raízes indígenas. Nas últimas décadas, muitos foram desestimulados de fazê-lo, e alguns até proibidos.
Guajajara, que foi um dos primeiros pesquisadores a chegar ao museu enquanto o fogo ainda ardia, conta que chegou a apanhar de candeia na escola por falar ze'egté, a língua de seu povo.
– Pois só de sacanagem eu vou aprender e vou até usar para escrever – pensou, à época.
E concluiu o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), responsável pela administração do museu, em 2013, com uma tese escrita em ze'egté.
O Museu Nacional lutava para se manter financeiramente há várias décadas e já enfrentara outras calamidades, como a inundação que encharcou as preciosas múmias egípcias, em 1995. Houve também várias oportunidades perdidas, que poderiam ter permitido aos funcionários cuidar melhor da estrutura e tudo o que ela continha. A universidade e o Banco Mundial chegaram a discutir, nos anos 1990, a possibilidade de um financiamento, mas as negociações não deram em nada. Em 2014, o governo federal aprovou um pacote de US$ 8,6 milhões para modernizar as instalações, só que o dinheiro não foi desembolsado.
Nos últimos anos, a instituição resolveu pedir ajuda ao BNDES. E, depois de uma longa negociação, este ano o banco se comprometeu a custear uma série de melhorias no valor de US$ 5 milhões, que teria incluído um sistema de combate a incêndios.
As reformas estavam marcadas para começar no fim do ano.
Por Manuela Andreoni e Ernesto Londoño